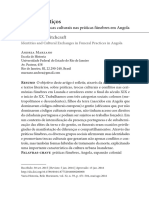Professional Documents
Culture Documents
Da - Doenca - A - Desordem - A Magia Na Umbanda
Uploaded by
Rafael Almeida LengruberOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Da - Doenca - A - Desordem - A Magia Na Umbanda
Uploaded by
Rafael Almeida LengruberCopyright:
Available Formats
DA DOENA DESORDEM
A Magia na Umbanda
BIBLIOTECA DE SADE E SOCIEDADE Vol. n. 10
Direo: Reinaldo Guimares
Conselho Editorial
Carlos Gentile de Mello Eduardo Azeredo Costa
Flesio Cordeiro
Madel T. Luz
Sergio Arouca
III
PAULA MONTERO
DA DOENA
DESORDEM
A MAGIA NA UMBANDA
graal
Iv
Copyright by Paula Montero
1.
a
Edio: 1985
Direitos adquiridos para a lngua portuguesa no Brasil por:
EDIES GRAAL LTDA.
Rua Hermenegildo de Barros, 31-A Gloria
20.241 Rio de Janeiro RJ Brasil
Atendemos pelo Reembolso Postal
Capa: Fernanda Gomes
Reviso: Henrique Tarnapolsky e Umberto Figueiredo Pinto
Diagramao e Prod. Grfica: Orlando Fernandes Composio:
Linoart Ltda.
Impresso no Brasil
Printed in Brazil
CI P- Br asi l . Cat al ogao - na - f ont e
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.
Montero, Paula.
Da doena a des or dem: a magi a na umbanda / Paula
Montero ; [apresentao por Candido Procpio Ferreira de
Camargo] . Rio de Janeiro : Edies Graal, 1985.
(Biblioteca de Sade e sociedade ; v. n. 10)
Bibliografia
1. Medicina mgica Brasil 2. Medicina e re-
ligio Brasil 3. Umbanda (Culto) I. Titulo II. Ti -
tulo: A Magia na umbanda III. Serie
CDD 615.8520981
215.90981 85-0488 299.60981
A Geiza
V
SUMARIO
APRESENTAO .................................................................................. IX
INTRODUO .......................................................................................... 1
1 O PROCESSO DE DESAGREGAO DAS TERAPUTICAS
TRADICIONAIS .............................................................................. 13
II O CAMPO DA SAUDE E O PODER DE CLASSE ....................... 65
1. A prtica mdica e o atendimento das camadas po-
pulares ............................................................................................ 75
2. A prtica mdica e a percepo popular da doena ............. 86
3. Medicina mgica e medicina oficial: o conflito de competncias
105
III A PERCEPO POPULAR DA DOENA E SUA REIN-
TERPRETAO RELIGIOSA .................................................... 117
1. Da doena a desordem ............................................................. 118
2. A cura mgica ........................................................................... 129
3. Da fraqueza do corpo a fora dos espritos ......................... 161
IV AS REPRESENTAES SIMBOLICAS DOS DEUSES E
O PROCESSO DA DEMANDA .................................................. 175
1. O espectro das cores e o jogo das foras: o branco e
o negro ......................................................................................... 180
2. O masculino e o feminino ....................................................... 204
3. O processo da demanda ........................................................... 231
CONCLUSOES ............................................................................... 253
BIBLIOGRAFIA GERAL ............................................................. 261
LITERATURA UMBANDISTA .................................................. 273
VII
APRESENTAO
O Brasil apresenta amplo espectro de terapias alternativas que
concorrem no tratamento de doenas e doentes. A composio deste
pluralismo teraputico decorre da peculiar histria social, econmica e
cultural do pais. Neste sentido, o arranjo das "medicinas" assume um
feitio prprio e pouco conhecido.
O livro de Paula Montero traz original e preciosa informao
sobre um significativo segmento das terapias alternativas oferecidas
aos brasileiros. Da doena a desordem constitui rigorosa analise
das prticas teraputicas da Umbanda e da cosmoviso que inspira
a sua interpretao etiolgica da ecloso de molstias.
Os estudiosos do que se poderia chamar de pluralismo
teraputico usam diversas designaes para indicar as outras
terapias, as que no so oficiais e nem consideradas cientficas.
Assim, expresses como "medicinas alternativas", "terapias
marginais", "medicina popular" e "medicina de Folk" sic)
empregadas em diferentes contextos sociais. Qualquer destas
expresses, inclusive a de "terapias religiosas", pressupe no
apenas o pluralismo teraputico, mas a existncia de um referencial
indispensvel para a configurao de uma outra medicina: a
medicina oficial. Realmente, a consti tuio e o reconhecimento
de uma medicina alternativa no poderiam se estabelecer sem sua
lgica alteridade em relao ao sistema da medicina oficial, de seu
saber e de sua prtica socialmente privilegiados.
Face aos caractersticos da Umbanda, aprofundou a autora as
noes de cultura popular, ideologia e relaes de poder. Ao estudar a
Umbanda opta por uma postura metodolgica bem adequada ao
feitio das terapias religiosas no Brasil. No cuidou, nem emprica,
nem metodologicamente, de procurar terapias que antroplogos e
socilogos consideram resqucios do rural e do passado, formas de
sobrevivncia fadadas a desaparecer com o processo de urbanizao e
desenvolvimento industrial. A hiptese central de seu livro, pelo
contrario, refere-se ao surgimento crescente de terapias que se
desenvolvem em reas metropolitanas e em cidades medias, afetando
amplas parcelas da populao. A elaborada interpretao das
molstias pela viso umbandista do mundo constitui o universo
privilegiado da observao e da rica analise antropolgica da
autora.
Conhecidamente existem, de modo especial no Brasil urbano,
outras matrizes de terapias religiosas que rivalizam e de fato
competem direta e duramente com a Umbanda como o Espiritis-
mo Kardecista, as seitas pentecostais, sem mencionar os inmeros
movimentos religiosos de origem oriental, especialmente japonesa,
como a Seicho-No-I e a Perfect Liberty. Mas, a analise da Umban-
da realizada em Da doena a desordem permitiu um avano terico
e metodolgico, quer na percepo das redefinies populares de
doena, quer na compreenso do complexo e cambiante re-
lacionamento com a legitimidade autoritria da medicina oficial.
Abre-se, assim, um caminho para a interpretao e eventual ava -
Baca das crescentes e criativas formas de terapias religiosas no pais.
A existncia de alguns estudos antropolgicos e sociolgicos
sobre Pentecostalismo, Umbanda e Espiritismo j traz
informaes sobre as etiologias das molstias e as terapias que
estas instituies religiosas oferecem. O interesse de cientistas
sociais a respeito da medicina religiosa decorreu da terapia oferecida
constituir um dos importantes fatores para a converso religiosa e
a manuteno da fidelidade dos seus adeptos.
Um dos mritos do trabalho de Paula Montero consiste na
clssica qualidade de saber formular perguntas teoricamente afina-
das e deixar as possveis respostas flurem ao sabor do questiona-
mento do material emprico. Uma das indagaes da pesquisa que
deu origem ao livro visa saber se a terapia religiosa em estudo
constitui sistema de atendimento teraputico, dotado de lgica interna
capaz de explicitar concepes sistemticas relativas a etiologia das
molstias e as prticas de seu tratamento. Se na medicina oficial, nos
ltimos dois sculos, desenvolveu-se realmente um sistema de
medicina, dotado de modelo formal de aprendizagem, alm do re-
conhecimento e controle pblico e corporativo at o exerccio do
monoplio legal da profisso, como se formariam os sistemas
teraputicos religiosos? U dos elementos essenciais do sistema da medi-
cina oficial diz respeito a sistemtica classificao das molstias.
Existiria algo de semelhante na terapia alternativa? As
interpretaes popularizadas da classificao das doenas passaria a
integrar o elenco de definies de molstias em terapias religiosas?
Como se formam os especialistas na terapia religiosa? Como se gera
legitimao interna e externa (relativa a sociedade inclusiva) da
competncia teraputica?
XI
Estudos realizados na Franca, na frica e nos Estados Unidos
indicam, como recurso de formalizao terica, a presena de certos
elementos constantes e homogneos que permitiriam contrastar a
medicina oficial com formas contemporneas de terapias alternati -
vas. Por hipteses, essas interpretaes poderiam ser consideradas em
um estudo da terapia religiosa em Rio Paulo.
Em essncia, parte-se da concepo de historiadores que atri -
buem a Hipcrates a formulao bsica para a constituio da medi-
cina oficial no Ocidente. O pensador grego teria uma viso huma-
nista (no h diferenas entre os homens) e as molstias seriam
especificamente relativas a determinados rgos do corpo humano.
Embora circunscrevendo, para fins de contraste, a complexa viso
hipocratica a cura de rgos de indivduos iguais, percebe-se como a
verso microbiana da etiologia das molstias, formulada por Pas -
teur, veio dar continuidade e trazer renovada coerncia e funda-
mento a medicina que cuida de sintomas, molstias e rgos.
Estudiosos de medicinas alternativas chamam a ateno para
uma semelhana que seria comum as terapias alternativas, em con-
traste com a medicina oficial: enquanto estas explicam o "como"
das molstias, as primeiras procuram responder ao "por que" das
enfermidades. Se o pensamento positivista predominante nas cincias
contemporneas tendeu a eliminar a indagao do "por que", em
muitos casos a psicologia humana no abandonou a necessidade de
tentar construir um sentido para a condio do homem.
Eventualmente, inerente as cosmovises da religio em estudo,
persiste a disposio de explicar o sentido da vida, respondendo a
um "por que" que de algum modo justifica as vicissitudes da
situao de cada pessoa.
Neste contexto, ocorre lembrar o conceito de teodiceia em
Max Weber, categoria essencial na compreenso dos fenmenos
religiosos e que serve de ligao te6rica para as interpretaes
etiolgicas das seitas e cultos a serem estudados no contexto brasi -
leiro. Segundo Max Weber, as religies "justificam" a vida concreta
dos indivduos em cada sociedade. E esta vida deve ser "justificada",
pois o mal esta presente na sorte dos homens. Entre os males que
afligem a condio humana esto as doenas, que devem ser expli -
cadas e justificadas por vrios modelos teolgicos que do conta da
origem e das razes que levam as situaes consideradas
patolgicas. Desta forma, as etiologias religiosas dependem das
cosmovises que fundamentam as teodiceias das seitas e cultos.
Naturalmente, essas teodiceias podem ser extremamente diferentes,
como as de inspirao esprita e as da tradio pentecostal, e
assumindo uma forma muito pr6pria e peculiar as ligadas a
XII
formulao umbandista.
Outras questes terico-metodolgicas pertinentes tem sido
levantadas, ainda que de modo nem sempre conchisivo, por pesquisa-
dores da realidade religiosa nacional com respeito as possveis
diferenas nos padres de relacionamento de mdicos e terapeutas
religiosos com a clientela. Diversidades de situao de classe social
ou de status explicariam divergentes modalidades de
relacionamento social e tcnicas diversas de abordagem
teraputica entre os profissionais da medicina os das terapias
religiosas?
Se verdade que diferenas de classe social parecem evidentes
nas relaes entre os profissionais da medicina oficial e os clientes
das camadas de baixa renda, afetando a natureza deste relaciona-
mento, no se h. de ignorar o status privilegiado da liderana reli -
giosa da Umbanda que soma a seu saber mgico- teraputico o poder
dogmtico de sua inconteste e densa sacralidade.
O trabalho de Paula Montero deve estimular o desenvolvi -
mento de outros estudos que revelem a dimenso e o sentido da
importante prtica das terapias religiosas no Brasil. Alem do alcance
terico das analises sociolgicas e antropolgicas sobre o terra, no se
pode esquecer que pouco se sabe sobre o impacto das terapias
alternativas na sade da populao.
Candido Procpio Ferreira de Camargo
13
INTRODUO
QUE SENTIDO pode ter a cura mgica numa sociedade
como a nossa que erigiu a razo como critrio de verdade e que
delegou a cincia e a tcnica a funo de orientar as prticas mais
corriqueiras? Duplamente estigmatizada, por seu carter de classe e
por seu distanciamento com relao as verdades produzidas pela
cincia, a magia no deveria merecer a ateno das pessoas preo-
cupadas em investigar a doena e a cura. E no entanto, no momento
em que a Medicina atinge um grande nvel de sofisticao
tecno16gica, vemos proliferar nos centros urbanos do pais a procura
de solues mgicas para as doenas. A esperana de cura leva
semanalmente pequenas multides as portas dos terreiros de
umbanda e dos centros kardecistas. O "dom da cura" o segundo
dom mais importante das seitas protestantes. A esperana no
"milagre" tambm trao caracterstico do catolicismo popular.
Como compreender essa inquietante infiltrao e permanncia da
magia no interior do mundo urbano e tecnolgico?
Se deixarmos de lado a soluo demasiado fcil de atribuir a
essas crenas a etiqueta preconceituosa da "crendice" etiqueta que
evita seu reconhecimento ao descarta-las como subproduto da falta
de instruo , somos obrigados a descobrir, por trs dessa
aparente irracionalidade, um sistema lgico de conhecimento. En-
tretanto, como possvel conceber que as camadas populares
que se definem essencialmente pela relao de excluso ao se en-
contrarem afastadas da propriedade dos meios de produo por um
lado e privadas, por outro, dos instrumentos de apropriao simblica
veiculados principalmente pela escola sejam capazes de produzir
um sistema cultural prprio e relativamente autnomo no interior do
14
sistema cultural hegemnico?
Esse , a nosso ver, o grande debate que tem agitado os estu-
diosos da chamada "cultura popular". Para alguns, como por exem-
plo o folclorista italiano Sartriani, as classes populares seriam pro-
dutoras de uma cultura original e autnoma que se oporia como
um todo a cultura produzida pelas elites. Desse modo ter-se-ia, ao
lado dos conflitos decorrentes das posies de classe no mundo da
produo, conflitos de natureza "ideolgica", em que duas culturas
distintas e fundamentalmente antagnicas entrariam em choque:
uma, tentando ampliar o mbito de sua dominao; a outra, ten-
tando resistir e neutralizar essa dominado.
Dois pressupostos fundamentais sustentam essa abordagem do
fen6meno da cultura popular: a) cada classe seria produtora de um
universo cultural especifico; b) a luta ideolgica supe o conflito de
duas formas culturais perfeitamente homogneas e coesas. E mais
ainda, a cultura das classes economicamente desfavorecidas seria
"imune" a "infiltrao" ideolgica das elites.
Sartriani concebe o folclore como uma subcultura produzida
pelas classes subalternas numa sociedade dividida em classes: "No
podemos falar de uma cultura nica para dita sociedade porque
isso subentenderia uma substancial homogeneidade dos diferentes
elementos, na realidade profundamente diferenciados, mas deve -
mos distinguir mais culturas ou subculturas."' Embora o autor
reconhea a existncia de uma pluralidade de culturas populares
(em contraposio a cultura hegemnica que seria nica) e, ao
cham-las de subculturas, as compreenda como um subsistema articulado
a um sistema mais abrangente, ao analisar a natureza dessa produo
cultural Sartriani passa a consider-la como essencial mente
distinta e antagnica a cultura dominante. Para ele a resistncia
que as culturas dominadas oporiam a dominante teria o carter
de uma "recusa cultural", de uma "resposta negativa das classes
subalternas ao processo de aculturao tentado sobre elas". O
"conflito entre culturas" se fundaria por conseguinte, para este
autor, na "recusa das classes subalternas de serem absorvidas em
um sistema cultural que as predestina ao papel de vitimas".2
O conflito entre as classes reproduzido no texto de Sartriani
numa linguagem culturalista a diviso da sociedade em duas
classes antagnicas corresponde um movimento de
aculturao/resistncia que coloca face a face uma cultura
dominante e uma cultura popular.
No entanto, quando se tenta definir a natureza e o contedo desta
2
15
cultura dominada, percebe-se que, longe de constituir um universo "puro"
e perfeitamente antagnico ao sistema dominante, a "cultura
popular" se encontra profundamente penetrada por este sistema de
valores que so justamente assimilados e retrabalhados por serem
valores legtimos e dominantes.
Assim, no possvel pensar a "cultura popular" como um
sistema homogneo capaz de opor-se enquanto tal a cultura domi -
nante. Embora Sartriani parta da noo gramsciana de hegemona
para analisar o folclore como uma "cultura de conte stao" o
que o faz pressupor a existncia de duas culturas, uma hegemnica e
outra dominada, efeito da diviso da sociedade em classes , no
se pode pensar esse conflito enquanto "embate entre culturas".
Para Gramsci preciso analisar a cultura popular situando-a
em contraposio a cultura hegemnica. Mas essa concepo de
mundo, pelo seu carter heterclito e asistemtico, incapaz de
opor-se como um todo a cultura hegemnica,
E nesse sentido que autores como Pierre Bourdieu pem entre
parnteses o carter "contestador" da cultura popular para
abord-la sob o prisma da conservao, isto , pelo que nela existe
de reproduo e assimilao dos valores dominantes.
Para Bourdieu, no se pode afirmar que as camadas populares
sejam capazes de produzir uma cultura prpria e fundamentalmente
distinta daquela produzida pelas elites. Sua condio de classe faz
com que seu estilo de vida se defina essencialmente pelo carter de
privao: o estilo de vida das classes populares, observa Bour dieu,
"deve suas caractersticas fundamentais, inclusive aquelas que podem
parecer como sendo as mais positivas, ao fato de que representa
uma forma de adaptao a posio ocupada na estrutura social".
3
A cultura produzida por esses grupos encerra sempre, nem que seja
do ponto de vista da falta sentimento de incapacidade, de
ignorncia, de fracasso, de incompetncia o reconhecimento dos
valores dominantes. O que separa o estilo de vida das diferentes
classes no tanto a originalidade dos agenciamentos dos diversos
elementos culturais, mas sobretudo a disparidade dos meios culturais e
econmicos que cada classe tem a sua disposio para realizar a
"inteno objetiva de seu estilo de vida". Essa privao da
capacidade de decidir e escolher seus prprios fins, caracterstica
das relaes que as classes populares mantm com a cultura
dominante, observa Bourdieu, sem dvida a forma mais sutil da
alienao cultural.
3
16
Como exemplo desse mimetismo, dessa interiorizao progres-
siva dos valores hegemnicos pelas camadas populares, o autor aponta os
hbitos de consumo tpicos desses grupos: o freqente consumo de
produtos substitutivos aos artigos de luxo cidra no lugar de
champanhe, corvim no lugar de couro, etc. deixa entrever o fato
de que o gosto popular delega ao gosto dominante a capacidade de
definir os bens dignos de serem consumidos.
A abordagem de Bourdieu, que nos parece interessante ao
tentar restabelecer as relaes constantes que ligam o universo
cultural das diferentes camadas sociais a sua posio na estrutura
social , ao mesmo tempo, bastante limitada, pois procura fazer
uma reflexo sobre as manifestaes culturais dos diversos grupos
partindo de uma anlise do consumo cultural desses grupos e no de
seus plos produtores de cultura. Por outro lado, tambm
evidente que essa abordagem que se aplica especificamente a
uma sociedade ps-industrial como a francesa encontra ainda
seus limites quando se tenta, a partir dela, compreender a situao
das classes populares num pais como o nosso. Em primeiro lugar,
porque a defasagem econmico - cultural entre as classes , no nosso
caso, muito major, o que dificulta consideravelmente a
"apropriao", ou o acesso, pelas classes populares, aos bens
culturais ou materiais considerados legtimos pelas classes
dominantes, ainda que essa "apropriado" se de sob uma forma
"desvirtuada" ou "degradada". Em segundo lugar, porque aquilo
que Bourdieu chama de "cultura popular" caracteriza mais o
comportamento econmico cultural de nossas classes medias urbanas
que tiveram um acesso relativo a escola e dispem de um certo
poder aquisitivo do que o estilo de vida das classes
economicamente mais desfavorecidas, como o proletariado. O
padro de consumo das camadas medias se caracteriza pela
aquisio de produtos que levam o estigma da "diferena" (do mau
gosto) ao se limitarem a imitar os produtos anlogos da cultura
hegemnica, sem compartilhar a mesma solidez ou perfeio
tcnica, enquanto que o padro de consumo das camadas populares
esta to distanciado do grupo hegem6nico que no se pode falar
neste caso de uma "ma" reinterpretaro das regras pr6prias ao
c6digo dominante. No entanto no se pode deixar de observar que, na
medida em que esses grupos vo sendo progressivamente integrados ao
mercado de consumo dos bens culturais de massa, novamente se
recoloca, para eles, o problema da "imposio" da esttica
17
dominante. Ainda que do ponto de vista econmico muitos dos
produtos "impostos" lhes sejam inacessveis, certo que a televiso
desempenha um importante papel na difuso de um estilo de vida tpico
das classes dominantes.
Quais as conseqncias dessa "imposio" para a conformao do
"gosto popular" um problema ainda em aberto, que somente novas
pesquisas podero elucidar.
evidente que na analise da produo cultural dos grupos
religiosos como os umbandistas nos deparamos constantemente com
essa questo da "reproduo degradada" da cultura dominante.
Veremos adiante de que maneira o pensamento mgico - teraputico
incorpora, ao reconhecer como legitima a definio medes da
doena, elementos da Medicina oficial. No entanto, embora esteja-
mos de acordo com Bourdieu quando afirma que as manifestaes
culturais das camadas populares so const ant emente penetradas
pelos valores dominantes, parece-nos que a variedade e complexi -
dade dessas prticas nos impede de encerra-las nos estreitos limites
propostos pela ptica da "reproduo" pura e simples. Se por um
lado a imagem dualista e ingnua de duas culturas antagnicas em
constante luta no consegue dar conta da natureza das relaes
ideolgicas entre os diferentes grupos sociais, por outro, afirmar
que a cultura das classes subalternas nada mais do que a
"reproduo degradada" da cultura dominante no nos permite
apreender o que essas produes culturais tem de "positivo", de
novo e de original com relao a cultura hegemnica. O conceito
de "reproduo" pressupe um processo de obscurecimento da
conscincia das classes populares na medida em que elas aceitam as
leis dominantes como se fossem leis universais. A opresso aceita,
introjetada, tornaria esses grupos sociais incapazes de perceber o
jogo de foras que constitui a sociedade envolvente e,
consequentemente, de se opor a validez dessas pretendidas "leis
naturais", localizando para si seus verdadeiros interesses. Nosso
trabalho procura demonstrar os limites dessa colocao ao analisar a
lgica da produo do discurso popular sobre a doena.
A idia central que orienta nossa abordagem das
representaes populares da doena a de que as produes
culturais das classes subalternas tido se opem como um todo coerente a
cultura dominante, posto que no constituem sistemas simblicos
autnomos, inteiramente independentes, na sua elaborao, das leis
que regem a produo da cultura hegemnica. Parece-nos, ao
contrario, que as representaes populares se elaboram tendo como
referencia os parmetros do discurso dominante e procurando tirar partido,
5
18
na tentativa de criar um espao prprio, das mesmas leis que
constituem aquele discurso. A capacidade de "resistncia" do dis-
curso dominado no reside tanto na natureza da "oposio" ou da
inverso que ele opera com relao ao discurso oficial, mas na sua
possibilidade de preencher os "espaos vazios" deste discurso, in-
vertendo-lhe as regras do jogo e furtando-se ao seu sentido. Eis a
grande ambigidade que caracteriza a cultura popular: o que f az
sua fraqueza a fragmentao do discurso, a no- universalidade de
sua conscincia, a absoro dos valores dominantes o que
define sua fora; porque ela particular e fragmentada, a
produo discursiva e as prticas dominadas no so simplesmente
reprodutoras dos valores hegemnicos. Porque convive com as
contradies no pr6prio discurso ideolgico que as nega, porque
no capaz de opor-se ao jogo dominante, a cultura popular acei ta-
o para melhor corrompe-lo. E esse jogo defecou de assimilao
oposio que nossa analise da medicina popular pretende por em
evidencia ao esmiuar seus caminhos e descaminhos, ao acompa-
nhar seus meandros, ao reforar seus matizes.
Ao mesmo tempo que evitamos o dualismo, procuramos
reconsiderar a perspectiva clssica, e no mais colocar a questo
da "cultura popular" em termos de sua alienao, isto , da
verdade ou falsidade de seus contedos. Para nos a magia constitui-
se num sistema simblico que produz um conhecimento sobre o
mundo, isto e, lhe atribui significados. Atravs dessa rede
simblica de sentidos possvel pensar o mundo e certas prticas
sociais.* O problema que para nos se col oca, portanto, o de
saber em que medida e de que maneira esse sistema simblico se
articula com os conflitos sociais, os exprime e os modifica. Pensar
que o fenmeno mgico uma simples mascara que esconde os
conflitos sociais fundamentais escamotear a possibilidade de
perceber como o jogo de interesses se inscreve, em sua diversidade e
com suas contradies.
* "Evidentemente as relaes sociais no revivem de maneira
totalmente `adequada' os sentidos propostos pelo pensamento religioso. Ha.
certamente tenses, represses e incoerncias nessa adequao. Nem a
religio nem as ideologias polticas realizam essa imanncia do sentido, isto ,
essa presena permanente do sentido em que todos os momentos da vida o
nascimento, a criao, a sexualidade, a morte, se transpem diretamente em
experincias significantes ( ). Mas elas se esforaro, sem o conseguir
plenamente, por realizar essa adequao entre experincia vivida e significados."
4tradies, na prpria teia desse discurso. Salinas portanto do ponto de vista
da alienao para nos questionarmos sobre a capacidade transformadora das
prticas mgico-religiosas.
19
Gramsci foi um dos autores que, no interior da tradio mar-
xista, mais claramente colocou a potencialidade transformadora do
folclore e do pensamento popular.
Segundo o pensamento gramsciano, a cultura popular
constituda por um aglomerado desarticulado e incoerente de
estratificaes culturais passadas e elementos disparatados da
cultura hegemni ca. Enquanto ele e conser vador e acrtico,
pois "se o povo nada mais do que o conjunto das classes
subalternas", da resulta que "o povo no pode ter concepes
elaboradas, sistemticas, politicamente organizadas e centralizadas
em seu desenvolvimento, ainda que este seja contraditrio".
5
Com
efeito, a elaborao, a sistematicidade e a centralizao so
expresses de uma posio hegemnica dentro da sociedade e isto
exatamente aquilo que falta as classes subalternas. Como
possvel portanto pensar esta concepo de mundo enquanto
transformadora da sociedade?
Gramsci faz aqui uma inverso dialtica em seu pensamento.
Contrariamente a Bourdieu, para quem a posio subalterna das
classes populares somente poderia corresponder uma cultura du-
plamente alienada pelo seu contedo e funo Gramsci afir ma
que, exatamente pelo fato de ser um pensamento especifico do povo,
ele difere das concepes oficiais do mundo e entra em contradio
com elas (que por sua vez tambm entram em contradio e em
concorrncia com essa cultura folclrica). Exatamente por serem
"
um reflexo das condies de vida de um povo", as opinies e as
crenas, longe de serem simples dejetos degradados das
concepes dominantes, tem uma dinmica prpria que se renova
no confronto espontneo dos modos de ser das diferentes classes.'
E preciso distinguir, escreve Gramsci, "as camadas (de cultura)
fossilizadas, que refletem condies de vida passadas e que so ento
conservadoras e reacionrias, das que so uma serie de inovaes,
muitas vezes criadoras e progressistas, dominadas espontaneamente
pelas formas e condies de vida de seu processo de desenvolvi -
mento e que esto em contradio, ou so simplesmente diferentes
da moral das camadas dirigentes".7
Para Gramsci, o senso comum deve ser recuperado critica -
mente uma vez que ele corresponde, espontaneamente, as condies de
vida reais do homem comum.
8
"O homem ativo de massa, que atua
praticamente", observa Gramsci, "tem duas conscincias tericas
(ou uma conscincia contraditria): uma implcita na sua ao, e
que realmente o une a todos os seus colaboradores na transf ormao
20
prtica da realidade, e outra superficialmente explicita ou verbal,
que ele herdou do passado e acolheu sem cr itica. " Nesse
sentido o folclore, viso de mundo das classes subalternas, adquire
um valor poltico inesperado: a "cultura popular", porque mais
prxima das condies de existncia dos grupos populares,
comporta uma "serie de inovaes, frequentemente criadoras e
progressistas, espontaneamente determinadas por formas e
condies de vida em processo de desenvolvimento, e que esto em
contradio (ou so apenas diferentes) com a moral dos estratos
dirigentes".
1
Gramsci recupera, portanto, o aspecto transformador
do "folclore" por detrs das sobrevivncias culturais fossilizadas
de perodos anteriores. Por outro lado, a questa da origem da
cultura popular deixa de ser, para ele, um problema pertinente, posto
que, produzida pelas classes dominantes e introjetada pelas classes
subalternas, ou produzida pelos prprios grupos dominados, o que
importa na "cultura popular" fazer dela um todo organic, capaz
de tornar-se uma viso de mundo homognea.
Comportando ao mesmo tempo aspectos inovadores e fossili -
zados, a cultura popular no , pois, estruturalmente, nem conser -
vadora nem progressista sua funo socio-politica varia segundo as
conchegues hist6ricas. E preciso criar um movimento poltico geral
capaz de organizar e centralizar as classes subalternas para que o
folclore seja "superado" por uma concepo de mundo mais
abrangente, capaz de fundar uma nova hegemonia. Somente a
prtica poltica revolucionaria a capaz de libertar o que h. de
transformador na cultura popular e fazer dela o cimento de uma
nova cultura.
As colocaes gramscianas nos oferecem subsdios importantes
para a analise do problema que aqui nos interessa: o das
representaes religiosas e populares das doenas. Nosso
propsito analisar neste trabalho as produes simblicas das
classes subalternas na medida em que elas encerram o que
Gramsci chamaria de "bom senso". Se por um lado a cultura
popular, e particular mente as religies populares, constituem um
sistema mais ou menos heterclito de conhecimento pelas prprias
condies sociais em que este conhecimento se produz por outro
elas encerram uma certa dose de "bom senso", justamente por serem
capazes de exprimir as contradies e conflitos presentes nas
condies em que foram engendradas.
"Em que reside exatamente o valor do que se costuma chamar
de `senso comum' ou ' bom senso' ? No apenas no fato de que,
21
ainda que implicitamente, o senso comum empregue o principio de
causalidade, mas no fato muito mais limitado de que, em uma
serie de juzos, o senso comum identifique a causa exata, simples e
imediata, no se deixando desviar por fantasmagorias e obscuri -
dades metafsicas, pseudoprofundas, pseudocientficas." 11
O "bom senso" subjacente a este sistema popular de conheci-
mento determinado pelas pr6prias condies de sua produo as
mesmas condies objetivas que fazem dele um sistema empr ico
e sistemtico, o tornam capaz de exprimir de maneira mais
adequada a natureza da organizao social em que os grupos po-
pulares esto inseridos.
A partir dessa dose de "bom senso" esse universo de conhe-
cimento capaz de resistir ou opor -se ao sistema dominante, ou
simplesmente "ser outro", diferente dele. 1 exatamente esse movi -
mento que nos interessa analisar neste trabal ho: de que maneira
esse discurso dominado se ope, incorpora, modifica, resiste ou
difere do discurso oficial ao exprimir as condies sociais que o
engendram. Entretanto, como j dissemos acima, os produtos
ideolgicos das classes subalternas na
-
o se opem como um todo ao
discurso oficial, mas so, ao contrario, profundamente penetrados
por ele. Assim, no simplesmente em seu contedo especifico
que o discurso dominado pode nos interessar, mas sobretudo na
maneira como ele posto em prtica. A resistncia a uma ordem
estabelecida se encontra no tanto na especificidade dos conte6-
dos populares, mas sobretudo na maneira como esses contedos so
utilizados. E no espao aberto pelo prprio discurso dominante
que se inscreve a "oposio" a esse discurso. Na prpria prtica que
se estabelece a partir do universo simblico oficial abre-se a
possibilidade de "burlar" ou subtrair -se a fatalidade da ordem
inscrita nele. "Um uso popular da religio", observa Michel de
Certeau, "modifica seu funcionamento. Uma maneira de falar essa
linguagem recebida a transforma em um canto de resistncia." 12
Em sua analise do catolicismo popular em Pernambuco este autor
pe em evidencia o fato de que, apesar de empregarem um sistema
que no lhes prprio o catolicismo oficial os crentes "ru-
rais" abrem, ao colocarem em prtica esse discurso, a possibilidade
de contestar a razo das hierarquias de poder e de saber.
13
Nesse
jogo ideolgico entre foras desiguais, inscrevem-se as "trapaas", as
maneiras de burlar as regras dadas, definem-se as manipulaes e
estrat6gias capazes de abrir um espao novo, resistente a
assimilao.
Enfim, no no confronto dos discursos que se da a
22
resistncia do dominado, mas na maneira pela qual este capaz de
confundir o jogo do outro, j ogando o jogo do outro, isto ,
jogando no espao institudo pelo outro. O que caracteriza portanto a
produo ideolgica dos grupos subalternos essa atividade sutil e
tenaz que, na falta de um jogo inteiramente pr6prio, improvisa no
interior de um sistema de foras definidas de antemo. preciso
recriar opacidade e ambigidade, recantos de sombra, no universo da
transparncia tecnocrtica, nos prprios labirintos do poder, observa
De Certeau.
O que se prope neste trabalho e portanto a anlise desses
mecanismos que, no interior dos limites colocados pela cultura do-
minante, agem no sentido de subvert-la. O discurso da doena
elaborado pelas religies populares se constri no interior e a partir
dos balizamentos colocados pelo discurso oficial; ele exprime assim
as contradies objetivas que encerram a sua produc5o. Nossa inteno
por em evidencia as ambigidades desse discurso e determinar a
natureza das relaes que ele estabelece com o discurso dominante. Pois
somente a partir dessa relao que e possvel apreender a
capacidade transformadora dessas produes simblicas.
Evidentemente no nos enganamos quanto a possibilidade trans-
formadora das prticas populares. Sabemos que, sem condies reais
que lhe permitam uma atuao poltica efetiva que tornem essas
crenas um todo coerente capaz de "cimentar uma nova
hegemonia", essa concepo de mundo se encerra nas fronteiras
do "vivido", no sentido de que no consegue extrapolar os
limites da compreenso individualizada das contradies.
Cabe a nos, talvez, pelo nosso olhar, que o olhar daquele
que v de fora, tentar recuperar os elementos transformadores
e dar-lhes uma coeso que poder contribuir, quem sabe, para o
surgimento desta "nova cultura das grandes massas populares"."
No queremos pecar pela ambio de sermos os condutores das
massas populares, mas achamos fundamental pautar nossa analise
pela postura intelectual sugerida por Gramsci: "A organicidade de
pensamento e a solidez cultural poderiam conseguir-se somente se entre os
intelectuais e os simples houvesse existido a mesma uni dade que
deve se dar entre a teoria e a prtica, se os intelectuais tivessem
sido intelectuais organicamente pertencentes a essas massas, se
tivessem elaborado e dado coerncia aos princpios e problemas que
estes se colocam com sua atividade." 15
Gostaramos de contribuir, como uma gota em um oceano,
para o avano dessa interminvel tarefa.
23
NOTAS
1. SARTRIANI, E., Antropologia cultural: analisis de la cultura subalterna,
Buenos Aires. Ed. Galerna. 1975, p. 52.
2. Idem, p. 82.
3. BOURDIEU, Pierre, "Gouts de Classe et Style de Vie", in Actes de la
Recherche en Science Sociale, n. 5, outubro de 1976, Paris.
4. ANSART, P. Ideologias, conflitos e poder, Rio de Janeiro, Zahar, 1978,
p. 13.
5. GRAMSCI, A., El materialismo histrico y la filosofia de Benedetto Croce,
Buenos Aires, Nueva Visin, 1973, p. 216. Traduo brasileira: Concepo
dialtica da histria, Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1978.
6. Idem, p. 219.
7. Idem, p. 217.
8. CIRESE, M., "Conception du Monde, Philosophie Spontane, Folclore", in
"Gramsci et Mtat", Revue Dialectique Special, n. 4-5, p. 90.
9. GRAMSCI, A., op. cit., p. 20.
10. GRAMSCI, A., Literatura e vida nacional, Rio de Janeiro, Civilizao
Brasileira, 1968, p. 85.
11. GRAMSCI, A., op. cit., p. 35.
12. CERTEAU, Michel de, "La Culture de l'Ordinaire", Paris, Esprit, outubro
de 1978, p. 18.
13. Idem, p. 17.
14. GRAMSCI, A., op. cit., p. 218.
15. Idem.
I
O PROCESSO DE
DESAGREGAO
DAS TERAPRUTICAS
TRADICIONAIS
SE PARTIMOS da premi ssa de que no se pode com-
preender o fenmeno da medicina popular sem inseri -lo no bojo
das relaes de fora que a opem a medicina hegemnica, e
preciso tentar apreender, por um lado, as transformaes histricas
que levaram a constituio da medicina universitria como
medicina hegemnica, e de que maneira, por outro, essas
transformaes ampliaram ou restringiram o espao de atuao da
medicina popular. Dito de outro modo: se a medicina popular age e
existe enquanto tal nos interstcios do campo da medicina oficial,
no processo hist6rico da transformado deste campo que se pode
compreender a natureza e o sentido das prticas teraputicas
subalternas. Os avatares da Histria da sade no Brasil pem em
evidencia as condies objetivas nas quais se desenrola esse jogo
de foras em que noes concorrentes de sade e de prticas
teraputicas disputam legitimidade social e reconhecimento hegemnico.
Tentemos pois compreender, numa r6pida retrospectiva hist6-
rica, de que maneira a medicina universitria se constitui em me-
dicina hegemnica, e de que maneira se transforma, nesse pro -
cesso, o espao social dentro do qual at ento atuara a medicina
popular, transformando-se, em conseqncia, a prpria natureza
25
desta medicina. Durante os trs primeiros sculos da Histria
brasileira as prticas teraputicas populares sntese de influencias
heterogneas, em que se misturavam elementos das culturas negras
e indgenas, por um lado, e da tradio crista, por outro eram
exercidas de maneira amplamente hegemnica com relao a
medicina de origem europia. Com efeito, muitas vezes garrafadas
e benzeduras eram preferidas e gozavam de maior prestigio social
do que as sangrias e ventosas aplicadas pelos barbeiros. "E melhor
tratar-se a gente com um tapuia do serto que observa com mais
desembaraado instinto, do que com um mdico de Lisboa", observa
o bispo do Para, Dom Frei Caetano Brando. ' Osvaldo Cabral
nos d outro exemplo dessa preferncia quando em pleno sculo XVIII
povo da vila de So Francisco obrigou sua Cmara a indeferir
requerimento de um mdico que ali pretendia exercer o oficio de
licenciado em cirurgia: "Tinha 'este, do que afirmava, carta de
`proviso de cirurgio para curar enfermos', e porque na vila
havia pessoas a que o povo chamava `curiosos' e 'entrometidos (sic)
a curar ' , propunha-se a clinicar ali, tanto mais por no terem
essas pessoas (os curiosos) jurisdio para isso, como tambm pelos
fracassos que os ditos curiosos tem tido, como grandes danos prejuzos
que tem padecido os enfermos, no menos que pagando al guns com
sua mesma vi da, por causa dos er r os dos cur i o sos"( ). No
entanto "acudiu o povo a Cmara ao conhecer o re querimento
deste Manoel de Oliveira Sercal e, interpelado pelo juiz ordinrio,
declarou, num desmentido categrico as alegaes do peticionrio,
que no queria cirurgio que o curasse, nem o supli cante Manoel
de Oliveira Sercal, nem qualquer outro, desejando somente se
curar e governar na forma que at o presente tinha feito e assim o
queria fazer em diante".2
A hegemonia das prticas populares durante esse perodo po-
de ser em parte explicada pela existncia de um nmero extrema-
mente reduzido de profissionais formados na cincia hipocratica
que exerciam sua arte em territrio brasileiro. A inexistncia de
escolas de Medicina no Brasil, cuja criao era contraria, at a
vinda da famlia real em 1808, aos interesses da Coroa portuguesa,
obrigava aqueles que pretendessem aqui exercer essa profis so a
formar-se em escolas europias, como a de Coimbra. At o sculo
XI X, o nmero de mdicos diplomados e portanto mnimo, no
chegando, Segundo os dados obtidos por R. Machado, em nenhum
momento, durante os sculos XVII e XVIII, a dez profissionais.3
O Rio de Janeiro, em 1789, tinha apenas quatro fsicos *;
26
cinco anos mais tarde, este nmero se eleva para nove.
4
Na capitania
do Esprito Santo, segundo Maria Stella de Novaes, nenhum
mdico residiu ou praticou medicina at 1813. Somente em 1886
chega a Vitria a primeira parteira diplomada: a Sra. Margarida
Zanotelli, que passa a exercer oficialmente as funes at ento
reservadas as curiosas.
s
Durante os sculos XVI e XVII os fsicos
diplomados em exerccio no Brasil concentravam-se
principalmente nos centros urbanos. Em Olinda, por exemplo,
importante vila do sculo XVI onde residiam senhores de
engenho, dizimeiros, licenciados em leis e ricos mercadores, apenas
um profissional ali exercia a medicina e a cirurgia ao lado de cinco
ou seis barbeiros. O quadro no mui t o di st i nto doi s sculos
mai s t arde quando, segundo dados deste mesmo autor, na cidade
de Recife apenas trs ou quatro profissionais formados ali
exerciam o seu oficio. No mesmo perodo, nove fsicos e 25
cirurgies praticavam a medicina no Rio de Janeiro.
6
O reduzido
numero de profissionais licenciados em exerccio no Brasil
favoreceu portanto a emergncia de outros atores teraputicos, que
passaram a atuar dentro do quadro dessa medicina europia
como foi o caso dos j esutas ou que pautaram suas prticas a
partir de horizontes culturais totalmente diversos, como os curadores
ou pajs.
Entretanto, alm da escassez de mdicos diplomados em exer ccio
no Brasil, outras razes explicam o use extensivo, no conjunto da
sociedade colonial, de meizinhas, garrafadas e benzeduras.
Segundo Lycurgo, os profissionais foram preteridos como mdicos
"porque a maioria deles no valia grande cousa sob o ponto de vista
cientfico ou culturalmente. Os profissionais no diplomados,
como Dinis de Andrade, s conheciam de medicina simples e
reduzidos rudimentos; os diplomados entendiam menos de cincia
hipocratica e mais dos `portulanos' e `cartas de marear' e `astrologia'
"
.
7
No se pode negar, com efeito, a falta de recursos com que se
praticava, nesse perodo, a arte medica no Brasil. Alan dos poucos
profissionais diplomados, aqueles que se aventuravam a exercer
sua arte em terras to distantes eram oriundos das cama das
sociais subalternas em suas terras natais e no detinham de sua
arte seno parcos rudimentos.
"Os primeiros profissionais mdicos que entraram no Brasil e por
aqui se fixaram", observa Lycurgo, "foram os poucos cirurgies-
barbeiros e aprendizes de boticrio que vieram nas expedies dos
donatrios das capitanias, de cambulhada com artfices, soldados,
degredados, aventureiros e mais gente trazida pelos aquinhoados por
D. Joo III. Esses profissionais eram em sua maioria humildes
27
imigrantes, judeus e cristos novos que, ao instalar-se o Santo
Oficio em Portugal, em 1547, deixaram o pas para escapar aos
pesados tributos e as acusaes de heresias anunciadas
continuamente pelos tribunais da Inqui sio. Esses homens no
pertenciam portanto a estrutura de poder da colnia.
* Os fsicos, ou mdi cos propri ament e di t os, eram os
"bachari s em Medi cina" licenciados pela Universidade de Coimbra ou
Salamanca, ou ainda outras escolas ibricas. Os doutores eram aqueles que
defendiam "concluses magnas" ou tese em Coimbra, Montpellier e
Edimburgo, mas somente vieram para o Brasi l no sculo XVIII. Os
barbeiros, alm de cortar cabelo e fazer a barba, praticavam pequenas
ci rurgias. Quase t odos os que aqui exerceram seu oficio no possuam diploma.
Os dentistas s chegaram ao Brasil a partir do sculo XIX. Nos sculos
anteri ores a ext rao de dentes era apangio de cirurgies-barbeiros. Os
enfermeiros eram aqueles que se ocupavam, em casa ou nos hospi t ai s, dos
doent es ou feri dos. No t i nham nenhuma habi li t ao l egal , eram geral ment e
anal fabet os e no det i nham conheci ment o da art e de curar, li mi tando-se a
acompanhar o enfermo. Os boticrios eram comerciantes de drogas que muitas
vezes concorriam com os fsicos e os barbeiros na aplicao de medicinas.
28
"No eram fidalgos, no tinham brases d'armas, foro ou tenas de
cavaleiro. Muito pelo contrario! Eles pertenciam por inteiro
(cristos-novos) ou por metade (meio-cristos) a "infecta nao";
eram produto do ' coito danado' . No puderam portanto merecer
considerao e acatamento ou exercer a governana da terra. No
foram considerados `homens bons' aptos para o exerccio de
funes administrativas na colnia."
9
Esses prticos constituram
portanto humildes habitantes das vilas e povoados, no geral mal
remunerados e de pouco prestigio social. Durante os dois primeiros
sculos desse perodo, esses profissionais classificavam-se entre os
"homens-de-officio, socialmente inferiores aos burgueses e aos
nobres".' De modo geral eram trat ados por donatrios e senhores
de engenho como serviais. Somente a partir do sculo XVIII que
fsicos e cirurgies passam a usufruir de melhor condio social, e
sobretudo no Brasil Imprio, quando se desloca a influncia poltica
do campo para a cidade, doutores e mdicos passam a assumir,
conjuntamente com advogados, a direo poltica e admi nistrativa
do pais. No que se refere aos cirurgies-barbeiros, que eram em
maior numero do que os fsicos, eles eram recrutados em sua
maioria, e sobretudo a partir do sculo XVI I, na populao negra,
livre ou escrava, e entre os mulatos. "So mui poucos os que obram como
so obrigados observar sua arte", afirmava Nuno M. Pereira,
"principalmente neste Estado do Brasil: porque alm de serem
muito poucos os homens brancos que exercitam essa arte, por serem
negros e pardos que dela usam, e talvez mal -aprendidos, quando se
devia por grande cuidado nisso, mandando-os examinar como se
prtica em todas as mais partes do mundo.
11
Os que aqui exerciam a medicina, na tradio teraputica
europia, no tinham portanto uma origem social muito distinta de
outros curandeiros locais, e muito menos usufruam de maiores
privilgios. Pela sua extrao social e pela prtica e conhecimentos
rudimentares de que eram portadores, esses agentes disputavam
em p de igualdade, com os curandeiros, sua clientela. No esta-
mos querendo afirmar aqui que se esses profissionais fossem mais
bem `formados', ou tivessem maior conhecimento de seu ofereceu,
sua relao com os curandeiros seria diferente. Muito pelo contrario.
A prpria natureza da medicina da poca, baseada numa concepo
de doena como fenmeno resultante do desequilbrio de quatro
humores bsicos (sangue, fleuma, bile amarela, bile negra),
implicava na utilizao de recursos teraputicos extremamente li-
mitados. Com efeito, a partir das descries das doenas do perodo
feitas por autores como Sigaud
12
,
Antonil
13
,
Anchieta
14
,
e
29
dos escritos mdicos da poca como por exemplo Simo Pinheiro
Mouro, que escreveu o Tratado nico das bexigas e sarampo em
1683, ou ainda Gabriel Soares de Souza, com seu Tratado descritivo
do Brasil de 1587, pode-se perceber que praticamente todas as
entidades mrbidas conhecidas eram tratadas, com rarssimas excees,
atravs de purgas, sangrias e clisteres. Para quase todas as doenas
infecciosas e parasitarias, desde a varola at febres e gripes, recei-
tavam-se aplicaes de sanguessugas e purgas. As poucas alternativas
teraputicas oferecidas pela medicina ibrica, agravadas pela dis-
tancia da metrpole portuguesa, que mantinha sempre em atraso os
conhecimentos mdicos aplicados no Brasil relativos aos desen-
volvimentos cientficos da Europa, e que restringia o uso de medi -
camentos e drogas importadas, faziam das prticas e crenas oriun-
das de outras tradies, como a amerndia e a africana, opes
teraputicas legitimas e reconhecidas pelo conjunto da populao co-
lonial. Por outro lado, a falta de recursos, associada ao fato de
que esses agentes sociais participavam mais ou menos inteiramente
do universo cultural de seus "concorrentes", favoreceu por um lado a
impregnao por parte da prpria medicina ibrica dos conheci -
mentos teraputicos nativos, tais como o uso de razes e plantas locais, e a
ampla difuso, por outro lado, dos princpios tericos e prticas que
orientavam sua profilaxia, atravs da intensa circulao de
manuais mdicos que nos sculos XVII e XVIII favore ceram a
assimilao, por parte da medicina rstica, desses princpios
teraputicos bsicos. Com efeito, a popularidade desses manuais
foi to ampla, como por exemplo a do dicionrio Chernoviz
introduzido no Brasil em meados do sculo XIX, que seus
princpios se encontram ainda vivos em diversas regi es do interior
do pais. Assim, pode-se afirmar que a medicina de origem luso-
espanhola, praticada no Brasil durante os trs primeiros sculos da
colonizao, cedo se "abastardou", segundo expresso de Lycurgo,
e se "mesclou a abuses, supersties, a prticas absurdas e dispara-
tadas, alm de encaminhar-se para um empirismo inado de cren-
dices".
15
Tirante o fato de que esta apreciao parte de um mdico
cioso do desenvolvimento cientfico da disciplina que prtica, esta
observao nos parece interessante na medida em que desvenda a
natureza das relaes que se estabeleceram entre medicina ibrica e
medicina popular durante esse perodo. O nmero reduzido de
profissionais, o baixo prestigio social da profisso que facilitava
seu acesso a negros e mulatos, a falta de recursos tcnicos e sua
extrema simplicidade foram fatores que fizeram da medicina
ibrica uma teraputica muitas vezes preterida, com relao a
medicina popular.
30
Finalmente, o baixo nvel de medicalizao da sociedade co-
lonial e o amplo recurso, em todas as camadas da populao, aos
meios e agentes teraputicos no-profissionais, podem ser ainda com-
preendidos a partir do ponto de vista da organizao administrativa
da sade no Brasil colnia. Com efeito, o Estado colonial se reve-
lava incapaz de cumprir o papel fiscalizador da profisso medica
que lhe era atribudo. As varias instancias criadas a partir de 1521, a
Fisicatura, os cargos mdicos nas Cmaras Municipais em 1604 e o
Proto-Medicato em 1782 tinham como funo: fiscalizar e dis-
ciplinar as atividades do clnicos do cirurgio, uniformizar proce-
dimentos tcnicos, licenciar profissionais, agindo como um prolon-
gamento da autoridade real no campo especifico da sade.
16
O pro-
blema da fiscalizao da profisso era, pois, prioritrio, com
relao aos cuidados ou preveno da doena. A fiscalizao no
tinha por objetivo promover a sade, mas sim coibir abusos e
prticas ilegtimas. Seu objetivo no era portanto a sociedade em
geral, mas a pr6pria medicina.
17
Esse modelo transplantado para o
Brasil no p8de levar a cabo seus objetivos, quer pela prpria inexistncia
de fsicos e cirurgies-mores no pais, quer pela ineficincia de uma
estrutura administrativa fortemente centralizada pela metrpole e
destinada a exercer atividades num territrio de to grandes dimen-
ses. Por ser frgil, fragmentaria e ocasional em suas aes, essa
estrutura poltico-administrativa foi incapaz de cumprir as funes
punitivas a que se destinava e deixou um campo aberto as prticas
teraputicas, forjadas no seio de outros patrimnios culturais, legi-
timadas e tornadas hegemnicas pela ausncia de um saber mdico
oficial atuante na sociedade colonial. Por outro lado, quando se
considera a lgica do sistema produtivo colonial, tem-se que uma
grande parcela da populao local a massa escrava permane-
cia a margem dos cuidados mdicos e era obrigada a recorrer a
recursos nativos ou de sua prpria tradio de origem. Os cuida-
dos mdicos correntes nos engenhos e fazendas dependeram pois
muito pouco de fsicos e cirurgies. O certo que, "como um mal
necessrio e de certa forma aceito pelo povo e acobertado pe las
autoridades, vicejou no pais, desde os primeiros anos, o curan-
deirismo".
18
Somente a partir do sculo XIX, quando o preo do
escravo se torna quatro vezes maior, vemos difundir -se a assistncia
medica nas fazendas, tornarem-se regulares os cuidados com a
alimentao e a higiene, tomarem-se medidas de proteo a mater-
nidade e a infncia.19
Passemos pois a analise dessa "medicina popular" que to am-
plamente se praticava nos primeiros momentos da hist6ria brasileira
31
para tentarmos compreender esse processo de "aculturao"
mltiplo em que elementos de origem ibrica foram
reinterpretados e assimilados a conhecimentos de outros
horizontes culturais e, o que mais interessante, postos em
prtica, sobretudo por agentes que no eram mdicos. Tentemos
reconstituir o quadro dessas interferncias variadas e compreender
como elas determinam o formato das prticas teraputicas populares
tradicionais.
Em funo das diferentes zonas geogrficas brasileiras e da
predominncia de um ou outro tipo de organizao produtiva, va-
mos encontrar, durante o perodo colonial, major ou menor
permanncia das tradies que compem o quadro cultural
brasileiro: as culturas negras (predominantemente de origem gege-
nag mas tambm banto), as culturas amerndias e a tradio
ocidental crista. Os diferentes elementos culturais se diversificaram
e evoluram de maneira diversa conforme entraram em contato uns com
os outros ou se mantiveram isolados. As prticas teraputicas
populares vo tambm diferenciar-se geograficamente em funo
dos elementos culturais que associaram e interpretaram e assumir
formatos diferenciados em funo da organizao scio-econmica
das regies em que se exerceram. Neste capitulo tentaremos
reconstituir, em suas linhas mais gerais, esta medicina rstica dos
primeiros sculos da Histria brasileira, e perceber de que maneira
ela se transforma na medida em que o eixo produtivo do pais se
desloca do campo para a cidade e que a medicina oficial vai se
tornando cada vez mais hegemnica. Parece-nos que somente essa
tentativa de reconstruo cultural dessas prticas nos permitira
compreender a natureza de suas transformaes ulteriores e o lugar
que os rituais teraputicos umbandistas, que aqui nos interessam,
iro ocupar nesse processo.
extremamente difcil caracterizar os diferentes agentes
teraputicos do perodo colonial que aparecem na literatura sob os
v-nos nomes de curandeiros, feiticeiros, entendidos, etc.
Misturando os preconceitos tpicos do observador que associa as
prticas teraputicas populares as `crendices' e `supersties' do
povo inculto, os documentos de viajantes, profissionais e jesutas
dos primeiros sculos, e mesmo os trabalhos etnogrficos mais
recentes, no se de tem numa analise mais precisa desses agentes,
nem diferenciam suas prticas em funo do quadro cultural
dentro do qual esto inseridas. O mesmo acontece com os
noticirios dos jornais do sculo XIX, que no intuito de denunciar
os `desvios' com relao a uma medicina oficial que comea a
32
implantar-se como hegemnica, classifica todos os agentes
populares na categoria dos "charlates". Interessa-nos pois reverter
esse processo que descaracteriza a especificidade dos diversos
agentes e analisar suas prticas em funo dos elementos culturais em
torno dos quais se organizou.
Em primeiro lugar, preciso distinguir as prticas
teraputicas populares conforme elas tenham se organizado e
exercido nas cidades da faixa
.
litornea ou no interior do pais.
Vimos que os poucos profissionais mdicos que vieram para o
Brasil nas expedies dos donatrios fixaram-se nos miclios litorneos.
No interior, povoados e lugarejos permaneceram sem um nico barbeiro.
Nesse contexto isolado e rarefeito de profissionais habilitados,
improvisaram-se agentes leigos. Principalmente durante o sculo
XVI, os jesutas vo desempenhar, nas regies de sua influencia, um
importante papel teraputico. Durante os mais de 200 anos que
permaneceram no Brasil, e at sua expulso em meados do sculo XVIII,
mantiveram bem guarnecidas enfermarias que foram, por muito
tempo, os nicos estabelecimentos do gnero existentes nas vilas e
povoados.
2
O mesmo pode-se dizer de suas boticas, sempre ricas
em objetos e remdios, como a Botica da Companhia em Belm do
Para descrita por Serafim Leite. Em suas Cartas avulsas Anchieta
descreve o incessante trabalho de atendimento e socorro a que se
dedicavam os jesutas no Brasil:
gente miservel, que em semelhantes enfermidades nem sabem
nem tem como se curarem, e assim todos confugem a nos outros,
demandando ajuda, e necessrio socorr-los s com as
medicinas, mas ainda muitas vezes lhes mandar levar de comer e a
dar-lho por nossas mos. E no muito isso com os ndios, que so
pauprrimos: os mesmos portugueses parecem que no sabem viver
sem nos outros, assim em suas enfermidades, como de seus escravos;
nossa casa botica de todos, poucos momentos esta quieta a
campainha da portaria, uns idos, outros vindos a pedir diversas
cousas, que s dar recado a todos, no pouco trabalho, onde no
h mais que dois ou trs que atendem a isto e a tudo mais.21
Portanto portugueses, ndios e escravos recorriam aos cuida-
dos dos padres. Em sua medicina, estes empregavam os conheci -
mentos mdicos e cirrgicos europeus da poca sangravam a
granel, principalmente por ocasio das epidemias de varola e "prio-
rizes"
22
combi nados aos recursos mdicos da ter ra pri nci -
palmente o conhecimento dos recursos teraputicos das ervas ad-
qui r i do em seu cont at o com os i nd genas. As "col ees de
33
receitas", cadernos manuscritos existentes nas boticas dos colgios,
combinavam simplex de provenincia europia aos vegetais e pro-
dutos do pais. E interessante observar que os jesutas, tenazes com-
batentes das crenas e rituais indgenas que resistiam a sua "feria
catequizadora", preservaram, apesar deles, em suas "colees de
receitas", todo um conhecimento fototerpico indgena que at hoje
permanece.* Mas a rivalidade entre catequistas e pajs foi intensa.
Segundo Lycurgo, os sacerdotes incumbidos da catequese
moveram contra os pajs tenaz campanha de descrdito: escarneciam
de seus poderes sobrenaturais taxando-os de demonacos,
acoimavam de falsas e mentirosas suas prticas teraputicas. Nos
sermes dominicais e, de modo geral, nas aulas de doutrinao
do curumim procurou-se desprestigiar o paj e substituir sua
influncia pela mo dos padres. No entanto, apesar dessa
influncia deletria dos jesutas sobre a cultura indgena, esta no
desapareceu completamente.
Desde cedo comea a surgir em todos os lugares do territ rio
brasileiro onde predominaram culturas indgenas, uma forma
cultural nova a santidade onde alguns element os das tradi -
es nativas associados a elementos do catolicismo popular
puderam resistir ao processo de catequizao.
* Embora o conhecimento do valor teraputico das ervas
tenha sido o elemento da cultura nativa mais bem preservado, outros traos
de sua cultura permanecem at hoje. Os prprios jesutas, em seu afo
catequizador, colaboraram com a preservao ao procurar maior eficcia na
converso pela
34
Fenmeno registrado nos documentos da Inquisio ainda no sculo
XVI,
24
a santidade assimila elementos da tradio crista tais como
o batismo, porte do rosrio e construo de igrejas; aos
indgenas, produo de transe m st i co e o use do fumo.
Segundo Roger Bast i de, a sant i dade, tal como existiu outrora,
desapareceu perseguida pela Inquisio. Mas dela teria
permanecido o essencial: o transe mstico e o complexo tabaco-
jurema.
25
As santidades foram pouco a pouco substitudas pelo que
Bastide chama de "culto dos caboclos". Luis da Cmara Cascudo
26
e Gonalves Fernandes
27
registram traos de sua existncia ainda no
sculo XVIII. As cerimnias do "culto dos caboclos" j bastante
penetradas por elementos catlicos conservam ainda o ajud
bebida miraculosa feita de raiz de jurema , as cantadoras que
batem seu maraca, os cachimbos de jurema que passam de mo em
mo. Tambm Henry Koster, em Viagens ao Brasil, observa a
existncia, em 1812, desses rituais entre os ndios no norte de
Olinda.29
Segundo Roger Bastide, o culto dos caboclos dar, pouco a
pouco, lugar aos catimbs. "Os catimbs comeam a existir quando
nada mais subsiste da antiga solidariedade tribal, quando os
mes-
associao de el ementos nati vos aos ritos cri stos. Segundo M. Isaura de
Queiroz, essa associao espontnea teria num certo momento preservado
al guns el ementos da cul tura i nd gena ao f aci l i tar sua rei nterpretao no
surgimento de cultos hbridos. Segundo esta autora, tanto na Amaznia como
em vrios pontos do Nordeste esses elementos perduram at hoje associados ao
catolicismo popular, embora a populao branca, ao se tornar numrica e
qualitativamente predominante, tenha contribudo para seu lento desapa-
recimento.23
35
tios estaro dispersos ou urbanizados, presos nas malhas da nova
estrutura social."
30
Rene Vanzenande analisa, em 1975, a organi -
zao desses cultos na Paraba, onde, nas regies outrora perten-
centes aos aldeamentos Tabajaras, em Alhandra e Jacoca, o culto
da Jurema permanece: este culto, ligado a bebida da jurema pre-
ta", se realiza em torno dos arbustos chamados "cidade da Jurema"
verdadeiros monumentos dos antigos mestres e antepassados do
cul t o. t odos l ocal i zados dent r o dos l i mi t es da sesmar i a con-
cedida em 1614 aos ndios de Jacoca.
31
Atravs do culto da Jurema
preservou-se, pois, toda uma memria relativa a qualidade
teraputica de ervas e razes, ainda preparadas em remdios pelos
catimbozeiros mais antigos. Em suas Notas sobre catimb, de 1934,
Luis da Cmara Cascudo analisa e descreve a "Pajelana" nome
que recebe o catimb no extremo norte do pais , salientando
suas funes predominantemente teraputicas. No entanto, apesar do
desaparecimento progressivo da cultura indgena, o saber
tradicional dos remdios do mato sobrevive difundindo-se pouco a
pouco, atravs dos jesutas, pela populao branca. Nesse processo a
Pajelana teria adquirido, segundo Luis da Cmara Cascudo, sua
indumentria catlica atual: os santos cristos, as velas, a gua benta.
* Tambm Roberto Motta vai distinguir, nos cultos da Jurema do
Recife, diferentes momentos no processo de aculturao desses ri-
tos. Num primeiro momento, o cult o da Jurema se teria associado
as tcnicas mgicas de origem europia. Citando Mario de An-
drade, observa que "mestre" o sentido dado a figura do mdico
em Portugal, e que assim tambm eram chamados os feiticeiros.36
Os mestres ter-se-iam incorporado, segundo Motta, ao ncleo cultural de
* Cmar a Cas cudo not a ai nda a i nf l unci a de el ement os
negr os s obr e o cat i mb, que embora numerosos no foram det ermi nant es na
conformao do cul t o. "O negr o t r ouxe a i nvocao com os ri t os e ri t mos
musi cai s. O ind gena deu a farmacopia, o maraca, os mest res invi s veis que
t eri am si do os saus e paj s de grandes malocas desapareci das. "
32
O
j uremei ro recebe, durant e o ri t ual, a al ma de um fal eci do "mest re" do
Cat i mb, ou a de um caboclo. Assim possudo, comea a falar
.
, da receitas,
conselhos, discute com out r os es p r i t os ou s i mpl es ment e s e di ver t e.
3 3
Segundo Lui s da Cmar a Cascudo, o receituri o dos mestres catimbozei ros
constituiu-se quase que totalment e de ervas, ra zes, folhas e cascas. O sopro
(peiuv) e a suco (piuapau) eram t ambm processos t eraput i cos
caract er st i cos j menci onados por Anchieta em suas Cartas avulsas. 3
4
Tambm Von Martius assinala a prt i c a d o " s op r o vi vi f i c a d or " u t i l i z a d o
p e l os p a j s : " Ao e xp e l i d os d o i nt er i or dos pul mes do paj , at r i buem
f or a vi vi f i cador a, cont r a r i a a doena." 35
36
origem indgena. Num Segundo momento, j no final do sculo
passado, este culto teria sofrido as influencias do kardecismo esprita,
o que teria levado a rpida ampliao semntica da palavra mestre,
antes restrita ao curador e que depois se estende para designar o
pr6prio esprito que se manifesta no mdium.
37
Assim, a antiga
preponderncia dos elementos indgenas nos catimbs de outrora se
transforma, pouco a pouco, sob a influncia das prticas espritas
introduzidas no Brasil no final do sculo passado. "Nos catimbs
de outrora", observa Cmara Cascudo, "quando o elemento
indgena preponderava espiritualmente, o transe s atingia o
mestre. S ele recebia as comunicaes do Alem, receitava e
distribua noticia dos ausentes. Hoje, nos catimbs, como nas ve-
lhas macumbas de negros, pajs e mestres so imit ados pela
assistncia. Qualquer um pode dar sinais de 'atuao' e
estrebuchar, com o corpo possudo por um `mestre' invisvel."
Vanzenande, em suas observaes os catimbs da Paraba e de
Pernambuco, mostra como a migrao deste culto para a cidade e
a influncia do espiritismo de umbanda tem provocado, naqueles,
modificaes rituais bastante acentuadas. "Em Recife, nos parecia
assistir aos ltimos momentos do antigo catimb, j em fase de
dissoluo tambm em Alhandra O uso da Jurema se reduziu
praticamente ao uso da palavra, do smbolo, sem ter ligao com a
arvore jurema, sem tradio ligada a certos lugares, a determinados
`mestres' da jurema." 39
Nesse jogo complexo de emprstimos, snteses e criaes ori-
ginais que caracterizam os encontros entre duas ou mais culturas,
difcil resgatar o sentido das influencias e as razes da
sobrevivncia de certos elementos em detrimento de outros. No
entanto, no caso do destino das tradies culturais do ndio
nativo que dizem respeito as suas prticas teraputicas, podemos
distinguir, a nosso ver, dois movimentos distintos e complementares: o
primeiro, que poderamos chamar de "abastardamento" da medicina
de origem ibrica, para utilizarmos o expressivo adjetivo de Lycurgo.
Os jesutas, que em sua misso catequizadora tiveram uma influncia
profundamente desagregadora sobre as culturas nativas, foram ao
mesmo tempo responsveis, em grande parte, pela preservao e
difuso de todo um saber mgico e fototerpico caract erstico dessa
tradio, ao procurarem adaptar o conhecimento mdico europeu
As condies locais. Nesse processo de adequao, as prticas
teraputicas de origem ibrica se "tingem" de cores brasileiras e
se difundem por vastas regies do territrio nacional. Assim, se os
37
saberes da medicina europia se difundiram no Brasil, foi menos
pela atuao de seus agentes diplomados existindo sempre em
pequeno nmero do que pela atuao de leigos como os jesutas
que, durante os sculos XVI e XVII, assimilaram essas prticas
associando-as as nativas, e como os negros e mulatos que, a partir
do sculo XVII, passam a ocupar-se, nas vilas e pequenas cidades
do interior, de certas prticas de pequena cirurgia como lancetar,
sangrar, aplicar bichas e ventosas, etc.
4
Veremos adiante como
esses saberes, documentados nos cadernos jesuticos ou simplesmente
repassados pela tradio oral, se associam as tradies cristas do
catolicismo popular constituindo o quadro tpico da medicina po-
pular em meio rural at o sculo XIX.
Um segundo movimento, complementar ao anterior, vai no
sentido da preservao da memria cultural indgena pela
"resistncia" as influ8ncias catequizadoras. Os pajs desaparecem
com a desagregao das tribos e naes, mas elementos de sua
memria cultural sobrevivem nos encantados e posteriormente na ao dos
"curandeiros" caboclos, os "Mestres Juremeiros" que com seus ma-
racas e suas juremas revivem a Histria de seus antepassados. " 'Hoje h
mais pajs', confidenciava, no final do sculo passado,
o velho paj Turacu ao conde Stradelli, 'hoje somos todos curan-
deiros.' "
41
Desagregada a organizao tribal que sustentava os
conhecimentos e a atuao dos pajs num todo complexo, o campo
de sua funo social se estreita e fica reduzido as atividades mgico-
curadoras. Por outro lado, a simplificao desse papel, o desa -
parecimento dos rituais propiciatrios e de iniciao, que tornavam
o acesso a essa posio social um longo e difcil processo, e ainda
o status relativamente privilegiado daqueles que detinham, no meio
rural, o poder da cura tornam relativamente simples o acesso de
"leigos" a pajelana. Um exemplo disso o surgimento de mu-
lheres "pajs" fato inteiramente contrario a tradi o cultural
indgena como a celebre paj Maria Brasilina, a casa de quem
acorriam, segundo testemunho de Jos Carvalho, nos anos 30, "pes-
soas dos mais remotos lugares do Rio Amazonas e seus afluentes
e as mais altas classes de Belm e Manaus".42
Finalmente, interessante observar que, paralelamente ao pro-
cesso de desagregao dos catimbs que acompanha o movimento
da urbanizao do pais neste sculo, assistimos a um movimento de
"recuperao" desta memria indgena pelos cultos umbandistas. A
Jurema, dissociada de suas propriedades qumicas e alucingenas que
definiam sua utilizao pelos pajs, se torna na umbanda
38
um smbolo religioso: dissociada do ar busto, dos lugares em que
nasce e dos "mestres" a que serve, a Jurema se transforma num
smbolo mtico que evoca ao mesmo tempo a idia de " fora ou
lugar sagrado" ou simplesmente designa alguma entidade mitolgica
associada a imagem do ndio brasileiro tal como a "Cabocla
Jurema". Tambm rituais teraputicos como o sopro e o use do
fumo, caractersticos da atuao dos pajs, sero, como veremos
adiante, reinterpretados pelos ritos mgicos da umbanda.
Quanto aos elementos da cultura negra, tiveram pouca ou quase
nula influncia no meio rural. A estrutura escravagista teve no
profundamente desagregadora sobre a cultura negra, pois ao mis -
turar em uma mesma propriedade etnias africanas diferentes, tor -
nava impossvel a formao de "naes" organizadas, elemento
fundamental para a reorganizao de uma cultura estruturada em
torno da famlia, das linhagens e dos cls.
43
Nas regies de mono-
cultura a associao entre catolicismo e tradi es negras se deu
como um processo ao mesmo tempo integrador e diferenciador."
Os senhores de engenho favoreciam a conservao dos elementos
da cultura escrava para bem se diferenciarem enquanto brancos;
no entanto temiam a formao de uma conscincia africana e es-
crava e estimulavam portanto o abandono das tradi es e a con-
versa ao catolicismo. Os escravos por sua vez aceitavam o catoli -
cismo que os igualava ao homem branco, seu senhor, mas no
perdiam o apego as suas crenas e tradies. Entretanto os efeitos
deletrios da estrutura escravagista e da influncia do catolicismo
no foram os mesmos para bantos e sudaneses. Os negros de ori -
gem banto, cujo culto se centrava quase que unicamente na
adorao dos mortos, foram mais permeveis a influncia de
outras crenas, pois puderam reinterpretar as outras religies
brasileiras a indgena e a catlica em termos do culto dos
mortos. "No que diz respeito as religies amerndias, essa
reinterpretao era relativamente fcil, posto que os paj6s faziam
falar os mortos com seus maracas e as ndias entravam
imediatamente em transe a aceitao da pajelana pelos bantos
foi portanto imediata."
45
No que diz respeito as confrarias
catlicas, ocorreu fenmeno semelhante. Embora o catolicismo no
aceitasse crises estticas, seus santos puderam ser reinterpretados
pelos bantos enquanto ancestrais, o que tornou relativamente f kit
sua assimilao pelas confrarias." Quanto a civilizao dos
negros de origem ioruba, cuja religio se baseava
fundamentalmente na linhagem e na comunidade, no Ode subsistir
nas condies de vida impostas pelo trabalho escravo nas fazendas. As
39
seitas africanas ligadas a tradi o daomeana vo ser pois criadas nas
cidades pelos negros livres. Crnicas e documentos registram sua
existncia na periferia das cidades a partir do sculo XVIII.
Segundo Clarival Prado Valladares, o documento mais remoto que
registra a organizao desses cultos seria o de Frei Antonio de
Guadalupe, bispo visitador de Minas Gerais, datado de 1726.
47
A
cidade rompera o antigo equilbrio existente entre a civilizado luso-
brasileira e as sobrevivncias africanas polarizando de maneira
antagnica a cultura branca adqui rida nas Faculdades de Direito e
de Medicina e nos seminrios a cultura negra, "que se desenvolve
no interior das associaes de naes sob a forma de retorno as
tradies religiosas ancestrais".48 Assim, contrariamente as fazendas
que "desafricanizavam o negro", quer assimilando-o ao catolicismo,
como aconteceu com os bantos, quer impedindo-o de reorganizar
suas crenas, como no caso dos sudaneses, a escravido urbana o
"reafricanizou, pondo-o em contato incessante com seus prprios
centros de resistncia cultural, confrarias ou naes".
49
E preciso
observar porem que o mesmo no acontece no caso das cidades que
surgiram associadas a produo mineradora. Nessas, as religies
africanas parecem no ter subsistido. Segundo M. Isaura, possvel
que nesses ricos centros mineiros o catolicismo popular,
organizado em confrarias, tenha se imposto com sua fora ao
escravo, fornecendo-lhe uma estrutura religiosa relativamente
firme e coerente.
5
Por outro lado, a estrutura administrativa desses
centros teria possibilitado uma ao repressiva muito mais eficaz do
que nas cidades administrativas e porturias, onde a atividade policial
era pouco marcada."
Nas zonas rurai s, onde predominou a cria o e a pequena
cultura de subsistncia, a influncia negra tambm no prevaleceu.
"Os escravos foram ali pouco numerosos, pois no eram necessrios
para o cuidado com os animais, e no eram acessveis aos pequenos
lavradores, que no dispunham de meios pecunirios para adquiri -
los."
52
Nessas zonas o negro permaneceu disperso e isolado das
fortes permanentes de renovao de sua cultura. Apenas alguns
traos, mais ligados a arte da magia, permaneceram como
sucedneo da medicina nessas regies em que o despovoamento no
estimulava o estabelecimento de nenhum mdico. Nessas regies
o negro, na falta de outros laos de solidariedade, se integrou nos
quadros do catolicismo popular tornando-se frequentemente, como
veremos adiante, curandeiro e rezador.
40
Somente nas pequenas cidades do interior, mais rurais do que
urbanas, sobreviveram o que alguns autores descrevem como
"candombls rurais".
53
Segundo Roger Bastide, este culto se
reduzia a uma serie de consultas de pessoas doentes ou mordidas
de cobra ou ainda daquelas que desejavam vingar -se de um
inimigo. Esses cultos constituiam-se pois numa espcie de "viglias
semi-religiosas e semiprofanas", onde os fieis acendiam crios para as
almas do purgatrio e rezavam oraes catlicas, onde um mgico ou
curador afamado receitava, curava doentes mas tambm contava
Histrias, contos de animais ou lendas do Pedro Malasartes.54
Mas se os cultos africanos no puderam sobreviver nas zonas rurais
semidespovoadas, pelo menos um trato de sua cultura per maneceu
com extraordinria fora, tanto no campo quanto na ci dade: suas
qualidades de feiticeiro.* Os colonos brancos e os senhores de
engenho, impregnados pelas supersties e bruxarias herdadas do
medievalismo,** percebiam o negro como extremamente habilitado
a atuar como feiticeiro: aceitam sua magia medicinal seus filtros
amorosos que restituam o vigor sexual desaparecido e temem
seus feitios. Documentos da poca e mais recentes so prdigos
em exemplos dessa crena no poder mgico do feitio africano. Antonil,
em seus conselhos aos senhores de engenho no trato com seus
escravos, adverte-os dizendo-lhes que castigos demasiado freqentes
ou excessivos poderiam levar os escravos a se insurgirem contra
seus senhores "recorrendo a artes diablicas" ou vingando-se do
acontecido "com feitio ou com veneno no fal tando entre eles
mestres insignes nesta arte".
57
Joo Dornas Filho recolheu em Santa
Brbara (MG) Histria antiga de uma mandinga que teria sido feita
por um velho preto decidido a vingar a sorte de uma escrava,
injustamente espancada pelo seu senhor. Rodeado de galinhas pretas,
lagartos e sapos dessecados, caveiras, facas de
* Mario de Andrade observa que no romanceiro nordestino,
sempre que se fala em feitiaria, esta atribuda ao negro.55
** A crena nas bruxas perdurou no Brasil durante todo o sculo XVI.
Denncias e confisses de homens e mulheres que se diziam bruxas aparecem
nas Conf isses e denunciaes da Bahia e Pernambuco, que resultam da
primeira visita do Santo Officio ao Brasi1.
56
Essas bruxas e feiticeiras ligadas a
tradio medieval crista desaparecem no Brasil em funo da perseguio
movida contra elas pela Inquisio, ento aos poucos sendo substitudas por
"benzedores" e "santos", figuras caractersticas do catolicismo popular no
meio rural.
41
ponta, velas e garrafas, o feiticeiro fincava um estilete numa bo-
neca de pano que representava a filha do senhor. A menina adoe-
ceu com dores agudas no corpo e nem os recursos da medicina,
nem rezas e benzees teriam sido capazes de debelar a molstia.58 E
interessante observar nesta histria o grande poder ofensivo
atribudo a atuao mgica do negro, poder este que nem a
medicina nem as rezas so capazes de controlar. Veremos adiante
de que maneira a umbanda ira recuperar e reinterpretar dentro
de seu universo a idia de feitio e seu poder de ao. Por ora
interessa nos conhecer as mutaes que sofre o feiticeiro africano
tradicional em sua vinda para o Brasil.
Segundo a atividade do feiticeiro negro tenha se desenvolvido
no meio rural ou nas zonas mais urbanizadas, pode-se perceber uma
curiosa dissociao em suas funes mgicas. Nas cidades, a magia
africana se voltou mais para a prtica do feitio e do contrafeitio.
Nina Rodrigues, descrevendo as prticas dos candombls nags na
Bahia em 1890, observa que o pai -de-santo, alm de sacerdote,
tambm autor de atos malficos e neutraliza dor de feitio. Enquanto
manipulador de sortilgios, o pai-de-santo, conhecedor dos se-
gredos dos venenos, procura eliminar suas vitimas fazendo-as absor-
ver preparados de atuao nociva sobre o organismo. Mas ele
tambm capaz de "sortilgios simblicos", que consistem em "dotar
os objetos, por encantamento, de propriedades teis ou nocivas".
Essas "coisas-feitas" so colocadas nos caminhos onde devem pas-
sar aqueles para quem esto destinadas. Representam em geral o
"
procedimento de feitiaria conhecido como `troca-de-cabea'. Quando
um individuo infeliz ou para quem a fortuna lhe contraria vai
consultar um feiticeiro, este lhe prope `trocar-sua-cabea', o que
equivale a trocar a infelicidade que o persegue pelas felicidades de-
sejadas". No caso da cura de doenas, toda prtica desses pais-de-
santo se volta para a prtica do contra feitio. "Toda doena sem-
pre o resultado de um feitio, de um sortilgio: a misso de destruir,
pela interveno da magia, essa obra sobrenatural, pertence ao
feiticeiro."
59
Nas cidades litorneas, do Rio de Janeiro ao Nor -
deste, a magia permaneceu mais ligada as tradies (particular -
mente de origem banto), servindo-se das ossadas, roubadas nos
cemitrios, para livrar os brancos de inimigos polticos ou de rivais
em amor.
6
Joo do Rio, em suas crnicas de 1909, observa como
essas prticas eram difundidas no Rio, envolvendo pessoas das
altas camadas da sociedade. "Ha. feitios de todos os matizes,
feitios lgubres, poticos, risonhos, sinistros. O feiticeiro joga com
42
o Amor, a Vida, o Dinheiro e a Morte, como malabaristas dos
circos com objetos de pesos diversos ( . . .). Eu vi senhoras de alta
posio saltando, as escondidas, de carros de praa, como nos
folhetins de romance, para correr, tapando a cara com vetis espessos,
a essas casas. Eu vi sesses em que mos enluvadas tiravam das car-
teiras ricas notas.
61
J no campo, como dissemos anteriormente, o negro teve foro-
samente que se integrar ao quadro religioso dominante no serto: o
catolicismo popular. Impossibilitado de reavivar, no meio rural, os
elementos de sua memria cultural, o negro cedo assimilou os
conhecimentos indgenas e europeus, tornando-se um curador.* O
negro assimilou com facilidade o catolicismo rural e rapidamente
tornou-se respeitado como lder, agindo frequentemente como
sacristo e benzedor.
64
Tambm integrou-se ao catimb, nas zonas
de influncia da cultura indgena, aproveitando-se de sua cor e
de seus dons de adivinhao, que facilitavam sua aceitao enquanto
mestre catimbozeiro.
interessante observar que essa dissociao entre negro curador e
negro feiticeiro, j presente na tradio africana,** vai reaparecer
no culto umbandista o primeiro, associado mais especificamente a
cura; o segundo, mais voltado para as questes de amor e
* Nos relatos de viajantes que andaram pelo interior do Brasil
aparecem referncias de negros "curadores de cobra". Tollenare fala a
respeito de curandeiros que se cercavam de serpentes obedientes as suas
ordens.
62
Saint Hilaire descreve prticas semelhantes em Minas Gerais e So
Paulo.63
** Arthur Ramos e Mario Milheiro chamam a ateno para essa mesma
distino na frica onde os cultos angolanos distinguem o "quimbanda"
mdico-adivinho que assume o nome de pai-de-umbanda quando esta tratando
de algum ou dirigindo um ritual do onganga, feiticeiro propriamente
dito, somente dedicando-se a prtica do mal. O quimbanda a aquele que
extrai, por meio de remdios fsicos (ervas) ou morais, os espritos malficos
das doenas. O onganga a requintado na arte dos malefcios e no use de
venenos. procurado por aqueles que, desejosos de vingana, vem buscar o
auxilio das plantas mortferas ou de algum bruxedo para liquidar seus
inimigos.
65
No Brasil esses dois aspectos vo se desenvolver de maneira
mais ou menos autnoma, conforme o negro se localize no campo ou na
cidade. J no culto umbandista, essa distino parece interpretada em seus
dois aspectos: o universo religioso se compe de duas metades fundamentais
mas opostas o reino da umbanda, domnio do bem e da cura, e o reino
da quimbanda, domnio do mal e do feitio. Desaparece portanto o feiticeiro
(onganga), mas o elemento cultural africano (o quimbanda) transformado
simbolicamente numa fora malfica.
43
dinheiro; e secundariamente responsveis pelas curas quando estas
envolvem trabalhos de "contrafeitio".
Passemos agora a analise do quadro cultural que mais pro-
fundamente e de maneira mais extensiva alimentou as prticas
teraputicas populares vigentes no interior do pais durante os
primeiros sculos de nossa Histria colonial e chegando at
nossos dias:* o catolicismo popular.
Os habitantes que se instalaram nas zonas de pecuria e pe-
quena agricultura de subsistncia eram oriundos das camadas po-
pulares da Pennsula lrica.' Devido ao seu relativo isolamento
com relao a outras fontes religiosas e devido sobretudo a grande
escassez de padres nessas regies, esses grupos puderam conservar,
relativamente intacto, o catolicismo popular de que j eram o su-
porte essencial em Portugal. Essas zonas se constituam, segundo
M. Isaura, em dep6sito e reservatrio de elementos religiosos tra-
dicionais e arcaicos portugueses e brasileiros.
68
Esse catolicismo po-
pular, mais voltado para o culto dos santos, caracterizava -se, e
caracteriza-se ainda hoje, por estar essencialmente ligado as necessi -
dades prticas da vida sertaneja: servia na defesa contra os ban-
didos e contra o perigo das doenas. Ainda hoje recorre-se a So
Jos para fazer chover, a So Benedito para curar mordida de
cobra, a Santa Margarida para ser feliz no parto;
69
temos ainda
Santa Lexia para os olhos, So Brs para a garganta, So Lazar para a
lepra," etc. A ausncia de padres nessas regies f az com que os
leigos, premidos pela necessidade de criar seus prprios
intermedirios entre Deus e o mundo, passem a assumir pouco a
pouco algumas das funes religiosas. Aqueles mais versados nas litunias
E cnticos vo sendo assim chamados a "puxar a reza" em ceri -
mnias, cortejos e viglias fnebres.
71
Esses condutores de
cerimnias, pela sua intimidade com as rezas e com o mundo do sagrado,
frequentemente se constituram, a partir do sculo XVII, nos cha-
mados "benzedores", procurados quando as colheitas vo mal e o rebanho
adoece. Aos "benzedores" cabe tambm rezar sobre as partes do
corpo doente, tentando libera-lo pela orao de inmeras
Joo Dornas Filho recolhe em Hanna (MG), da boca de
um velho benzedor de nome Justino, uma invocao ao diabo que
permanece idntica a que Eca de Queiroz recolheu num de seus contos
medievais.
66
Esta identidade demonstra a longevidade da permanncia dessas
tradies.
44
molstias.* As oraes, mesmo quando ditas sem a intercesso do
"benzedor", constituem-se, para o homem do campo, num meio de
defesa natural contra doenas e perigos. Testemunho deste fato so,
os chamados "breves", oraes que se levam "costuradas" nas dobras
do casaco, metidas na carteira de cdulas, ou dentro do forro do
chapu, de que temos noticia desde os primeiros momentos da
colonizao. Com efeito, rezas e simpatias constituem-se num co-
nhecimento extremamente difundido pelo interior brasileiro e fazem
parte da cultura campesina desde os tempos coloniais. Alfredo de
Toledo (Os mdicos dos tempos coloniais) registra que J. Antonio
Vitoriano, saindo a procura de ouro, levava no meio de sua baga -
gem esta reza contra ar de estupor: "Em nome de Deus Padre
Em nome de Deus Filho Em nome do Esprito Santo Ar vivo, ar
morto, ar de estupor, ar de perlezia, ar arrenegado, ar exco -
mungado, eu to arrenego, em nome da Santssima Trindade, que
saias do corpo dessa criatura ou animal e que vs parar no mar
sagrado, para que viva so e aliviado."
73
Alcntara Machado ob-
serva o uso de idntica orao entre os bandeirantes paulistas que
dela lanavam mo quando era preciso "abrir os caminhos" antes de
encetarem sua marcha para o serto."
O curandeiro se distingue do benzedor por acrescentar a seus
poderes de cura o uso de ervas. Segundo Eduardo Campos, a me-
dicina popular do "alto serto" puramente fototerpica e foi
herdada, em linha direta, do amerndio. Emprega de preferncia
garrafadas combinado de ervas maceradas no lcool , de
acordo com receitas especiais que variam de um curandeiro para outro.
* Os benzedores t em oraes para um grande nmero de
doenas: herpes, dest roncament os, dot es de part o, s ol na cabea, et c.
Al guns mal es como espi nhel a ca da, no cedem, segundo as crenas
populares, sob o efei t o de nenhum remdi o: o benzedor as sume port ant o a
t ot al responsabi l i dade de sua cura. Tambm a neut ral i zao do quebrant o
faz part e das habi l i dades profi lt i cas do rezador. O quebrant o, fora
negat i va t ransmi t i da pel o ol har i nvej oso, debi li t a a cri ana em plena
robust ez e faz defi nharem, mi st eri osa ment e, os ani mai s de est i mao. Para
prot eger -se cont ra o quebrant o, o ser tanej o traz normalmente consi go figas e
oraes. "Ha. toda uma prti ca especi al para se `cort ar' o mau-olhado",
observa Eduardo Campos, "no fi ca s na vel a e na orao que se deve
proferi r, se dando t odo empenho. preci so afast ar a pessoa que t em a vi st a
malsi nada para bem longe, cercar a pessoa que defi nha de t odos os
cui dados, asper gi ndo gua bent a nas par edes da casa e quei mando ervas
para afugent ar o `azar' , a `urucubaca' . "
7 2
Quando essas prticas no se mostram
suficientes, preciso recorrer a benzedeira.
45
J no litoral, onde a influncia negra se f az presente, so, encon-
trados com freqncia remdios de origem animal.
75
Gustavo Bar-
roso descreve a atuao de um desses curandeiros onde a influncia
indgena e secundariamente a negra aparecem: "O que vai ser
`curado' , aps ter ingerido uma poro de amarga bebida cuja
fabricao segredo do charlato, estira-se nu, comprido, ladeado de
velas acesas, no barro socado do solo, porque preciso `expor a
pele toda'. E o curandeiro comea a cantar uma melodia plan-
gente, onde vibra, de quando em quando, com um som metlico,
uma africana silaba nasal, tocando maraca e danando sinistras e
lentas reminiscncias coreogrficas das velhas danas dos ndios."76 O
curandeiro e o benzedor se distinguem do feiticeiro, marcado
pela tradio negra, por orientarem sua prtica para o "Bem", en-
quanto este ltimo detm o domnio das foras malficas.
Ainda ligado ao contexto das tradi es do catolicismo popu-
lar veremos aparecer, a partir do sculo XVII, a figura dos santos e
beatos, indivduos que tendo abandonado todas as atividades pro-
fanas atraram multides com suas curas e milagres.
77
Segundo Ly-
curgo, as epidemias de varola, de febre amarela e de malaria dos
primeiros sculos teriam suscitado uma vigorosa intensificao do
fervor religioso do povo, determinando a realizao de impressio-
nantes procisses propiciat6rias, peregrinaes aos locais tidos como
milagrosos como por exemplo a ermida de Nossa Senhora da
Aj uda, em 1555, e a Lagoa Santa em Minas Gerais, no sculo
XVIII , novenas, promessas, etc.
78
O catolicismo rural, de ndole
mais mgica do que religiosa, atribui aos portadores da palavra
divina tanto maior destaque quanto maior for a qualidade de seus
poderes taumatrgicos. "Cada vez que um padre realiza um mi -
lagre dar viso aos cegos, fazer paralticos andarem ou propor -
cionar a massa uma prova tangvel de sua comunicao com o so-
brenatural , se torna centro de vastos movimentos populares." 79
Em sua Histria do Brasil, manuscrito seiscentista, Frei Vicente de
Salvador relata que muitos enfermos saravam, principalmente de
febres, quando tocavam os restos mortais do franciscano Pedro
Palcios, transladado da igreja para o convento.
8
inmeros
documentos registram a vida e a Histria desses homens e
mulheres. Gonalves Fernandes conta o caso de "Bento Milagroso",
que fez furor em Recife por volta de 1913. "Seu prestigio cresceu
assustadoramente em todo o Nordeste e suas `curas' correram todas
as estradas pela boca do povo."
S1
Oswaldo Cabral cita o caso do
"Menino Santo de Capoeiras", registrado pelo jornal O Argos em 1860.
46
Eduardo Hoornaert refere-se ao santurio de Nossa Senhora de
Nazar em Belm do Para, iniciado pelo mulato Plcido em 1700.82
Embora esses santos e beatos tenham sido, enquanto portadores de
"mana", capazes de curas milagrosas, no os incluiremos em nossa
anlise enquanto agentes da `medicina popular' em meio rural por
entendermos que sua atuao tem um sentido muito mais complexo e
abrangente ao envolver muitas vezes o aparecimento de movi -
mentos messinicos e de massa como os de Antonio Conselheiro e
Padre Ccero no final do sculo passado e inicio deste. O catoli-
cismo rural ofereceu o quadro simblico para a atuao de agentes
teraputicos especializados o curandeiro branco, negro ou
indgena, a benzedeira, o raizeiro e o curador de cobra que, embora
diretamente responsveis pelas curas das "doenas de Deus" e dos
"malfeitos", no eram entretanto considerados milagreiros. "Para
passar a categoria de milagreiros, esses agentes humanos, simples
intermedirios entre os santos e os homens, deveriam antes passar
por um processo de divinizao, que se baseava numa vida exem-
plar centrada na generosidade, na renuncia dos bens deste mundo e
no sofrimento assumido."
83
Esses agentes curadores vicejaram no
pais, nas vilas e fazendas, aceitos por todas as camadas da popula-
o e sem encontrar resistncia por parte das autoridades e gover -
nos,* durante os trs primeiros sculos da Histria brasileira. "Tal
foi sua amplitude", observa Lycurgo, "que se pode afirmar que o
exerccio da Arte, particularmente nos dois primeiros sculos, mas
chegando at o sculo XX, tanto nas cidades como no seio das
populaes rurais, ficou em grande parte ent regue aos `curadores',
aos `prticos', designados ainda como `curandeiros', `entendidos',
`curiosos' ."
85
Durante esse perodo a "medicina popular" por -
tanto largamente hegemnica, competindo, com vantagens, com os
profissionais de origem ibrica. Essa situao se modifica a partir
do sculo XIX, quando se processa a radical mudana do eixo
produtivo do pais do campo para a cidade e se da, aos poucos, a
estruturao do ensino mdico nos grandes centros urbanos do
pais. Gostaramos portanto de passar agora a analise dos aspectos
sociais e polticos que vo determinar o estreitamento do espao
social de atuao da "medicina popular", obrigando-a, nesse pro-
* Em um documento de 1798 o pr pi o Tribunal do
Protomedi cado concede a curandeira M. Fernandes Maci el o direito de
curar no arraial Concei o de Mato Dentro (MG).84
47
cesso, a transformar as suas prprias concepes de doena e cura e a
modificar intensamente sua prtica.
Em sua tentativa de periodizao da hist6ria da Medicina no
Brasil, Lycurgo dos Santos Filho prope a distino de trs momentos
essenciais: fase colonial, que se prolongaria at o inicio do
sculo XIX e se caracterizaria pelo predomnio da medicina
indgena, africana e jesutica, sobretudo nos dois primeiros
sculos da colnia; fase pr-cientfica, que teria inicio no sculo
passado com o aparecimento das primeiras escolas de Medicina na
Bahia e no Rio de Janeiro (1808) e dos primeiros peridicos
especializados; fase cientfica, que se inaugura em meados do
sculo XIX com a fundao de institutos de pesquisa medica na
Bahia (1866) mas que caminhou lentamente, afirmando-se somente
nas primeiras dcadas deste sculo. Apesar da oposio
desigualmente valorativa entre cincia e no-ciencia que esta demarcao
supe ao ordenar retrospectivamente a hist6ria a partir do ponto de
vista da medicina oficial, ela nos parece sugestiva na medida em que
chama a ateno para o aparecimento, relativamente recente, das
condies necessrias para a implantao no Brasil da prtica
medica de origem europia, enquanto prtica hegemnica. A
estruturao da Medicina enquanto prtica teraputica dominante
somente poder prevalecer quando, a partir do sculo XIX, a
formao de profissionais a nvel local, os avanos tecnolgicos
como a descoberta da vacina, o desenvolvimento de institutos de
pesquisa voltados para as necessidades locais, tais como Manguinhos e
Butant, estreitam drasticamente o campo de atuao da medicina
leiga e popular at ento praticada em larga escala. Vejamos com
mais detalhes como se da esse processo.
O sculo XIX, se no fez desaparecer das cidades os curan-
deiros, rezadores e feiticeiros, cerceou-lhes drasticamente as ativi-
dades ao decretar contra eles uma verdadeira "guerra santa". A
vinda da famlia real para o Brasil trouxe como conseqncia ime-
diata o inicio de um processo de organizao da formao de pro-
fissionais habilitados no pais. A criao da Escola de Cirurgia em
1808 na Bahia e das Faculdades de Medicina em 1832 permitem a
multiplicao de profissionais e o atendimento progressivo de ca-
madas cada vez mais amplas da populao urbana. Evidentemente
esse processo no se realiza sem resistncias. Roberto Machado
mostra como a organizao do ensino mdico no Brasil d lugar a
lutas e descontentamentos por parte daqueles que pretendiam manter
o controle sobre o aprendizado e a expedio de diplomas 86
48
A fisicatura, vista como um poder identificado aos interesses
portugueses, passa a ser duramente criticada pelos que pretendiam,
ao contrario, expandir o ensino mdico e "transformar pedaggica
mente os indivduos para que, atravs da aquisio gradual e com
provada de um saber padronizado, fossem capazes de desempenha na
sociedade o poder exclusivo sobre a sade".87
Nessa luta entre interesses divergentes que disputam entre s o
poder de conferir diplomas, as prticas teraputicas populares
constituem-se num alvo imediato das criticas daqueles que
pretendiam ao mesmo tempo eliminar prticas concorrentes e
implanta um novo modelo de prtica media, mais normalizadora
do que fiscalizadora. A Fisicatura sempre exercera, como vimos
anterior- mente, um controle limitado sobre as prticas populares,
muita vezes incentivando-as e equiparando-as as dos cirurgies e
barbeiros aprovados. Mas numa sociedade em que o ensino mdico
est em expanso preciso abrir espaos para seu reconhecimento,
preciso combater os concorrentes e instituir a prtica oficial como
nica legitima. "O combate ao charlatanismo a outra face do
desenvolvimento do ensino mdico", observa Roberto Machado
"Quando no havia faculdade no Brasil, a Medicina sendo
praticada por poucos formados (em Coimbra), muitos
licenciados t mais barbeiros, sangradores, aplicadores de ventosas
e sanguessugas, curandeiros, padres jesutas, no havia como
estabelecer uma restrio e uma partilha."
88
A hegemona da
medicina como prtica teraputica nica passa portanto pela
"criao do charlatanismo como desvio".
89
l evidente esse conflito
no discurso do Dr. Nicola Joaquim Moreira frente ao Imperador
em 1862: "O charlatanismo, semelhante aos cips de nossas
florestas, entortilhandose no tronco da gigantesca arvore da
cincia mdica, procura est rangul-la dentro das fortes e
inumerveis circunvolues de sua nefanda elipse." 90
Torna-se preciso, portanto, extirpar esse mal, com as foras
estatais disponveis. As sanes at ento existentes passam a ser,
nesse contexto, mais rigorosamente aplicadas: nos registros poli -
ciais surgem de maneira crescente distncias de feitiarias e supers-
ties. O noticirio dos jornais da poca revelam que medidas re-
pressivas contra os agentes teraputicos populares passam a ser
cada vez mais regulares e eficientes: "Compareceram no dia 11 do
corrente ms, perante o Dr. Joaquim Fernandes Torres, Chefe de
Policia, os presos Manoel Secretario e Domi ngos Gama, denunciados
como feiticeiros, residentes no Sacco dos Limes, os quais foram
49
interrogados, tendo se ouvido tamb6m a respeito algumas tes -
temunhas. De todas as indagaes feitas pela Policia, resulta que
estes dois africanos j velhos se empregavam no exerccio do feti-
chismo, pretendendo fazer curativos por meio supersticioso, iludindo
com um cerimonial ridculo e estpido aos ignorantes. Parte da
populao daquele lugar e mesmo (o que nos causa admirao e
espanto) algumas pessoas da capital que julgvamos um pouco ci-
vilizadas, acreditavam nos feiticeiros, mandando como consta ter se
visto bilhetes que acompanhavam seus escravos para serem
curados".91
Tambm as legislaes municipais passam a ser mais ciosas no
controle efetivo das prticas populares. A Cmara Municipal do
Desterro pblica em 1831: "Todo individuo, branco ou preto
forro, que em sua casa fizer ajuntamentos de pretos, que dizem
feitiarias ou Bangalez, ainda mesmo que consinta em sua casa
desemparando por esta forma a de seus senhores, incorrera em
pena de 15 dias de priso e dez mil -ris de condenao pagos da
cadeia ( ...). Os escravos 'achados em semelhantes atos sero con-
siderados punidos como perturbadores do sossego publico." 92
As Posturas de 1845 observam: "Todo o que a titulo de curar
feitios, ou de adivinhar, se introduzir em qualquer casa, ou re -
ceber na sua algum para fazer semelhantes curas por meios supers-
ticiosos e bebidas desconhecidas, ou para fazer adivinhar e outros
embustes, ser multado, assim como o dono da casa em 30$000
ou em 15 dias de cadeia, sendo livre, e sendo cativo ser punido
corporalmente."
A existncia de uma multiplicidade de prticas teraputicas
mais ou menos difundidas que fogem ao controle do Estado e de
suas leis se ope aos interesses da grande ofensiva da medicina
oficial durante o sculo XIX, que deseja reservar para si o
monoplio de todos os atos relativos a sade. Assim, em sua
denncia contra o charlatanismo na Academia Imperial, o mesmo
Dr. Nicolao, citado, faz uma extensa defesa da necessidade do
controle do mercado de sade pelos mdicos habilitados e critica
aqueles que, "saindo dos limites de sua profisso, e invadindo o
domnio do mdico, administram medicamentos, estabelecem
prescries e/ou saem muitas vezes por mo sacrlega sobre o
terreno ".93 O mais interessante que este mdico, alm de opor-se
ao exerccio da medicina por aqueles que no esto habilitados
oficialmente, ainda critica a difuso do conhecimento mdico, pois
50
transforma "o mais completo analfabeto no mais erudito dos
mdicos". A existncia de um saber difuso sobre a doena que
possa redundar em iniciativas alternativas de cura constitui um
empecilho a execuo dos objetivos da Sociedade de Medicina e da
Academia Imperial o controle da sade da populao e do
exerccio profissional pois, ao tornar o Publico "juiz de sua
prpria molstia", este se torna um obstculo entre o mdico e a
populao, impedindo que a "relao de conhecimento da doena,
sua preveno e sua cura se consume".
94
Torna-se pois necessrio
legislar com maior rigor no sentido de garantir o exerccio da
medicina "to-somente pelos homens da cincia legalmente revestidos
desse direito".95
Enquanto cobram do Estado imperial a "luta contra o charla-
tanismo e o reconhecimento da exclusividade do saber sobre a
sade"
96
os mdicos lhe oferecem, em contrapartida, seus
prstimos como garantidores da ordem social. Roberto Machado
mostra em seu livro sobre a medicina social no Brasil como, nesse
perodo, a medicina vai tornando sua esfera de atuao cada vez mais
abrangente, e passa a relacionar-se com domnios, os mais diversos,
da vida social:
com a ordem jurdica: a Sociedade de Medicina emite criticas
quanto ao enunciado das leis e a administrao da justia. Cada
vez mais ela ser chamada a regular os processos criminais "que
no podem desprezar o conhecimento mdico como determinante
da existncia de um crime e de seu culpado".
97
Tambm na esfera
da famlia seu papel torna-se cada vez mais importante ao ser
chamada para a resoluo de problemas referentes ao direito de
paternidade, a legitimidade dos filhos, etc.;
com a ordem social: a Medicina passa a sentir-se cada vez mais
responsvel pela orientao do Estado na educao das crianas no
sentido de "extirpar os abusos que a ignorncia tem introduzido
no interior das famlias. A educaro bem dirigida previne os
excessos"." Nesse sentido a Medicina relaciona-se tambm com a
moral, na medida em que defende o equilbrio salutar contra o
poder dissolvente das paixes;
com a ordem poltica: a Medicina prope um modelo de socie-
dade disciplinar "A Republica dos Mdicos" , equilibrada e
ordenada, onde os interesses do Estado se assentam no Bom use dos
conhecimentos mdicos. A Medicina, ao mesmo tempo que serve aos
sditos, "importa ainda mais aos interesses materiais dos governos
51
deste mundo", afirmava Jos Martins da Cruz Jobim em 1847 .99
Assim, contrariamente aos perodos anteriores em que a Medi-
cina tinha no Brasil atravs da Fisicatura um papel restrito a
fiscalizao da profisso, que alias se exercia, como vimos, de
maneira lacunar e intermitente sobre a vida urbana, no sculo XIX
ela vai penetrando cada vez mais profundamente na vida social e
vai se tornando um apoio cientfico cada vez mais indispensvel
ao poder poltico do Estado. A "cientifizao" da Medicina institui
a figura normalizadora do mdico, suprimindo a possibilidade de
ao de seus concorrentes, tornados charlates, e amplia o poder
poltico do Estado na medida em que lhe oferece os instrumentos
adequados a sua penetrao em esferas da vida social que at ento
haviam permanecido imunes ao controle dos aparelhos polticos
tais como a famlia, a educao e a moral.
Esse processo no se realizou, entretanto, de maneira acabada eficiente,
enquanto os avanos da tecnologia medica e as descobertas no
campo da bacteriologia no possibilitaram a Medicina um
combate amplo e eficaz contra a peste. Com efeito, at o final do
sculo XIX, a represso ao charlatanismo e o controle da profisso
medica no se fez, apesar do esforo dos mdicos, de maneira
eficiente. Abundam nos jornais do final do perodo noticias de
curas e receitas de remdios caseiros: o Jornal de Vitria apresenta
receitas para os miasmas colricos ou envenenamentos em 1867 e
o Correio de Vitria recomenda remedemos para febre amarela em
1886, preservativos contra sezes em 1877 e clisteres para os
intestinos em 1872; O Argos, jornal do Rio de Janeiro, em sua
edio de 14 de outubro de 1856 receita contra mordeduras de
cobra; os prprios curandeiros colocam suas receitas nos jornais 100
o seus clientes agradecem publicamente suas curas: "Jos Francisco da
Cruz Guimares agradece a Manoel Francisco de Oliveira Mendes
Lino o ter-lhe curado. Diz o curado que Mendes no mdico, mas
um pratico curandeiro, que por nmia caridade apl ica seus
remdios nestes lugares onde os enfermos no tem recursos seno o da
Divina Providencia", Freguesia do Mirim.''
interessante observar que, embora ainda se possa ler noticias
de remdios nos jornais do inicio deste sculo, elas so substancial-
mente distintas: enquanto as primeiras consistiam em receitas de
remdios que podiam ser fabricados em casa, estas consistem em
52
anncios de medicamentos (sem o detalhamento de sua
composio) fabricados por pequenos laboratrios farmacuticos
autorizados pelos rgos pblicos. Tomemos dois exemplos:
Correio de Vitria, 10.10.1855 Para o combate do clera-
morbo "Elixir Preservativo": Aguardente ordinria (3 quarti-
lhos); Mirra em p e canela (meia oit ava de cada um); Cravinho
da-India (18 gros); Casca superior da laranja (7 onas). Arrolhe se
bem o frasco, exponha-se ao sol 12 dias, vasculhando-se forte-
mente de manh e a noite; filtre-se e guarde-se para o uso, juntan-
do-se primitivamente leo essencial de horte1-pimenta (uma ona).
O doente deve manter-se na cama, aplicar sobre o ventre loes de
lcool canforado, gua sedativa, e introduzir no anus um pedao
de pomada canforada. Confirmados os sintomas, tomar duas onas
de leo de rcino (adulto). Crianas: xarope de chicria composto.
Alem disso tomar, de hora em hora, um bocadinho de cnfora,
tamanho de uma ervilha. Masca-lo e engoli-lo, com uma gota de
gua salgada, e mais dois ou trs clices de Elixir Preservativo,
durante o dia.
Compar e-se agor a com os annci os da Tri buna do Povo,
7.3.1904 "Peitoral Catharinense." Charope de Angico.
Composio de Rauliveira Aprovado pela Inspetoria de
Higiene Pblica. Usado com feliz resultado no Imperial Hospital de
Caridade do Desterro. Reconhecido eficaz no tratamento das
tosses, bronquites, rouquido, asma, coqueluche, resfriados,
perda de voz, defluxo e em demais molstias das vias respiratrias,
conforme atestam os seguintes cavalheiros: [seguem-se nomes de
mdicos respeitados, polticos, artistas, guarda-livros, maquinista,
advogado, Juizes, vigrio, comerciante, professor] . No tem dieta nem
resguardo. Raulino Horn de Oliveira nicos proprietrios e
fabricantes. Santa Catarina.
Enquanto a primeira receita annima e detalha a maneira de
fabricar o remdio e suas condies de uso, o segundo anncio faz a
publicidade de um medicamento cujo fabricante de tem sua
propriedade e cuja composio omitida, o que lhe retira o carter
de "remdio caseiro". Assim, enquanto no se efetiva o monoplio
do mdico sobre a manuteno da sade, remdios, rezas e
simpatias fazem parte dos conhecimentos comuns dos moradores de
cidades e vilas.
53
No que diz respeito a efetiva punio daqueles que transgri-
dem as leis ao curar doentes sem o devido credenciamento, ela no
se realizara com a eficincia desejada pelos mdicos seno nas
primeiras dcadas do sculo XX. Apesar das denncias e prises,
frequentemente o culpado no era punido. Em noticia publicada
pelo jornal carioca A Regenerao, em 1879, sobre a priso de dois
feiticeiros, pode-se ler: "No acreditamos na punio pois em 1874
tambm houve por motivo idntico flagrante e processo, mas pes-
soa importante interveio e o processo ficou esquecido" [grifo
nosso] . Temos pois que, embora a legislao exista, ela no tem
ainda suficiente respaldo social para ser cumprida com rigor. O
pblico, que inclui pessoas das altas esferas sociais, ainda d maior
preferncia aos ditos "charlates" do que aos mdicos diplomados.
Oswaldo Cabral relata o caso de um fazendeiro de So Miguel
que mandou buscar um curandeiro negro de Bobos, lugarejo da
costa catarinense, para curar -se de uma paralisia que "no achava
na Medicina meios de restabelecer-se". A noticia correu e
rapidamente a casa do capito "encheu-se de gente para consultar o
preto e com ele tratar-se. Este foi receitando quanta erva e razes
medicinais conhecia". A Cmara, "sabedora dessas ridicularias,
mandou multar o curandeiro, mas o fiscal foi impedido pelo
fazendeiro que s faltou dar-lhe com as muletas".
102
Assim, apesar da grande ofensiva na organizao do ensino
mdico no Brasil durante o sculo XIX, e do crescente prestigio
social e poltico que a profisso passa a adquirir nesse momento,
permanece, mesmo nos grandes centros urbanos como Salvador e
Rio de Janeiro, a crena nas prticas teraputicas populares.* Ni -
colao Joaquim Moreira se espanta em 1862 com a credulidade da
maioria da populao do Rio de Janeiro, que ai nda confia no
"charlatanismo", inclusive "os espritos fortes, coraes retos e inteligen-
* A part i r do sculo XIX o mdi co t orna-se um i nt elect ual e
admi ni st rador de prest i gi o, observa Lycurgo. As escolas de Medi ci na
passam a ri vali zar com o Exercito e o convento na formao dos grandes
senhores rurais. Fsicos e cirurgies tornam-se membros das academias
lit erri o - ci entficas fundadas no Ri o e na Bahi a.
1 0 3
Segundo Ot ac l i o de
Car val ho Lopes , o mdi co do sculo XIX aos poucos "se impunha ao melhor
juzo do povo, que comeava a t rat a-l o com mai s i ndul gnci a e mesmo mai s
acat ament o. JA no havi a t ant as e desrespeit osas cri ticas, como no sculo
ant eri or. Rareavam as maledicncias expressas atravs das chacotas e das
caricaturas ext ravagant es nas quais eles apareciam armados com a indefectvel
seringa para o obri gatri o clister".104
54
cias cultivadas",
1
5
e Oswaldo Cabral refere-se as benzedeiras
brancas e de cor que nos bairros pobres do Rio, "por uns poucos
vintns de cobre, saiam de seus cmodos ou de seus afazeres, para
irem `coser o corpo' contra facadas, maus-olhados e paixes de
mulher, que benziam para mal de bichas ou para o de impetigens,
para as tosses compridas ou para o `sapinho' das boquinhas das
crianas mal nutridas".
106
Somente a partir do aperfeioamento da tecnologia mdico
sanitarista desenvolvida pelos Institutos Butant e de Bacteriologia
no final do sculo XIX, e dos resultados obtidos pelos estudos de
patologia tropical, a Medicina cientfica comea a impor-se real-
mente no Brasil, sobretudo nos grandes centros urbanos e conco-
mitantemente ao processo de industrializao do pais, como forma
teraputica eficiente e hegem6nica. Esta pois uma fase recente. A
partir das primeiras dcadas deste sculo, sobretudo a partir dos anos
20, veremos florescer associaes medicas e imprensa especializada:
entre os anos 20 e 40 fundaram-se em So Paulo nada menos que
56 associaes medicas e para medicas, nmero que, comparado as
17 criadas ao longo dos 20 primeiros anos, mostra o grande
desenvolvimento da organizao e da prtica medica nesse
perodo.
107
Por outro lado, somente nos anos 40, com a criao do
Sindicato dos Mdicos, os Conselhos de Medicina e a Associao
Medica Brasileira, se tornar realmente efetiva, nas reas de maior
atividade econmica do pais, a proibio do exerccio da Medicina
pelos profissionais no-habilitados, decidida pelo Cdigo Penal em
1890. Mas a constituio da Medicina em prtica hegemnica no
resultou apenas, evidentemente, de medidas punitivas e controla-
doras. O desenvolvimento das vacinas contra pestes, lepra, tifo,
varola, febre amarela e outras e o aperfeioamento das tcnicas de
controle sanitrio e deteco de focos contagiosos tornou possvel,
para a Medicina, manter um combate eficaz sobre as doenas con-
tagiosas. O alcance e a real superioridade da Medicina no campo
dessas enfermidades tornou cada vez mais fcil sua aceitao, a
expanso de seus cuidados para todas as camadas sociais e a pos -
terior extenso de seu monoplio sobre todo ato teraputico. O fato
de as pr6prias massas trabalhadoras passarem a incluir na pauta
de suas reivindicaes, a partir dos anos 20,* a oferta de cuidados
* Esse fato torna-se evidente quando se considera o intenso
trabalho realizado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro que desde
55
gratuitos de sade por parte do Estado nos da, em certa medida, a
dimenso da legitimidade que a Medicina passou a ter para as ca-
madas sociais que at ento se constituam em "clientela natural"
das terapias tradicionais. Nesse perodo, tambm o Estado comea a
elaborar, de maneira mais sistemtica e homognea, uma poltica
social de sade, que at ento se caracterizara por intervenes
lacunares e dependentes de surtos episdicos de uma ou outra doena.
"At 1930", escreve Madel Luz, "no se observa uma definio de
poltica clara na rea de sade. Verifica-se a preocupaocom uma
ou outra enfermidade, principalmente com aquelas que atingem a
capital federal, do que so exemplo a gripe espanhola no inicio do
sculo e os surtos epidmicos dos anos 1928 e 1929, que mobilizaram
os setores governamentais visando seu controle." 108 J a criao do
Ministrio de Sade, em 1970, desvinculado do Ministrio da
Justia e Negcios, at ento responsvel pelas questes
r ef er ent es i naugur a uma f as e em que o s anea me nt o urbano,
a higiene industrial e a assistncia materno-infantil se tornam as
linhas mestras da poltica sanitria do Estado.
E fcil perceber como nesse novo contexto urbano-industrial desaparecem
as condies que faziam, das prticas teraputicas populares,
prticas amplamente legitimadas e difundidas. Com a
organizao e a expanso do ensino mdico e sobretudo com a
nova eficincia da Medicina, alcanada com as descobertas no campo
da bacteriologia e o desenvolvimento tecnolgico, desaparecem dos
centros urbanos barbeiros e sangradores que baseavam sua
Medicina ainda em funo da teoria dos humores. No meio rural,
que aos poucos vai sofrendo as conseqncias do processo de urba-
nizao, assistimos tambm ao lento desaparecimento de benzedei ras
e curandeiros. O processo de urbanizao, que a partir dos anos 30
desloca definitivamente o eixo produtivo e poltico do pais do
campo para a cidade, destoei a rede de relaes sociais que per -
mitia, no meio rural, a conservao e a transmisso de saberes re-
lativos ao reconhecimento das doenas e ao Repertorio dos remdios.
Em sua migrao para as cidades, esses saberes se perderam. Em-
bora alguns autores tenham observado, em pesquisas recentes, a
sobrevivncia de benzedores e curandeiros nas periferias das gran-
sua fundao, em 1929, pretendia impor-se como nica
guardi da sade Pblica. Naquele momento, no estavam ainda estabelecidas as
conchegues para que os objetivos desse esforo fossem amplamente alcanados.
56
des cidades,* certo que as condies de vida urbana dificultam a
permanncia deste saber tradicional, ao limitar o livre acesso ao meio
natural, onde ervas e razes podem ser testadas e observadas, ao
impedir a preservao de rituais de colheita que muitas vezes de-
vem respeitar regras rigorosas, quanto a hora, dia, local e lua, a
serem executadas,** e ao desorganizar a rede de relaes sociais
que sustentam as relaes teraputicas e as regras de transmisso
de conhecimentos de um curandeiro a outro.*** Por outro lado, o
saber tradicional de receitas e remdios de origem vegetal passa a
concorrer, em situao de grande desvantagem, com a nova eficincia
emprica da Medicina e sua capacidade de expanso para o
conjunto da sociedade. Hoje, plantas e preparados fazem parte dos
documentos e publicaes de folcloristas, que tentam perpetuar esses
saberes recolhendo-os atravs de relatos de seus ltimos e raros
depositrios. Vimos que Vanzenande observa, em sua pesquisa no
interior paraibano, o desaparecimento progressivo do conheci mento
tradicional das propriedades qumicas das plantas entre os
catimbozeiros locais: "O use real [das plantas medicinais] dimi -
nui cada vez mais; poucos sabem ainda reconhecer as plantas ou
sabem suas aplicaes. Nos cantos e rituais permanece porem o seu
nome."
111
Tambm Alceu Maynard de Arajo nota, em seu estudo
sobre a medicina rstica de Piaabuu no interior de Alagoas o
desaparecimento dos curandeiros locais, menos pela represso policial
de que so vitimas do que pela desorganizao de sua cultura tradicional:
"Os curandeiros, na comunidade estudada, no existem mais,
declarada ou abertamente, porque grande a perseguio que
* M. Lhereza Camargo, em sua pesquisa sobre o folclore
paulistano em 1976, nota a existncia de benzedores e curandeiros nas favelas
de So Paulo. No sabemos, no entanto, por falta de elementos com relao a
este estudo, se as prticas desses agentes permanecem as mesmas com
relao as tradies teraputicas desenvolvidas tradicionalmente no meio
rural. O que a autora chama de "curandeiro" pode ser na verdade um
"curador esprita", que como veremos adiante a um agente teraputico novo
no seio das camadas populares.
** A jurema, por exemplo, s tem valor quando plantada em casa que tem
"piana", e quando h necessidade de sua colheita no mato, quem deve
faze-lo a exclusivamente o presidente do culto "tor".109
*** A linha normal de transmisso da herana cultural de um curandeiro para
outro se faz geralmente, segundo Alceu Maynard de Arajo, de pai para
filho.110
57
lhes move a policia [ mas] o seu desapareci mento no est
condicionado a simples represso policial mas ao trabalho da cul -
tura." * Temos mais um exemplo desse desaparecimento progr es-
sivo no trabalho de Raposo Fontenelle, que estudou o municpio
de Aimors em Minas Gerais. Segundo ele, "o antigo modelo de
curandeiro que descobria e curava doentes somente com as facul -
dades pessoais, sem recorrer aos espritos, desapareceu de
Aimors".
113
Nos grupos dominantes dessa localidade restam apenas
vestgios do antigo conhecimento relativo aos chs e remdios,
to difundido nos sculos anteriores. "Somente os mais velhos
conhecem as ervas e classificam os alimentos como quentes/frios,
fortes e reimosos."
1
"
Este saber se perdeu, segundo ele, em
conseqncia da aceitao por parte desses grupos dos
ensinamentos da Medicina cientfica. Com relao aos grupos
populares de Aimors parece-me que o exemplo pode ser estendido a
toda a zona rural que inicia seu processo de urbanizao que esto,
pela posio social que ocupam, mais distanciados do contato com
essa Medicina, o autor observa que eles ainda procuram lanar
mo de conhecimentos tradicionais. No entanto a grande
mobilidade dessa populao, a dificuldade dos encontros e a
pouca densidade da rede das relaes sociais faz com que este
conhecimento tradicional se transforme numa espcie de colcha de
retalhos composta de "tudo o que se aprendeu no lugar onde se
morava" 115 e sem muita organicidade entre as partes. Dessa
maneira, o antigo sistema explicativo das doenas torna-se cada vez
mais permevel a influncia de novos sistemas, mais orgnicos e
nascidos nos limites dos horizontes colocados pela nova ordem
social urbana, como por exemplo o espiritismo de umbanda. E
exatamente esse processo que Fontenelle observa em Aimors: o
antigo curandeiro da pouco a pouco lugar ao que ele chama de
"curandeiro esprita". No
* Em algumas cidades no int eri or ai nda se pode encont rar um
t ipo especi ali zado de curador: o curador -de-cobra. Sua art e t radicional
consist e em curar, com fumo e t ouci nho e benziment os, aqueles que t enham
sido mordi dos por serpentes, ou em benzer preventivament e os paci ent es, no
intuito de prot ege-los cont ra os peri gos das peonhas. Podem ainda ser
chamados para "limpar" os past os, dai eli mi nando, por mei o de benze es,
aqueles ani mai s. No ent ant o a descobert a do soro ant i of di co e o
cresci ment o das ci dades do i nt eri or fazem com que pouco a pouco as
funes dest es especi al i st as sej am suplantadas.112
58
mais o conhecimento do mundo natural e o domnio dos segredos
das ervas que faz a qualidade de um curandeiro, mas sim sua capa-
cidade de entrar em comercio com os espritos. Sero estes, dora-
vante, os responsveis pelas doenas e os novos detentores do po-
der de cura. Marcos de Souza Queiroz observa fenmeno seme-
lhante na aldeia de Icapara, no litoral paulista. A sociedade de
Icapara, submetida a este processo de urbanizao e modernizao,
no dispe mais, segundo o autor, de mecanismos adequados para a
defesa contra os fenmenos tradicionalmente compreendidos como
causadores de doenas como o mau-olhado: desapareceram os
mecanismos de controle social que permitiam aos moradores detec-
tar as fontes desses sentimentos negativos e suprimi -las. Os benze-
dores locais no ousam mais encarregar-se desses casos e cada vez
mais cedem lugar as atividades do curandeiro esprita, que no vive
na aldeia mas em cidades mais ou menos prximas. A introduo da
medicina cientfica, observa o autor, provoca o desaparecimento
da medicina tradicional baseada no sistema classificatrio de pro-
dutos medicinais em relao com o corpo humano (sndrome do
quente/fresco).
116
Todos esses exemplos parecem indicar que o curandeiro tra-
dicional, certamente por ser o agente teraputico que de tem um
sistema mais rico e complexo de conhecimentos, o primeiro a
sofrer as conseqncias das transformaes econmicas e sociais do
processo de urbanizao. A desestruturao das relaes locais
provocadas pelos movimentos migrat6rios cada vez mais amplos,
as novas condies de vida da cidade, a pr6pria transformao do
Repertorio tradicional das doenas com o aparecimento de males
at ento desconhecidos e resistentes, como veremos adiante, aos
remdios da medicina rstica, e a grande expanso da Medicina
universitria, inclusive no meio rural, so fatores que atuaram no
processo de desarticulao do sistema de conhecimento do curan-
deiro. J o benzedor, que tinha um papel teraputico mais restrito
no receitava remdios, apenas benzia algumas doenas de
menor gravidade pode conservar sua atividade teraputica no
meio urbano com maior facilidade porque no dependia, como
aquele, de to vasto conhecimento acerca das propriedades do
mundo natural e das foras sobrenaturais, e sua esfera de atuao,
mais mgica do que emprica, no concorria diretamente com a
Medicina. No entanto as mesmas foras que promoveram o
desaparecimento progressivo do curandeiro tambm afetam o
benzedor que vai sendo pouco a pouco suplantado por novas formas
populares de cura,
como a umbandista, que recupera, como veremos adiante, alguns
elementos dessas prticas tradicionais e as integra, transformando-
as num conjunto original. Vejamos pois de que maneira funcionam
essas prticas teraputicas da medicina rstica e como se da o pro-
cesso de sua dissoluo.
* * *
Um dos traos mais caractersticos da medicina rstica
tradicional diz respeito a existncia de um conhecimento mais ou
menos comum a curadores e clientes de um repert6rio de doenas
possveis e seus respectivos remdios. A medicina popular
tradicional reconhece um certo nmero de entidades mrbidas que
esto de modo geral estreitamente associadas as funes vitais do
organismo. Para classificar as doenas esta medicina parte da
observao do modo de aparecer do fenmeno mrbido e da parte
do corpo afetada. A idia de sintoma sinal que deve ser
interpretado para estabelecer-se um diagnstico estranha a
lgica desta medicina: de um modo geral, a maneira como se
apresenta o estado mrbido constitui-se na prpria doena. Os
nomes populares que certas entidades m6rbidas recebem no meio
rural, e que vigoram at hoje, tais como "ar do tempo", "fundo
sujo", "obra empitada", "ar concentrado", "esquentamento",
"dureza", "chiado no peito", "veias quebradas", "mal de sete dias",
etc., pem em evidencia a lgica subjacente a essa percepo
popular dos fenmenos m6rbidos: o que caracteriza uma doena
menos sua causa subjacente do que sua maneira de aparecer mais
evidente. Os registros de bitos dos sculos passados reproduzidos
por Oswaldo Cabral em seu trabalho sobre a Medicina dos perodos
anteriores mostram como, tanto para a definio da doena como
para a definio da causa mortis, o que pode ser percebido
constitui-se em categoria explicativa dos distrbios. No caso
desses registros aparecem razes do tipo: [Morrell] de um dente que
tirou
de uma dor
de uma frouxido cutnea
de tosse
de sangue pela boca
de vmitos
de clicas
repentinamente (.. ) 117
Os remdios receitados seguem tambm esta mesma lgica: devem
funcionar no sentido de suprimir os sinais mais visveis da doena
60
posto que elimina-los significa extirpar o pr pio mal. Assim re-
ceita-se um antiespasm6dico se existe dor, um antipirtico se existe
febre, emplastros para feridas e tumores, vomitrios para proble-
mas digestivos, etc., que podem ser tornados em chs, banhos e/ou
garrafadas. Embora o modo de surgimento da doena seja um fator
determinante para sua caracterizao, no permanece estranha a
essa concepo popular de doena uma teoria explicativa de suas
causas. Segundo autores como Marta Campos e Antonio Graco,
este vasto Repertorio de doenas distribui-se em quatro subcon-
juntos fundamentais em funo das oposies quente/frio, seco/
tmido.* Esses princpios esto na base da Medicina hipocratica
que se difundiu no interior do pais atravs da ampla circulao de
manuais de cirurgia e botnica, e de manuais de medicina caseira
tais como o livro de G. Buchan, traduzido para o portugus em
1788 e que teve imediata aceitao no pais, e como o famoso
dicionrio de Chernoviz que, em meados do sculo XIX, teve imensa
popularidade. Esta literatura erudita favoreceu a difuso simplifi-
cada, pelo interior, dos procedimentos e teorias essenciais da Medi-
cina europia dos sculos XVII e XVIII, que passaram a integrar
se, de maneira mais ou menos profunda, aos saberes e procedimen-
tos teraputicos de leigos e curadores. A Medicina hipocrtica con-
cebe a sade como uma relao de equilbrio entre quatro humores
fundamentais: o sangue (quente e tmido), o catarro (frio e tmido), a
bile negra (fria e seca) e a bile amarela (quente e seca). Cada
rgo do corpo se define pela predominncia de um ou outro des ses
humores: o corao, quente e seco; o crebro, tmido e frio; o
fgado, quente e tmido,
119
etc. As descries populares da doena no
meio rural, segundo observaes de vrios autores nas mais
diferentes localidades,** apresentam grande similaridade com as
* Marta Silva Campos observa que a populao de Porto
Nacional, no norte de Gois, conserva at hoje esses princpios de
classificao considerando "quentes aqueles alimentos que podem produzir
perturbaes digestivas, e frios os suscetveis de causar doenas
respiratrias".
118
Raposo Fontenelle observa a permanncia desses mesmos
princpios entre a populao de Aimors, em Minas Gerais.
** Alem dos autores j citados, Marta Campos e Raposo Fontenelle,
Kwoortmann, em seu relatrio sobre os hbitos alimentares das populaes de
baixa renda no Brasil, observa o mesmo fenmeno em localidades as mais
diversas: Belo Horizonte, Itapu no Para, Mossmedes no sul de Gois,
Sobradinho no Distrito Federa1.120
61
formulaes hipocraticas. Segundo as observaes de Marta Cam-
pos, em Porto Nacional as doenas so classificadas como quentes
ou frias em funo de suas causas: as doenas das vias
respiratrias, compreendidas como vindo de fora para dentro, so
percebidas como frias; as doenas de pele, advindas do
envenenamento do sangue, advindas pois de dentro para fora, so
classificadas como quentes; doenas intestinais e digestivas,
causadas pela bile, so, produzidas pela ingesto de alimentos
quentes.
121
Da-se pois uma relao de homologia entre doenas
quentes-alimentos quentes/ doenas frias-alimentos frios: uma
dieta equilibrada constitui-se pois em peca fundamental da manuteno
da sade.
no interior deste universo mais ou menos conhecido de
doenas e remdios que curandeiros e benzedeiras so chamados a
intervir. Nesse sistema de classificao e explicao das molstias
o elemento mgico aparece, no primeiro caso, de maneira
subalterna: o curandeiro busca uma eficcia emprica ao operar
adequadamente com o Repertorio das doenas e dos remdios, mas o
faz baseado em conhecimentos e observaes experimentais sobre as
qualidades dos elementos naturais. O curandeiro tem, verdade,
uma relao de intimidade com o mundo sobrenatural que o distin-
gue dos outros homens, mas sempre ele que age, com seu saber,
sobre a doena, e no as divindades. A benzedeira distingue-se do
curandeiro na medida em que ela age sobre a doena apenas sim-
bolicamente, atravs da reza. Seu campo de atuao mais restrito,
na medida em que age preferencialmente sobre doenas de pouca
gravidade como vermes, doenas infantis, algumas dermatoses
como a erisipela e ainda sobre as doenas causadas por mau-olhado
ou quebranto. Contrariamente as simpatias que podem ser uti -
lizadas por qualquer leigo no momento de necessidade ou na pre -
veno de acidentes ou molstias, a atuao da benzedeira depende
das qualidades pessoais daquela que benze e que deve respeitar cer tos
princpios rituais que regulam a utilizao de palavras e gestos, sem
os quais se torna incapaz de dominar ou orientar as foras
mgicos responsveis pela doena e pela cura. A ao teraputica
do benzimento funciona a partir da mesma lgica subjacente aos
fenmenos mgicos e colocada em evidencia a partir dos trabalhos de
Frazer. Florestan Fernandes, em sua pesquisa sobre os fenmenos
mgicos do folclore paulistano, nos da um exemplo de como
funcionam no benzimento as leis de analogia e contato: no trata -
mento das bichas, a benzedeira "enrola uma linha branca ao redor
62
do punho fechado da criana e depois corta a mecha na ponta de
cima e na ponta de baixo, colocando em seguida os fios de linha de
igual comprimento num copo cheio de gua (em que devem ficar
24 horas antes do benzimento), enquanto reza ao mesmo tempo,
qualquer coisa, pondo a mo direita na cabea da criana".
122
O
corte da mecha, observa o autor, funciona simbolicamente, ao cor -
tar, por analogia, os vermes da criana. "As linhas representam
lombrigas, e o que se pretende com a prtica reduzi-las ao estado de
linha, isto , a gua." 123
A benzedeira pode tambm curar qualquer doena de ma-
neira indireta, ao benzer uma peca de roupa ou objeto que tenha
estado em contato intimo com o individuo doente. Pela reza, a
benzedeira suprime os sinais da doena que teriam passado por
contato (como a dor, por exemplo) da pessoa as coisas, eliminando
sua presena num e noutro.
Muitos dos procedimentos teraputicos da benzedeira tem por
base uma concepo de doena enquanto "mal que se entranha"
no corpo que preciso extirpar. Segundo M. A. Ibanez, em suas
observaes sobre os sistemas tradicionais de sade no interior de
Minas Gerais, a benzedeira procura, atravs de gestos rituais,
extrair ou absorver essa "ruindade" que se entranhou no corpo: a
enzipa, por exemplo, um mal que quando progride atinge at os
ossos; o quebranto se torna mortal quando atinge as tripas.124
Assim, embora a atuao da benzedeira se distinga da atuao
do curandeiro pelo seu carter eminentemente mgi co, os dois
agem dentro de um mesmo universo de conhecimentos que tem
como perspectiva uma ao direta e emprica sobre uma doena
conhecida, uma vez que o Diagnstico e suas causas so frequente-
mente deter minados em funo de um saber que comum ao
grupo como um todo.
Todo esse universo de conhecimento tradicional, onde as doenas
eram mais ou menos familiares e estveis e os remdios conhe-
cidos capazes de responder mais ou menos satisfatoriamente as
necessidades corriqueiras de cura, tende a ser afetado pelo processo
de industrializao e urbanizao do pais que se inaugura a partir
dos anos 30. Ao lado das descobertas tcnico-cientficas que per-
mitiram a Medicina um controle cada vez mais eficiente sobre as
doenas infecciosas, as novas condies de vida na periferia das
cidades, a misria, o trabalho fabril, transformaram inteiramente o
quadro nosolgico caracterstico dos perodos anteriores. A febre
amarela, varola e lepra, doenas pestilncias do passado, do lugar as
chamadas "doenas de massa" (verminose, esquistossomose,
desnutrio, etc.), que, segundo alguns autores como Paim, Leser e
Singer, esto diretamente associadas as condies de vida e trabalho da
populao.* Ao lado das "doenas de massa", fruto das condies de
subsistncia das camadas urbanas mais desfavorecidas, a sociedade
industrial v surgirem problemas relativos a pr6pria natureza do
trabalho realizado com por exemplo os acidentes de trabalho, que
incapacitam e matam grande parte da fora produtiva do pais.*
Finalmente, vrios autores apontam, entre as principais causae
mortis da populao brasileira no atual perfumo, as doenas cr6nicas
e degenerativas, que resultam das condies de tenso a que as
contradies da vida urbana submetem cotidianamente o
individuo.*** Embora boa parte destas ltimas ocorram indistinta-
* Les er at r i bui a per da da c apaci dade aqui si t i v a da popul a o paul i s t a
entre 1960-1970 o aument o da mort al i dade i nf ant i l do per odo. Pai m encont ra
rel aes posi t i vas ent re os bai xos n vei s de r enda e a pr ecar i edade dos
condi es de sade da popul ao. Paul Si nger e seus col aboradores t ent am
most rar a dependnci a entre f atores ambi ent ai s negat i vos como bai xa escol a-
ridade e baixa renda e a mortalidade infanti1.125
* Segundo dados apresentados pelo 1NPS relativos a dcada de 70, temos:
ANO
ACI DENTES
MORTES
MORT ES/ ACI DENT ES
(x 1.000)
Di ferenas anuai s
N.
Di ferenas
anuai s
1971 1.325.4(11
2.559
1,93
1972 1.476.223 + 11,38% 2.805 + 9,61 1,90
1973 1.578.243 + 6,91% 3.122 + 11,30 1,98
1974 1.893.986 + 20,01% 3.820 + 22,36 2,02
1975 1.916.187 + 1,17% 3.942 + 3,19 2,06
1976 1.743.825 9,00% 3.900 1,07 2,24
Observa
.
do: + aument o, di mi nui c5o, com r el ao ao ano i medi at ament e
ant er i or . Mi ni s t r i o do Pr ev i dnc i a Soc i al e Mi ni s t r i o d o Tr abal ho. 126
Se t omar mos o ano de 1975 t er emos, em medi a, 6. 283 ac i dent es por di a
til de t rabal ho. Se si t uarmos nesses ci nco anos a medi a de mortes por 1.000
a c i d e n t e s em t e r e mos q u e e m c a d a 1 . 0 0 0 a c i d e n t es 2 0 0 s o mo r t a i s , o
que nos d a dimenso da gravidade do problema.
* Segundo dados forneci dos pel o 1113GE, temos que, entre as pri nci pai s
causas de mort e em 1955 e 1972/ 73, em al gumas capi t ai s br asi l ei ras, est o em
primeiro lugar as gastrenterites, seguidas de doenas do corao, neoplasma
64
mente em todas as camadas sociais, Segundo dados apresentados
por Ana Maria Tambellini o risco de incidricia torna-se maior nas
classes economicamente mais desfavorecidas.*
A medicina popular tradicional, com seu repert6rio mais ou
menos esttico de doenas conhecidas e remdios apropriados,
noconsegue adaptar-se as necessidades impostas por um quadro
nosolgico to diverso. Com efeito, se fizermos uma analise mais
detalhada do conjunto de doenas de que se ocupa a medicina rstica,
podemos perceber que o conj unto de er vas, rezas e remdios
populares giram em torno das funes essenciais da vida: comer
beber, respirar e procriar. Das 2.340 indicaes e meizinhas que
pudemos levantar a partir das pesquisas realizadas em Minas Gerais,
Amazonas, Ceara e Alagoas," pode-se perceber uma ntida
concentrao de remdios para os distrbios do aparelho digestivo (indi
maligno e tuberculose. Mas enquanto as primeiras tendem a decrescer pro-
gressivamente, as do corao e os neoplasmas tendem a aumentar.
PRI NCI PAL S CAUSAS DE MORT E EM / 9 55 E 19 7 2/ 73
EM AL GUMAS CAP I T AL S BRASI L EI RAS.
incidncia por 100.000 habitantes.127
CA PI -
TATS
GAS I RO-
ENTERITES
DOENAS DO
CORAO
N EOP.
MALIGNo
I U BERCULOSE
Recife 1955 421,6 125.5 69,5 93,4
1973 160,3 172,5 76,8 48,9
Rio 1955 140,4 216,9 98,7 89,6
1973 20,9 190,9 118.O 30,2
B. Hte. 1955 346,O 269,9 105,5 111,9
1973 116,2 167,1 107,4 42,3
P. Alegre 1955 164,4 152,1 128,O 137,9
1973 30,7 191,7 100,7 22,8
Ana Mari a Tambel l i ni Arouca, citando autores como A. Carval ho e E.
Costa, que trabalharam em pesquisas sobre cncer, observa Major incidncia
desse tipo de doena entre as classes economicamente desfavorecidas.
128
Se-
gundo fontes do IN PS sobre a prevalncia global das doenas incapacitantes
em 1975, temos que: a) as doenas mentais so responsveis por 17,3%
dos auxilios-doena concedidos e por 31,4% dos benefcios de manuteno;
b) as doenas cardiovasculares respondem por apenas 7,2% dos auxlios e
por 17,5% dos benefcios: c) as doenas reumticas e sseas so a causa de
10,4% dos auxilios-doena concedidos e por 14,5% dos benefcios. A partir
desses dados temos que as doenas mentais prevalecem entre os segurados
do INPS. o que demonstra sua grande incidncia entre a populao econo-
micamente ativa do pais.129
65
gesto, dor de barriga, etc.) e do aparelho respiratrio (tosse, asma,
bronquite, resfriados, etc.).
interessante notar que Lycurgo dos Santos Filho faz seme-
lhante observao com relao aos primeiros sculos da Histria
brasileira: "Outrora a patologia conhecida do aparelho digestivo
apresentou-se abundante, assaz diversificada, e a sua rica sintomato-
logia proporcionou aos profissionais e curandeiros a maior parte de
sua clientela."
131
Os problemas referentes a complicaes do aparelhe
reprodutivo (regras, contracepo, parto) so tambm muito re-
correntes. Os males de pouca gravidade e mais diretamente relacio-
nados com os aspecto fsico esterno do doente detm imensa quanti -
dade de indicaes no repert6rio de cuidados e preparados: derma-
toses de toda espcie perebas, unheiros, coceiras, tumores, hema-
tomas e ferimentos sic) medicados a partir de riqussima varie-
dade de plantas, dietas, benzees e meizinhas.* Quando se compara
o Repertorio assim obtido com a patologia reconhecida e descrita por
viajantes e profissionais do perodo colonial, pode-se perceber que o
universo de entidades mrbidas percebidas e medicadas nos dois
casos , com algumas excees, praticamente o mesmo. Das doenas
descritas e caracterizadas pela nosografia ibrica do perodo e
repertoriada por Lycurgo a partir de documentos da poca s no
encontramos referncias, nas relaes de receitas populares que
consultamos, a remdios para varola e maculo. As febres, que
tanto no caso da Medicina de origem ibrica quanto no caso da
medicina popular eram consideradas uma entidade m6rbida em si e
no um sintoma, como acontece com a medicina pos-bacteriolgica,
recebiam uma classificao mais complexa e diferenciada no caso da
Medicina ibrica, em que se distinguiam tipos em funo de sua
apresentao e evoluo.
132
No caso dos medicamentos da medicina
rstica, praticamente a tinica febre que aparece de forma
Tumoraes e dermatoses 408, funes digestivas 398, funes
respiratrias 228, funes reprodutoras 174, aparelho urinrio 152, doenas
infecciosas e parasitarias 143, reumatismo 105, febres 90, tnicos 81,
doenas venreas 81, sistema nervoso 81, rgos dos sentidos 65, outros
60, dor 55, sexualidade 45, envenenamento 41, aparelho circulatrio 37,
cuidado das crianas 36, dentio 35 e mau-olhado 23. Total 2.340.
Observao: Este repertrio foi obtido a partir de registros realizados em
perodos recentes (dcadas de 60 e 70), o que explica o aparecimento de
entidades mrbidas ainda no conhecidas no sculo passado tais como o
tifo e outras doenas de origem bacteriolgica.
66
mais caracterizada a febre palustre (malaria), para a qual encon-
tramos grande quantidade de remdios.* Temos portanto que, embora
durante esse perodo as tcnicas teraputicas populares se dife-
renciassem daquelas veiculadas pela Medicina europ6ia as pri-
meiras centradas na utilizao de ervas, razes, benzecties e simpa-
tias, as segundas ocupadas em sangrar, lancetar e medicar atravs
de simplices de origem europia como o mercrio o conjunto de
males percebidos e caracterizados nos dois casos se configura
de maneira mais ou menos semelhante. As transformaes tecnico
cientficas da Medicina por um lado, e o processo de urbanizao
por outro, alteram profundamente essa situao. Com o desenvolvi-
mento da pesquisa medica, que se inicia no final do sculo passado, a
Medicina passa a diagnosticar e a controlar as causas bacteriolgicas
de entidades mrbidas at ento no identificadas como o tifo, ou
cujo quadro mrbido era confuso, como o sarampo, muitas vezes
confundido com a varola, e a lepra, confundida com algumas
dermatoses.
136
O mesmo no acontece com o Repertorio popular,
que permanece praticamente inalterado, apesar de ter includo
alguns remdios relativos as doenas microbianas definidas a partir
do sculo XIX tais como as anginas e o prprio tifo. Com o desen-
volvimento do processo de urbanizao surgem, como vimos, novas
* Pode-se talvez levantar algumas objees quanto a validade
dessa comparao, uma vez que Lycurgo registra a patologia mrbida
reconhecida no perodo, pela Medicina oficial, a partir de documentos da
poca, enquanto que nos recorremos a material coletado em pocas mais
recentes (1960-70). No entanto parece-nos que, embora tardiamente
registrado, alguns exemplos nos levam a afirmar que esse saber popular,
transmitido oralmente de gerao a gerao, permanece mais ou menos o
mesmo ao longo desse perodo: a receita preventiva contra "ar de estupor", por
exemplo, registrada por Alfredo Toledo em seu trabalho Os mdicos dos
tempos coloniais, pode ser encontrada ainda hoje, no interior mineiro,
segundo registro de Waldemar de Al meida Barbosa.
133
Outro exemplo e o
emprego da jurubeba, ainda muito comum no alto do So Francisco, contra
os males de fgado, cujo use Jos Caetano Cardoso, cirurgio-mor do regimento
de Linha, descrevia em 1813.134 Tamb 'in M. Stella de Novaes cita a
realizao de uma "grande exposio regional de plantas medicinais em
Cachoeiro do Itapemirim no sculo passado, cujo repertorio recobre
exatamente as entidades mrbidas reconhecidas pelos registros de aplicaes
populares mais recentes obtidos em outros Estados: febres, distrbios dos
aparelhos digestivo, urinrio e respiratrio, envenenamentos, etc.
13
5 Os exemplos
dessa permanncia mais ou menos inalterada dos conhecimentos da medicina
rstica podem ser multiplicados, o que nos permite, a nosso ver, essa
extrapolao interpretativa no que diz respeito a medicina rstica do passado.
67
entidades mrbidas, tpicas do fenmeno industrial, para as quais o
Repertorio tradicional da medicina rstica se torna estreito e
inadequado. Pode-se dizer que essa "inadequao" explica, em
parte, o desaparecimento progressivo dos agentes teraputicos tra-
dicionais, observado por vrios autores em diversas regies em
processo de urbanizao do pais,* e sua substituio cada vez mais
ampla pelos "curandeiros espritas"," novo agente teraputico pro-
duzido pelas classes populares em resposta as imposies da vida
urbana e as restries que a Medicina oficial passa a impor ao
exerccio de suas peralteias teraputicas. Ora, pode-se dizer, de um
modo geral, que a teraputica umbandista responde de maneir a
mais "adequada" a essas exigncias na medida em que redefine
inteiramente o espao social de atuao da medicina popular: o
ritual teraputico umbandista abandona o carter emprico que
definia a atuao de raizeiros e benzedeiras, voltada para a
supresso de doenas conhecidas de antemo, e passa a operar
inteiramente no domnio do simblico: plantas, ervas e gestos
atuam na umbanda pelo seu poder de evocao, pela fora mstica
que representam; perdeu-se completamente aquele sabor que reconhecia
determinadas entidades mrbidas e orientava sua teraputica em
funo dos efeitos empricos de ervas e vegetais sobre o corpo
humano.***
* Ver, por exemplo, Alceu Maynard de Aratijo, A medicina
rstica; Vanzenande, Catimb; Queiroz, M. S., Feitio, mau-olhado e susto:
seus tratamentos e prevenes.
** Mesmo no meio rural, onde agentes populares da medicina rstica ainda
existem e exercem com freqncia seu oficio, as precrias condies de vida do
homem do campo tem causado transformaes profundas no quadro tra-
dicional das doenas. Pesquisas sobre as condies de sade do homem do
campo, como O meio grito,
137
realizado no interior de Goias em 1980, mos-
tram uma certa perplexidade do campons diante dos males que no mais
compreende: "Esta aparecendo doena que a gente nem no entende. Existe
anemia, o povo desanimado, as crianas miudinhas, de idia ruim"; "Febre,
gripe, rim, anemia, vermes, plida, preguioso, desanimo, dor de dente, dor
nas costas, ningum sabe o que " (Grupo de lagartixa em nosso Brasil).
*** Antonil, em suas andanas pelo Brasil, observa a utilizao corrente do
tabaco com finalidades teraputicas: "Eu, que de nenhum modo use dele,
ouvi dizer que o fumo do cachimbo, bebido pela manha em jejum, modera-
damente, desseca as umidades do Estomago, ajuda a digesto e no menos a
evacuao diria; alivia o peito que padece de fluxao asmtica; e diminui a
dor insuportvel dos dentes."
138
O pensamento umbandista utiliza do mesmo
modo o tabaco, mas com finalidades distintas: o mdium, tornado pelo seu
caboclo ou preto-velho, sopra a fumaa de seu cachimbo ou charuto
68
A umbanda guarda o nome de certos vegetais, como a jurema, a
arruda e as folhas para infuses, mas as utiliza de maneira ritual,
sem relao com suas propriedades qumicas, que na major parte
das vezes so para os umbandistas inteiramente desconhecidas. O
mesmo processo de reinterpretao se da na recuperao umbandista
da benzedeira: embora a "benzeo" seja um ritual mgico, agindo
nesse sentido inteiramente no campo do simblico, ela no pode ser
recuperada tal e qual pela umbanda posto que atua num universo j
codificado de doenas as quais procura suprimir analgicamente
(cortar a fita/cortar as bichas), ou por contato. A umbanda no
recupera esse universo de conhecimento sobre as doenas: no h.
mais rezas especificas para doenas conhecidas; a ao do curador
esprita no ataca diretamente uma doena, visando suprimi-la,
como no caso da benzedeira. O mdium esprita, possudo por um
saber que no a mais dele,* visa o corpo doente independentemente
do conhecimento de suas funes orgnicas, e procura retirar, com
gestos rpidos e enrgicos das mos (os passes), no a doena que
desconhece, ou que no importa conhecer, mas os "maus flui dos"
que acompanham o paciente e o fazem sofrer. Os passes
umbandistas visam pois o corpo doente enquanto expresso obje-
tiva do sofrimento, muitas vezes inefvel, de um "eu" singular. A
funo teraputica se realiza neste caso baseada num cdigo que
se detm no individuo, com suas idiossincrasias particulares. A
doena ganha, pois, na umbanda, um sentido inteiramente original:
embora "um mal" aparea, localizado em um ponto do corpo, e deva
ser extirpado, este mal no mais uma simples disfuno orgnica
(embora tambm o seja) a ser corrigida, mas se torna uma fal a: a
expr esso de um "eu no mundo". O ri t ual t eraput ico
umbandista no visa, portanto, como o fazia a medicina rstica,
uma doena especifica, geograficamente situada num corpo, mas
uma totalidade que, como veremos em detalhe nos captulos seguin-
tes, encerra as relaes da pessoa com o mundo social e sobre -
natural. E interessante observar que o quebranto (mau-olhado),
sobre o corpo doente para lavr-lo de seus males. Charuto e
cachimbo so objetos rituais, caractersticos dessas entidades, que agem
sobre a doena pela sua forma mstica, sem levar em conta, como no caso de
Antonil, seus efeitos empricos sobre o organismo.
* "Os atos de meu guia, eu no sei responder", diz Gilberto, "eu fao benzi
mento que eu nunca fiz na minha vida. Eu no sei uma palavra de rezar,
no sei uma palavra da orao que ele reza."
69
elemento tpico do sistema tradicional de explicaes da doena,
recuperado e se torna, na umbanda, fator causal importante dos
fenmenos mrbidos. Marcos de Queiroz em sua pesquisa em Ica-
para observa que, "apesar do desaparecimento progressivo do siste-
ma teraputico tradicional, a creno no `mau-olhado' permanece e
se refora". Ao contrario do que ocorreu com a lgica do quente e fresco,
diz ele, essas crenos no tem dado mostra de se enfraquecerem
diante da intensiva mudana social que sofre o mundo da aldeia.
Pela opinio de muitos, elas chegam a se manifestar com intensidade
ainda maior, j que se diz que hoje em dia aparecem muito mais
feiticeiros * ou pessoas invejosas do que antigamente.139 Como explicar,
ento, apesar dessa permanncia, o desaparecimento dos benzedores e
a preferncia cada vez maior pelos "curandeiros espritas" que,
segundo Marcos de Queiroz, praticamente absorveram os servios
antes prestados por aqueles?
140
Na verdade o sistema teraputico
umbandista opera uma disjuno entre o aspecto mgico e o emprico, que
apareciam na medicina rstica estreitamente associados, e, suprimindo
o segundo termo, desenvolve com exclusividade o primeiro. Todos os
elementos que na medicina rstica eram utilizados no sentido de
obter uma eficcia emprica sobre a doena So retomados, mas
passam a ser utilizados de maneira metafrica. Essa espcie de
metamorfose da medicina popular, que retomando elementos
tradicionais lhes transforma a natureza, pode ser mais bem
compreendida quando se considera o processo de racionalizao
progressiva que acompanha o desenvolvimento cada vez mais amplo
das sociedades industriais modernas. Neste processo, a Medicina
universitria com seu desenvolvimento tcnico-cientfico, sua
atuao cada vez mais eficaz sobre as doenas que at ento domi -
navam o quadro mrbido da sociedade brasileira, eliminou os espaos
tradicionais onde uma medicina popular, essencialmente vol tada
para a soluo emprica da doena, poderia subsistir. Com efeito,
a medicina popular tradicional no pode mais competir, como
nos perodos anteriores, com a Medicina oficial na organizao e no
controle das causas empricas das doenas. Para subsistir teve que
operar essa ruptura entre a eficcia emprica e a eficcia simblica,
privilegiando a ltima e transformando em "mito" ou
A noo de feitio, familiar ao mundo cristo e a tradio
cultural dos negros africanos, tambm a recuperada pelo pensamento
umbandista, e nele, como veremos adiante, permanece de maneira extremamente
atuante.
70
metfora os saberes, que por se constiturem num estoque acumu-
lado de experincias de cura funcionavam como um cdigo universal
para o tratamento das doenas, cdigo este que operava em mesmo
nvel de generalidade que o cdigo da Medicina oficial de origem ibrica.
Ora, na medida em que a sociedade moderna se "biologiza", ou se
torna cada vez mais racional e eficaz no domnio do emprico, o
cdigo cientfico supera o cdigo universalizante da medicina
mstica e se impe como hegemnico. Mas exatamente na medida
em que o f az, isto , na medida em que se impe como um mtodo
empirico eficaz, abrem-se espaos sociais de profusa criao
simblica onde o complexo doena-cura passa a revestir-se de significados
inteiramente distintos dos significados populares tradicionais. So
esses novos significados, e a maneira como eles se organizam num
sistema mgico-religioso original, que procuraremos agora compre-
ender.
71
NOTAS
1. In MACHADO, A., Vida e morte do bandeirante, p. 97.
2. Reproduzido in CABRAL, O., Medicina, mdicos e charlates do passado,
1942, p. 4.
3. MACHADO, R. e outros, Danao da norma, Rio de Janeiro, Graal,
1978, p. 171.
4. SANTOS FILHO, L., Histria da medicina no Brasil, So Paulo, Ed.
Brasiliense, 1947.
5. NOVAES, M. S. de, Mdicos e remdios no Esprito Santo, 1964, IHGES.
6. SANTOS FILHO, op. cit.
7. SANTOS FILHO, L., Histria da medicina no Brasil, So Paulo, Hucitec,
1977, p. 51.
8. Idem, pp. 47, 48.
9. Idem, p. 309.
10. Idem.
11. PEREIRA, Nuno Marques, Compendia narrativo do peregrino da
Amrica.
12. SIGAUD, Du Climat et des Maladies au Bresil, Paris, Chez Fortin, Mas-
son et Cie. Librairies, 1844.
13. ANTONIL, Cultura e opulncia no Brasil, Lisboa, 1711, traduo fran-
cesa Ed. Institut des Hautes Etudes de L'Amerique Latine, Paris, 1968.
14. Ver ANCHIETA, "Cartas avulsas", in Leite, Serafim, Os jesutas no Brasil
e a medicina, Lisboa, 1936, separata da revista Patrus Nonius.
15. SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 153.
16. MACHADO, R., op. cit., p. 28.
17. Idem, p. 38.
18 SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 321.
19. SOMARRIBA, M., A prtica medica atravs dos tempos. Medicina no
escravismo colonial; Belo Horizonte, 1980.
20. SERAFIM LEITE, "Histria da Companhia de Jesus no Brasil", in
Lycurgo Santos Filho, op. cit.
21. In Serafim Leite, Os jesutas no Brasil e a medicina, Lisboa, 1936.
22. Ver Lycurgo, op. cit., p. 126.
23. QUEIROZ, M. I. P., Os catolicismos brasileiros, So Paulo, Cadernos
do CERT, 1971, n. 4.
72
24. Ver Primeira visita geto do Santo Officio, Confissties da Bahia, p. XVIII.
25. BASTIDE, R., As religies africanas no Brasil, So Paulo, Ed. USP, 1971, 2
Vol.
26. CASCUDO, L. Camara, Malaegro, Rio de Janeiro, Livraria Agir, 1951.
27. FERNANDES, Gonalves, O folclore mgico do nordeste, p. 10.
28. Ver descrio de Carlos Estevo de Oliveira, "Ossuario da gruta do
padre", 1943, in R. Bastide, op. cit., p. 245.
29. KOSTER, H., Viagens ao Brasil, Londres, 1816.
30. BASTIDE, R., op. cit., p. 246.
31. VANZENANDE, R., "Catimbel", Tese de Mestrado, UFPB, 1976, p. 131.
32. CASCUDO, L. C., Novos estudos afro-brasileiros, Rio de Janeiro, Bib.
de Divulgao Cientfica, 1937, p. 87.
33. VANZENANDE, R., op. cit., p. 145.
34. CASCUDO, L. C., op. cit., p. 79.
35. VON MARTIUS, in Campos, E., Medicina popular, So Paulo, Ed. Casa
do Estudante do Brasil, 1955, p. 88.
36. ANDRADE, M. de, Mgica e feitiaria no Brasil, So Paulo, Ed. Mar-
tins, 1964.
37. MOTTA, R., As variedades do espiritismo popular na rea do Recife:
ensaio de classificao, Recife, Boletim da Cidade de Recife, dezembro de
1977, pp. 105-106.
38. CASCUDO, L. C., idem, p. 95.
39. VANZENANDE, R., op. cit., p. 122.
40. Ver Santos Filho, L., op. cit., p. 340.
41. in Cascudo, op. cit., p. 87.
42. CARVALHO, Jos, "O Matuto Cearense e a Cabocla do Para", in Luis
da Camara Cascudo, op. cit., p. 82.
43. BASTIDE, R., op. cit.,
44. QUEIROZ, M. I. P. de, op. cit., p. 169.
45. BASTIDE, R., op. cit., p. 89.
46. Idem.
47. VALLADARES, C, P., A iconologia africana no Brasil.
48. BASTIDE, R., op. cit., p. 96.
49. Idem.
50. QUEIROZ, M. I. P. de, op. cit.
51. Idem.
52. Idem, p. 174.
53. Ver OTAVIO DA COSTA, Eduardo, Lhe Negro in Norlheast Brazil, e
Bastide, R., op. cit., p. 396.
54. BASTIDE, R., op. cit., p. 403.
55. ANDRADE, M., Mgica e feitiaria no Brasil, So Paulo, Liv. Martins,
p. 169.
56. Editado por Paulo Prado e a Sociedade Capistrano de Abreu, So Paulo e
Rio de Janeiro, 1929, p. 35.
57. ANTONIL, op. cit., pp. 129-130.
58. DORNAS FILHO, J., Achegas de etnografia e folclore, Belo Horizonte,
Imprensa Publicaes, 1972, p. 61.
59. RODRIGUES, Nina, L'Animisme Fetichiste des Negres de Bahia, 1890
60. BASTIDE, op. cit., p. 190.
73
61. RIO, Joo do, As religies do Rio, Rio de Janeiro, Ed. Nova Aguilar,
1976, pp. 37 e 40.
62. TOLLENARE in Bastide, op. cit., p. 191.
63. SAINT HILAIRE, Voyages dans les Provinces de Rio de Janeiro et Minas
Gerais, Paris, 1930.
64. BASTIDE, R., op. cit., pp. 487-88.
65. RAMOS, A., As culturas negras, Rio de Janeiro, Ed. Casa do Estu-
dante do Brasil, Vol. III.
- MALHEIRO, M., Etnografia angolana, Luanda IICA, 1967.
66. DORNAS FILHO, J., "O Diabo no Legendrio Brasileiro", in Achegas
de etnografia e folclore, Belo Horizonte, Imprensa Publicaes, 1971.
67. QUEIROZ, M. 1. P. de, op. cit., p. 174.
68. Idem, p. 176.
69. BASTIDE, R., op. cit., p. 481.
70. SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 359.
71. BASTIDE, R., op. cit., p. 487.
72. CAMPOS, E., Medicina popular, SR) Paulo, Ed. Casa do Estudante do
Brasil, 1955, p. 168.
73. TOLEDO, Alfredo, "Os Mdicos dos Tempos Coloniais", in Barbosa,
Waldemar de Almeida, A decadncia de Minas e a fuga da minerao, Belo
Horizonte, 1971.
74. MACHADO, A., op. cit., p. 100.
75. CAMPOS, E., op. cit., p. 35.
76. BARROSO, G., Terra do sol, Rio de Janeiro, Liv. Francisco Alves, 3.8
ed., 1980,
77. SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 354.
78. Idem, pp. 354-355.
79. BASTIDE, R., op. cit., p. 484.
80. SALVADOR, Frei Vicente de, Histria do Brasil, 1500-1627, publicado no
Rio de Janeiro, em 1887, in Lycurgo, op. cit., p. 355.
81. FERNANDES, G., O sincretismo religioso no Brasil, So Paulo, Ed.
Guaira Ltda., 1941.
82. HOORNAERT, E., Histria da igreja no Brasil, Rio de Janeiro, Vozes,
1977.
83. ZALUAR GUIMARAES, A., Os homens de Deus: o milagre. Religiosi-
dade popular II - CEI, Suplemento, 13 de dezembro de 1975, p. 37.
84. In Revista do Arquivo Palleo Mineiro VIII.
85. SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 346.
86. MACHADO, R., op. cit., p. 176.
87. Idem, p. 177.
88. Idem, p. 200.
89. Idem, p. 194.
90. MOREIRA, Nicolao Joaquim, Rpidas consideraes sobre o maravilhoso,
o charlatanismo e o exerccio legal da medicina e pharmacia, 1862.
91. A Regenerao, Rio de Janeiro, 14/12/1879.
92. Posturas, 8/10/1831.
93. MOREIRA, N. J., op. cit., p. 13 (grifo nosso).
94. MACHADO, R., op. cit., p. 198.
95. MOREIRA, N. J., op. cit., p. 14.
74
96. MACHADO, R., op. cit., p. 199.
97. Idem, p. 194.
98. Idem, p. 196.
99. Idem, p. 199.
100. O Argos, Rio de Janeiro, 9/8/1859.
101. O Argos, Rio de Janeiro, 2/9/1856.
102. CABRAL, O., Mdicos e charlates do passado, p. 275.
103. SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 311.
104. RIBEIRO, Lourival, Medicina no Brasil colonial, Rio de Janeiro, 1976.
105. MOREIRA, N. J., op. cit., p. 8.
106. CABRAL, O., op. cit., p. 267.
107. SANTOS FILHO, L., Imprensa medica e associaes cientficas paulis-
tas, separata da Imprensa Medica, 1959.
108. LUZ, M. T., Sade e instituies mdicas no Brasil, Org. Reinaldo
Guimares, Rio de Janeiro, Graal, 1978, p. 158.
109. ARAUJO, A. M., A medicina rstica, So Paulo, Ed. Brasiliana, p. 154.
110. Idem, p. 157.
111. VANZENANDE, op. cit., p. 140.
112. ARAUJO, op. cit., p. 157.
113. FONTENELLE, R., Aimors - Anlise antropolgica de um programa
de sade, DASP, 1959, p. 60.
114. Idem, p. 20.
115. Idem, p. 25.
116. QUEIROZ, M. S., "Feitio, Mau-Olhado e Susto: Seus Tratamentos e
Prevenes - Aldeia de Icapar", Religio e Sociedade, n. 5, 1980.
117. CABRAL, O., op. cit., p. 57.
118. CAMPOS, M. S., Poder, sade e gosto: um estudo antropolgico acerca
dos cuidados possveis com a alimentaoo e o corpo, So Paulo, Cortez,
1982, p. 129.
119. RODRIGUES, A. G., "Alimentao e Sade", Tese de Mestrado, UNB,
1978.
120. KWOORTMANN, Hbitos e ideologia alimentares em grupos sociais de
baixa renda, Braslia, UNB, 1978, p. 105.
121. CAMPOS, M. S., op. cit., p. 56.
122. FERNANDES, F., "Aspectos Mgicos do Folclore Paulistano", in Fol-
clore e mudana social na cidade de So Paulo, Petrpolis, Vozes, 1979, 2.a
ed., p. 346.
123. Idem, p. 340.
124. IBASIEZ, M. A., Sistemas tradicionais de gio para a sade, Braslia,
1977, p. 30.
125. Ver LESER, W., "Relacionamento de Certas Caractersticas Populacio-
nais com a Mortalidade Infantil de So Paulo de 1950-1970", Pb. Brasileiro
10(109) 17, 1972.
PAIM, J. S., "Indicadores de Sade no Brasil", Rev. Bahiana de Sade
Pblica, Salvador (2) 1975.
SINGER, P. e COL., Prevenir e curar - O controle social atravs dos
servios de sade, Rio de Janeiro, Forense, 1978.
126. In AROUCA, Ana M. Tambellini, "O Trabalho e a Doena", in Sade e
medicina no Brasil, Rio de Janeiro, Graal, 1978.
127. In SINGER, Paul, op. cit., p. 42.
75
128. Ver CARVALHO, A., "Cncer como Problema de Medicina Tropical", in
Revista de Cancerologia 23(35): 65, 1977.
COSTA, E., "Mortalidade por Cncer Ginecolgico no Rio de Janeiro",
Rev. Brasileira de Cancerologia 26(6): 41, 1976.
AROUCA, Ana M. Tambellini, "Analise dos Determinantes das Condi -
es de Sade da Populao Brasileira", in Sade e medicina no Brasil,
Rio de Janeiro, Graal, 1978.
129. In SINGER, Paul, op. cit., p. 84.
130. Ver MARTINS, Saul, Os barranqueiros, Belo Horizonte, Centro de
Estudos Mineiros, 1969.
BARBOSA, Waldemar de Almeida, A decadncia das minas e a fuga da
minerao, Belo Horizonte.
CAMPOS, Eduardo, Medicina popular do nordeste, Livraria Casa do
Estudante do Brasil, 2.
a
ed., 1955.
CID, Pablo, Plantas medicinais e ervas feiticeiras da Amaznia, Atlantis,
1978.
ARAUJO, Alceu Maynard de, Medicina rstica, Brasiliana.
131. SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 218.
132. Idem, p. 166.
133. TOLEDO, A., "Os Mdicos dos Tempos Coloniais", in Barbosa,
Waldemar de Almeida, op. cit., p. 261.
134. CARDOSO, J. C., Revista APM VII, p. 750.
135. NOVAES, M. S., "Medicina e Remdios do Esprito Santo", 1HC, p. 61.
136. Ver SANTOS FILHO, L., op. cit., p. 164.
137. "O Meio Grito" - Estudo sobre Condies e Direitos Associados ao
Problema da Sade, Cadernos do CEDI/3, marco de 1980, p. 16.
138. ANTONIL, Cultura e opulncia do Brasil, 1711, p. 318, traduo fran-
cesa e comentrios crticos por Ananee Mansuy. Inst. de H. E de L'al, 1965.
139. QUEIROZ, M., op. cit., p. 144.
140. Idem, p. 157.
77
II
O CAMPO DA SADE
E O PODER DE CLASSE
ANALISAR AS CONCEPES populares da doena e ao
mesmo tempo compreender de que maneira se articulam no campo
da sade as relaes entre as classes. Autores como Canguilhem,
Foucault e Boltanski, na Franca, e Guillon, Loyola, Madel Luz e
Guimares, no Brasil, tem tentado demonstrar que o "estar doente",
por um lado, e os sistemas de cura, por outro, no constituem
simplesmente uma ao tcnica e objetiva sobre um complexo
biofisiolgico, mas consubstanciam, ao contrario, uma realidade
mais complexa em que as representaes simblicas, a organizao
social e a lgica dos interesses econmicos determinam, para
almdo biolgico, os limites, o modo de aparecer do fenmeno
mrbido e os meios escolhidos para a cura.
A maior parte dos trabalhos que procuram apreender as
relaes de poder que atravessam o sistema Doena-Cura privilegia
a analise das instituies medicas oficiais. Dentre os autores que se
lanaram a esse tipo de analise podemos distinguir trs nveis
distintos de preocupaes:
a) Num primeiro nvel esto autores como M. Foucault, R.
Castel, R. Machado, etc., que procuram compreender a
articulao entre Medicina e o processo poltico de manuteno
78
de hegemona ou simplesmente de controle de um grupo social
sobre outro;
b) Num segundo nvel situam-se os trabalhos de perspectiva
mais antropolgica, que procuram compreender o sistema sale-
doena atravs das variaes culturais que o deter minam.
Por um lado, os escritos de autores como R. Benedict
discutem o problema da relatividade cultural da defi nio
do Normal e do patolgico; por outro, autores como Bastide,
L. Strauss, Ortigues Zemplini, entre outros, pem em
destaque o papel das representaes simblicas na
constituio do fenmeno mrbido e no processo de sua
superao;
c) Finalmente, num terceiro nvel, encontram-se autores como C.
Donnangelo, C. de Oliveira, P. Singer e outros, que
tentam perceber os nexos existentes entre prtica medica e
reproduo da estrutura de classes por um lado, e prtica
medica e processo de acumulao capitalista de outro.
Retomaremos rapidamente os problemas colocados por esses
autores, na medida em que nos permitem balizar a questo terica
que aqui nos interessa, ou seja: de que maneira a analise do campo
da sade nos leva a compreenso das relaes de poder tal como
elas se instituem na organizao das sociedades contemporneas.
* * *
A reflexo sobre a natureza dos fenmenos patolgicos ou
sobre os critrios que o definem recoloca o problema da doena,
tanto orgnica quanto mental, no mbito das relaes sociais que a
engendram e determinam. E claro que a doena mental, pela sua
prpria natureza, se tornar o alvo privilegiado desse tipo de
abordagem que procura apreender, para almdo fisiolgico, a
organizao social e simblica dos fenmenos mrbidos. As abor-
dagens sociolgicas do fenmeno da loucura pretendem arranca-la do
domnio do natural, dentro do qual a concebe uma certa psiquiatria
biologizante, e repens-la enquanto uma reconstruo social.
Justamente porque o "ser louco" transcende o mbito da observao
puramente medica, cabe as Cincias Sociais perceber de que maneira a
loucura concerne a sociedade como um todo, nela se engendrando e
por ,ela ganhando sentido. Mas tambm as doenas fsicas, mais
diretamente ligadas a causas de ordem orgnica, podem ser abordadas a
partir dessa perspectiva, uma vez que tambm envolvem, por um
lado, uma serie de representaes coletivas a respeito do
79
que estar doente ou sentir-se doente e refletem, por outro lado, a
natureza da organizao social e econmica de uma sociedade em
determinado momento da sua histria.
Vejamos primeiramente como os autores mencionados abor -
daram a questo das instituies psiquitricas em sua relao com a
doena mental.
Embora no se possa reduzir o problema da doena as suas
determinaes econmicas e polticas, a perspectiva histrica bas-
tante enriquecedora na medida em que tenta apreender o fenmeno da
doena, e particularmente a loucura, enquanto uma construo
social e no simplesmente como um fenmeno fisico-biolgico
determinado por leis naturais.
Retirar a loucura do mbito dos fenmenos naturais significa
abaliz-la do ponto de vista da Histria. Esta perspectiva nos
permite perceber que toda sociedade, nos diferentes momentos de sua
organizao, pensa a loucura e define seus loucos: essa definio
faz parte no entanto do sistema de concepes dominantes em cada
poca e responder, a sua maneira, aos problemas sociais e polticos
especficos a cada momento. R. Castel, em seu trabalho sobre o
apogeu do Alienismo no sculo XIX, mostra muito bem como o
processo da medicalizao da loucura, isto , de sua transformao
em objeto de uma prtica medica, vem responder a necessidades juridico-
politicas engendradas no bojo da Revoluo Francesa.
1
A loucura,
enquanto objeto de um saber psiquitrico, , pois, fenmeno
recente na histria das instituies asilares. A sociedade medieval a
concebe enquanto fenmeno de ordem moral, o sculo XVIII a
transforma em fenmeno animal os loucos eram enjaulados e os
curiosos lhes lanavam alimentos; somente no sculo XIX veremos a
loucura tornar-se objeto de um saber especificamente mdico.
Nesse movimento social em que as diferentes concepes de loucura
se transformam, modificam-se tambm as tcnicas de interveno
sobre ela: passamos de um momento em que o louco vagabundeava
livre pelas cidades a poca de grande represso policial do sculo
XVIII, onde se dava o internamento em massa de todo tipo de
ociosos ou vagabundos. J no sculo XIX o internamento
indiscriminado torna-se seletivo e especifico: nasce o asilo
psiquitrico, instituio responsvel pela educao e normalizao
deste ser livre e irresponsvel que o louco tornado doente. Esta
perspectiva histrica nos permite perceber que a delimitao do
80
campo da loucura no sculo XIX no se deveu tanto aos avanos
obtidos por uma observao mdico-cientfica mais elaborada, mas
sobretudo a todo um movimento economico-ideolgico que via no
internamento indiscriminado um desperdcio de fora de trabalho
por um lado, mas que percebia, por outro, que a "pri so" seletiva e
medica do louco tinha a vantagem de retir-lo legitimamente do
convvio social sem eliminar a possibilidade de sua normalizao e
de sua volts, quando necessrio, as atividades produtivas.
Na medida em que a loucura se torna, em nossa sociedade,
objeto de interveno da atividade medica, sua tutela se constitui
numa peca importante da gesto dos antagonismos sociais. Psiquia-
tras como T. Szaczchamam nossa ateno para o papel normalizador
das instituies psiquitricas ao medicalizarem comportamentos que
no se coadunam com as normas socialmente aceitas. No
existe, observa ele, comportamento algum que um psiquiatra
contemporneo no possa, com verossimilhana, diagnosticar
como anormal ou doentio; os objetivos e resultados de vrios
mtodos modernos de psicodiagnsticos (como o de Rorschach ou
o teste de Apercepo Temtica) sempre indicam a existncia de uma
patologia.
2
A doena mental constitui-se, portanto, para este autor,
como uma fabricao ideolgica da mesma natureza que aquela
que pr oduzi u a exi st ncia das br uxas na Idade Media, e que
vi sa excluir do convvio social certos grupos herticos ou
divergentes. A concepo de loucura produzida pejas prticas
asilares a que identifica o patolgico a idia de transgresso de
uma certa ordem social predeterminada: o comportamento normal
aquele que se conforma as normas, o anormal o comportamento
desviante.
Quando se analisam as instituies psiquitricas a partir dessa
perspectiva, torna-se possvel perceber o quanto uma reflexo sobre o
normal e o patolgico diz respeito as relaes de controle e coero
social que caracterizam uma sociedade como a nossa. Ao definir se o
normal pela conformidade com a norma, supe-se implicitamente
que somente o tipo mdio do conformista mentalmente sadio.
Ao identificar-se o comportamento desviante ao comportamento
patolgico, erige-se a sade em norma psiquiatricamente definida
e imposta. Mais do que nunca a psiquiatria se desvenda pois como
instrumento de poder e de controle social, uma vez que sua
abrangncia ilimitada: cada vez que se cria um novo critrio para a
definio da doena, a psiquiatria multiplica (ou desl oca) a
compreenso das classes de indivduos mentalmente doentes. As
vicissitudes do alienista de Itagua, personagem de Machado de
81
Assis, ilustram, com fina ironia, o quanto h de normativo nesse
processo: o cioso doutor Simo Bacamarte, preocupado em descobrir
as causas cientficas da loucura, nada mais f az do que ampliar, a
cada dia, o nmero de critrios capazes de defini -la com maior
preciso. Em pouco tempo, todos os habitantes de Itagua se acha-
vam aos cuidados de Simo Bacamarte, confinados no asilo Casa
Verde. Mas se a loucura se torna normal, a razo passa a definir-se
como desvio. Assim, numa inverso que deixa clara a precariedade
da norma como critrio de sade, Machado de Assis decret a a
normalidade da loucura e a loucura da razo, libertando os cidados
de Itagua e internando definitivamente seu nico doente: o equili -
brado Simo Bacamarte.3
A questo da norma nos introduz, portanto, diretamente no
mundo dos valores e da ideologia. Toda noo de doena, diz
Canguilhem, carrega implicitamente a referencia a um estado de
sade tido como norma do bom funcionamento fisiolgico. Curar
significa, pois, restaurar um certo modelo de sade definido como
normal e degradado pela doena. Ora, observa Canguilhem, toda
norma resulta de uma escolha arbitraria, uma vez que o objeto da
normalidade no normal nele mesmo a normalidade lhe
sempre atribuda. A partir desta perspectiva temos que toda defi -
nio de doena , de certo modo, e em graus variveis,
conseqncia de uma escolha arbitraria (no necessria) de uma
norma de sade socialmente construda.
4
Vemos pois que a
definio de uma norma de sade traz, em si, de maneira inelutvel,
conseqncias de ordem poltica na medida em que o grupo social
que de tem o poder dessa definio de tem ao mesmo tempo o
poder de interveno sobre os comportamentos e indivduos. Tendo
em vista que toda construo normativa arbitraria, a instaurao de
uma norma uma "escolha" que define valorati vamente o que
foge a ela. Tudo o que a referencia a ela prpria impede de
considerar como normal, deve ser normalizado. Por outro lado,
normatizar dar preferncia a uma ordem determinada de
valores, entre outras possveis, e sobretudo supe a averso a
ordem inversa, tida como desordem. O normativo no portanto
indiferente ao que o contraria; na verdade ele valoriza positiva ou
negativamente o real. Assim, definir a sade pela conformidade
com a norma sempre defini-la como conformidade a uma certa
ordem social. "Pode-se definir comportamentos", observa
Canguilhem, "mas no se pode afirmar que eles so patolgicos a partir
de nenhum critrio objetivo."
82
Reencontramos aqui o debate que ops, nos anos 40, antro-
plogos e psiquiatras. Trabalhos de investigao etnolgica, como os
de Ruth Benedict, criticavam a universalizao indevida das
categorias psiquitricas ao demonstrar a grande diversidade de
padreies culturais que orientam as condutas dos indivduos em socie-
dades distintas das nossas. "O mbito de normalidade em culturas
distantes no o mesmo", diz Benedict. "O normal estatistica-
mente determinado na costa do Noroeste cairia muito fora dos
extremos limites de normalidade nos Pueblos. O normal da luta de
rivalidade Kwakiutl seria, em Zuni, considerado mera loucura, e a
tradicional indiferena Zuni pela gloria do mundo e pela
humilhao dos outros seria estultcia de `pobre de esprito' na
costa Noroeste."
Dentro dessa perspectiva, cada sociedade
definiria para si os padres culturais a serem adotados; a categoria dos
indivduos anormais compreenderia aqueles que no se ajustam, por
tendncias pessoais inatas, as formas tradicionais de sua cultura.
Os limites dessa categoria seriam portanto culturalmente definidos.
"As atitudes paranicas to violentamente expressas entre os Kwakiutl so
consideradas na teoria psiquitrica derivada de nossa prpria civili-
zao, absolutamente isto , conducentes por vrios modos de
desintegrao da personalidade. E no entanto entre os Kwakiutl so
exatamente aqueles individuos que acham natural dar a mais livre
expresso a essas atitudes que apesar disso so os lideres da socie-
dade Kwakiutl e encontram a mais plena expressalo pessoal na sua
cult ura."
6
Assim, a paranoia dos Kwakiutl seria para a autora
comportamento normal, posto que aprovado e valorizado enquanto
tal pela coletividade nativa. Os comportamentos anormais seriam
aqueles no-admitidos pelas institui es de uma cultura dada
eles no podem, portanto, observa R. Benedict, ser definidos de
antemo, a partir de uma sintomatologia fixa e universal como o
faz a psiquiatria ocidental.
Parece-nos que o culturalismo, embora faca uma critica extre-
mamente pertinente a extenso abusiva das categorias psiquiatricas
as culturas distantes das nossas, no chega a colocar em quest o o
prpio fundamento social dessas categorias. Dizer que a paranoia
"normal" entre os Kwakiutl dizer que um certo conjunto de
comportamento e sintomas doentios sno aceitos como normais em
outras culturas; esse conjunto de comportamentos e sintomas conti -
nuam portanto sendo apreendidos e ordenados a partir de categorias
psiquiatricas. O culturalismo no leva portanto sua critica as pro-
prias categorias classificadoras da psiquiatria como "paranoia" ou
83
"megalomania", que so tambern socialmente construidas, no po-
dendo portanto constituir uma "grelha" universal de compreenso
dos comportamentos, posto que no existe um conjunto de comporta-
mentos exterior ao sistema de apreenso que os conduz e os estru-
tura. Dizer que o que patolgico para nossa cultura a paranoia,
por exemplo pode ser normal para outras simplesmente fazer
variar culturalmente a elasticidade da aceitao cultural dos fen&
menos mrbidos; mas ainda aceitar o pressuposto da existncia de
condutas patolgicas universais, anteriores ao pensamento que as
classifica. Na verdade os sistemas interpretativos do comporta -
mento sat), em qualquer cultura, ao mesmo tempo sistemas expli -
cativos e principios estruturadores das condutas globais; as relaes
de familia, as crencas, a educao das crianas, etc., so determi-
nadas pelo prpio sistema explicativo, que as apreende. A verdade da
psiquiatria noest portanto nela mesma ou no doente, qualquer
construo terica que pretenda ser explicativa dos fatos psIquicos
no se basta a si prpria. E preciso ainda perceber como essa
explicao se constroi socialmente ou, o que (1.5 no mesmo, como o
discurso explicativo se integra numa relao que, como mostra
Levi-Strauss, articula tees termos: o doente que faz a demanda, o
mdico que interpreta os sintomas e o ptiblico portador do consenso. E
este ltimo termo, o consenso social, que delimita o campo da
razo e da loucura; ele que define o doente e sua cura.7,Todo
diagnstico e toda interveno que se quer teraputica se referem
sempre, portanto, a um esquema terico que se constroi em funo de
horizontes antropolgicos especificos: toda classificao supe uma
certa definio social da doena mental, uma certa maneira de
articular os sintomas para torna-los inteligiveis, uma certa doutrina da
personalidade, etc. Esses elementos escapam ao mbito puramente
mdico e dizem respeito ao modo de organizao das culturas. Os
trabalhos de Ortigues e Zemplini desenvolvidos em Dakar, onde os
pressupostos da psiquiatria ocidental se confrontam com a lgica dos
curandeiros nativos, poem em evidncia a necessidade de se
compreender a organizao simblica cultural que sustenta qualquer
relao teraputica para que se possa operar com ela no sentido da
cura.
8
O doente portanto o aspecto menos importante do sistema
da loucura: o consenso social define o doente e a cura do doente; o
mdico (ou curandeiro) aceita a defini o social de doena e
procura refina-la, explicit-la e expandir sua abrangencia. Nessa
perspectiva temos que o psiquiatra na verdade atende o paciente
que a sociedade lhe designa: ele atende aqueles que interpretam
84
os "sintomas" como sinais de perturbaes (policia, clero, familia,
etc.). Para que a doena mental apareca enquanto tale preciso
que, por um lado, o doente assuma os comportamentos socialmente
definidos como "comportamentos de doente" e que, por outro, a
sociedade reconheca nessas condutas os sinais da doena.
O problema do patolgico assim colocado nos permite perceber de
que maneira a analise da institucionalizao da loucura enquanto
fenmeno mdico capaz de dar lugar a uma analise das relaes de
poder que estruturam nossa sociedade. Se cada cultura define para
si num dada momento histrico, e conforme seus interesses dominantes
as fronteiras que delimitam o campo da sade,quanto mais abrangente
for essa definigdo, maior a quantidade de problemas por ela
englobados e mais extensa a categoria de sujeitos sobre os quais as
instituicifies psiquiatricas passam a intervir.*
Estendendo a analise das pol ticas teraputicas do campo da
psiquiatria para o campo da Medicina como um todo, vrios autores
tem procurado demonstrar de que maneira as politicas de sade que a
partir de 1930 passam a ser elaboradas a nivel de Estado se
transmutam, nas mos desse mesmo Estado, em instrumento de
controle de certos grupos sociais (principalmente os grupos incorporados
de uma maneira ou de outra no processo produtivo), ao isolarem
as doenas que pretendem tratar das condies sociais de sua
produo, isto e, ao ignorarem as relaes entre doena e estado de
subnutrio e pobreza a que esse grupos est o submetidos.
Segundo esta perspectiva, particularmente desenvolvida por C. Don-
nangelo em seu livro Sade e sociedade," o fato mais evidente
quando se procura fazer uma analise da Medicina enquanto prtica
* E preciso ressaltar que esse processo de medicalizao da
sociedade no exclusivo as doenas mentais. Ivan Illich talvez um dos
autores que faz a critica mais radical a esse processo que ele chama de
"iatrogenese social": a vida em nossa sociedade, observa ele, no a mais uma
sucesso de diferentes formas de sande, Inas uma sequencia de perodos que
exigem, cada um, uma forma particular de consumo terapeutico (ginecolgico,
pediatrico, pedagOgico, etc.).
9
A sociedade moderna estende, pois, o controle
dos profissionais de sande a todos os momentos da vida social. Como bem
observa J. P. Dupery, "o conceito de morbidez foi simplesmente estendido e
recobre situagties onde no h morbidez stricto sensu, mas uma
probabilidade de que tal morbidez aparega num perodo determinado. O
paciente que apresenta ao mdico uma tenso considerada como anormal
esta na mesma situao de `doente' frente a este que aquele que Lhe apresenta
um sintoma mrbido no sentido estrito".10
85
institucional que existe uma distribui o desigual de recursos
de sade para os diferentes grupos sociais, o que faz com que a
prtica medica se diferencie em funo das classes a que assiste:
existe uma "seleo" de grupos a receberem cuidados mdicos,
observa Donnangelo, e os criterios dessa seleo so ao mesmo
tempo econmicos os grupos mais importantes do ponto de vista
da produo so mais bem assistidos do que os outros e politicos
os grupos que tem maior poder de presso tem mais chances
do que os outros de receberem melhores cuidados. Nos casos das
camadas mais pobres, que ocupam posi es relativa ou totalmente
marginais na sociedade, resta como atendimento a chamada medicina
comunitria, ou a psiquiatria asilar mantida pelo Estado. Na medida
em que a quantidade e a qualidade dos servicos de so de postos
disposio de um grupo social depende da natureza de sua inser-
o na diviso social do trabalho por um lado e de sua capacidade
politica por outro, aos grupos sociais de baixa qualificao ficam
reservadas prticas simplificadas de sadde que diminuem o custo
de manuteno dessa mo-de-obra, garantindo ao mesmo tempo seu
controle socia1.
12
Dentro dessa perspectiva que analisa as instituies
medicas em sua relao com o fator trabalho, autores como Polack
observam que "toda a Medicina uma regulao da capacidade
de trabalho. A norma do trabalho impregna o j ulgamento dos
mdicos como um ponto de referencia mais preciso que um valor
biolgico ou fisiolgico mensuravel. A sociedade atribui portanto ao
trabalho um valor de norma biolgica."
13
Esses autores tendem,
verdade, a reduzir a histdria da Medicina as vicissitudes das necessi-
dades impostas pela ordem da produo. No entanto parece-nos
que eles trazem uma contribuio importante ao demonstrar como a
lgica que preside ao funcionamento do modelo capitalista deter -
mina profundamente o sentido da prtica medica, ao orientar a
prpria definio de doena a partir de criterios que tem a ver com a
"capacidade para o trabalho", sobretudo quando a defini o se
refere as classes mais desfavorecidas.
Embora no se possa conceber que a Medicina seja sempre e
integralmente uma forma de controle poltico como muitas vezes a
leitura desses autores nos induziria a pensar, as tentativas que se
tem feito para compreender os nexos entre as politicas medicas e a
reproduo da lgica das organizaes sociais modernas so inte-
ressantes na medida em que poem a nu os mecanismos de poder onde
se poderia pensar que eles no existissem. "Toda prtica social",
observa Castel, "se inscreve numa relao de foras e pode ser
86
interrogada a partir da posio que ela ocupa em funco da clivagem
dominantes/dominados." 14
* * *
Esse portanto o quadro geral a partir do qual gostariamos
de abordar a questo da medicina mkgica: se o discurso dominante
da Medicina oficial detail o monopcilio da defini o legitima de
doena e dos instrumentos de interveno, interessa-nos compreender
de que maneira a "medicina popular" aceita essa defini o e a
reinterpreta dentro do quadro de suas representaceies, e como se d a
"convivencia" de suas prticas teraputicas com os meios de
ao procedentes do Estado. Dito de outro modo, importa-nos saber
de que maneira as prticas teraputicas populares se relacionam
com as prticas hegemnicas e quais os espacos sociais que estas
tiltimas deixam abertos para sua ao.
Portanto, quando procuramos compreender sistemas de repre-
sentaes mgico-religiosos como o umbandista, interessa-nos perceber
de que maneira esse "horizonte cultural especifico" prpio das
comadas populares abre ao propor uma nova definio de sade e
doena um espaco mais ou menos da fora normativa e
normalizadora da psiquiatria oficial. Por outro lado interessa-nos
compreender de que maneira a atuao teraputica mgico-religiosa
inverte esse processo cada vez mais abrangente de uma medicaliza-
o progressiva dos conflitos sociais, ou pelo menos a ele resiste,
ao retirar do mbito da competncia medica uma serie de problemas
que passam para a rbita do tratamento mgico.
87
1.
A PRTICA MDICA E
O ATENDIMENTO DAS CAMADAS POPULARES
NESSE JOGO DESIGUAL em que a `medicina mgica' e a
Medicina cientfica disputam a legitimidade do discurso sobre a
doena e sobre a cura, parece-nos importante ressaltar dois aspectos
fundamentais que definem a prtica mdica universitaria tal como
ela se exerce hoje para as camadas populares:
o primeiro aspecto refere-se-a maneira como a populao de
baixa renda integrada nos aparelhos de sade, a qualidade dos
cuidados dispensados;
o segundo, a natureza das relaes implicitas no atendimento
terapeutico desses grupos.
Esses dois aspectos dizem respeito ao terra que aqui nos inte-
ressa na medida em que os frequentadores dos centros de umbanda
so, em sua maioria, clientes potenciais do atendimento previden-
ciario. exatamente a natureza e a qualidade deste atendimento
que esta em questao quando eles decidem abandonar tratamentos e
remdios substituindo-os (ou complementando-os) com chas, passes e
benzees. Segundo levantamento que fizemos em 1975 entre 600 adeptos
dos terreiros paulistas, 32,7% dos frequentadores no participavam
do mercado de trabalho, dedicando-se majoritariamente a taref as na
esfera domstica; dos adeptos ativos, 40% trabalhavam em oficios
manuais que, em sua maioria, exigiam pouca ou nenhuma
especializao." Dos depoimentos que obtivemos entre os adeptos
dos terreiros de Belo Horizonte, 16 pertencem a trabalhadores de
baixa renda com pouca ou nenhuma especializao, 10 a donasde-
casa, nove a profissaes de classe media e cinco a profissionais liberals.*
Assim, preciso considerar que a major parte dos cdmentarios que
obtivemos a respeito da qualidade e da natureza do atendimento mdico-
hospitalar foram feitos por entrevistados que notem acesso a rede
da Medicina privada. Esta observao importante quando se
considera que a organizao do sistema mdico tende a variar em
88
funo das classes sociais a que atende. Estudos como o de C.
Donnangelo tem demonstrado que o sistema mdico, ao se
organizar em funo da lgica do lucro, tende a atender
desigualmente as classes sociais, no somente do ponto de vista dos
cuidados oferecidos, como tambern do ponto de vista da sua
nat ureza. Para as classes mais abastadas, se oferece um
atendimento mdico-hospitalar altamente sofisticado e especializado,
enquanto que se reserva uma Medicina medicamentosa e
deficiente para as classes mais desfavorecidas. fato reconhecido
que nas sociedades em que a Medicina acompanha as leis de mercado
se estabelece uma correlao negativa entre necessidade de sande, de um
lado, e investimento em assistencia medica, do outro. Dentro dessa
mesma racionalidade as politicas de sade tendem a favorecer uma
alocao diferencial de recursos que acompanham necessariamente
as exigencias da lucratividade empresarial. No preciso ser muito
perspicaz para perceber as consequencias que esta prestao
Caracteristicas sOcio-profissionais dos adeptos entrevistados
Horizonte/ 1980:
Belo
Profissionais liberais 5 Trabalhador semi-especializado
Pequeno comerciante
Motorista
White Collar
Pedreiro
Secretaria
Garcom
Funcionaria ptiblica 4 'Tece1
Bancdrio
Trabalhador-no-especializado
Professora prim:aria
Domstica I I
Auxiliar de escritOrio 2
Trabalhador especializado
Inativos
Costureira
Dona-de-casa I()
Subtotal IS Total 40
Ohs.: a correlao entre classe social e umbanda obviarnente no pode
sei provada por este quadro, que fi gura aqui a ti tulo meramente
i lustrati vo. Cabe notar, entretanto, que essa correlao tem lido
apontada por todos os estudiosos do fenmeno (entre os quais me
incluo) e se impue como parte do contexto de observao direta a
qualquer pesquisador que frequente os terreiros.
89
diferencial de servicos de sade traz para as camadas de baixa
renda que so por eles atendidas. Os terriveis gravames a
que esses consulentes so submetidos que vo desde
dificuldades econmicas que dificultam a locomoo at o
cansaco das longas filas de espera para apanhar fichas de
consulta, passando por pequenas e rmiltiplas humilhaes que o
trato com o pessoal mdicoadministrativo supe acabam pesando
na deciso de frequentar os conselhos das mes-de-santo. E o que
ilustra por exemplo o caso de uma de nossas entrevistadas, que
apesar de sentir frequentes dores no pescoco e nos bravos
desistiu de procurar um ortopedista e preferiu a benzeo dos
terreiros:
J fui no mdico ( . . .) eu tinha que it no ortopedista,
mas eu no fui no porque eu no agento fica muito
tempo em fila, sabe, eu sinto assim uma dormncia e dor.
Vou sentindo aquela dor forte na boca do estmago e
vou ficando ner vosa ( . . . ) eu no aguento ficar em p
muito tempo esperando fila no e as vezes a gente espera,
espera e no consegue nada, n? Ento eu no vou no
(dona-de-casa freqentadora).
Essa imensa frustrao de nossa informante com relao ao que ela
esperava do atendimento mdico depois de to longa espera vai de
encontro a algumas observaes quanto a natureza da incor porao
das camadas populares nos aparelhos institucionais de sade,
feitas por autores como Jos A. Guillon e Maria da Glori a Silva.*
Segundo eles, os grupos de baixa renda que recorrem aos cuidados
mdico-hospitalares o fazem dentro de uma lgica que se organiza em
torno da dualidade subordinao-resistncia. Do ponto
* A ma qualidade dos servios mdi cos ofereci dos pelo
INPS as cat egori as de bai xa renda fat o corri quei ro e ampl ament e
reconheci do. A pesqui sa publ i cada pel o CEDI sobre as condi es de
sade da popul ao rural de Goi s at endida pelos convni os Funrural e
INPS chama tambm nossa at eno para es s e f at o: "Em t odos os gr upos
( pes qui sados ) houve mui t a di s cus s o a r es pei t o da qual i dade do
at endi ment o mdi co par a o povo. Na ver dade es t a f oi uma das
quest es mai s debat i das ( . . ) . O at endi ment o part i cular a
economi cament e i nacess vel para o povo, e o at endi ment o gra t ui t o a
probl emt i co, sej a por defi ci nci as na quali dade do servi o mdi co
of er eci do, s ej a porque o acess o a di f ci l . Is t o faz com que, de
qual quer modo, o t rabal hador s e vej a al i enado dos r ecur s os da
Medi ci na of i ci al , quando precisa passar dos usos da medicina popular para ela." 16
90
de vista do atendimento oferecido, hospitais e agentes de sade
so por eles reconhecidos como agentes disciplinadores que em
troca de alguns benefcios (remdios, alimentao, etc.) exigem
a aceitao das normas burocrticas institucionais e da lgica
"cientfica" explicativa das doenas. Em sua anlise do programa
materno-infantil que em 1974 pretendia assistir em So Paulo
as faixas da populao que no tem acesso ao INAMPS, Jos
A. Guillon de Albuquerque mostra como esse piano age no
sentido de criar uma clientela necessitada dos produtos que o
programa tem a oferecer, produzindo consequentemente um usurio
passivo de seus servios e no um cidado de direito. Esse
programa, fixando uma clientela atravs de prestaes materiais (latas
de leite, vacinas, etc.), exige como contrapartida que o beneficiado
se submeta a orientao direta da insti tuio no que diz
respeito as normas de higiene, disciplina, dieta, habitao, etc.
O que nos parece importante ressaltar aqui, e o trabalho de
Jos Augusto evidencia isto com bastante clareza, que, alm
do papel disciplinador das camadas populares que essa
instituies exercem em nome da assistncia, se destaca sua ao que,
podemos chamar talvez de "classista", isto e, ao no sentido
da manuteno e do reforo das diferenas sociais. isto
porque o objetivo dessas instituies no o de satisfazer a
demanda a que em grande parte elas se furtam ou
simplesmente se negam a atender uma vez que os grupos que a
elas recorrem so definidos pela instituio como sendo
"ontologicamente" carentes, isto , seres em si mesmo carentes e
que devem portanto ser paternalmente assistidos sem poderem
reivindicar iguais direitos aos recursos de que os agentes podem
dispor.17
Essa relao de subordinao as normas burocrticas e a
hierarquia de autoridade dos agentes de sade que o usufruto
dos benefcios institucionais impe, encontra por parte da
populao assistida uma serie de resistncias tticas. No caso da
assistncia materno-infantil referida, o objetivo de acompa-
nhamento sistemtico da populao a que a instituio se
prope encontra, segundo o autor, srios obstculos na sua
implementao na medida em que a clientela combina vrios
servios de assistncia em funo de prioridades estritamente
pessoais, ou privadas, que nada tem a ver com a racionalidade
institucional. Por outro lado, as tentativas de "educar e orientar
para a sade esbarram na precariedade das condies de vida
que normalmente impedem o cliente de seguir corretamente a
orientao medica. Esse aspecto se tornaevidente no caso
91
analisado por Maria da Gloria Ribeiro da Silva, de atendimento aos
diabticos das camadas populares. Os conselhos mdicos dados
aos grupos que sofrem desse mal abstraem o paciente de suas
condies reais de existncia e falam da doena e do trata-
mento em termos universais. Com efeito, no caso da diabete,
o tratamento geralmente proposto pelos mdicos como sendo o
mais eficaz e a "dieta controlada". As resistncias a esse tipo
de prescrio por parte dos pacientes se justificam como
demonstra a autora no s pela precariedade do patrimnio
familiar, que no deixa margem a uma sofisticada combinao
alimentar, como tambm pela prpria viso de mundo dessas
camadas populares, em que a idia de regime alimentar se
associa a idia de privao, penria ou ainda a idia de,
desperdcio. Esse sentimento esta bem expresso na exclamao
de uma consulente entrevistada pela autora:
E (o mdico) me mandou fazer regime. Ai eu disse
pra ele: "Agora que eu tenho muito acar eu tenho que
jogar fora?" 18
O trabalho de Gloria Ribeiro da Silva pe em evidencia
de que maneira as engrenagens institucionais exigem, em seu
funcionamento, a subordinao do cliente a sua lgica. O
processo de enquadramento do consulente no aparelho mdico
constitui, em suas varias etapas, um processo de submisso do
paciente as normas burocrticas que regem a instituio. Vale a
pena retomarmos aqui, com mais detalhes, o pensamento da
autora porque a compreenso dos mecanismos de ajustamento a
que so submetidos os pacientes nos permite perceber as frestas
por onde se insinuam os saberes da "medicina popular".
Observa a autora que j no momento da triagem o
assistido desqualificado como individuo capaz de perceber e
expressar sensaes. Cabe nica e exclusivamente ao mdico a
deciso sobre a sade/doena do paciente; a ele dado aceitar
ou recusar suas queixas e impresses, definir o diagnstico,
normatizar o tratamento. A instituio e seus agentes mdicos,
donos de um saber que j reconheceu, descreveu e classificou sinais
fisiolgicos dentro de uma sintomatologia significativa, so
incapazes de incorporar a linguagem corporal dos pacientes das
camadas populares que, como veremos adiante, no se estrutura
dentro dessa mesma lgica. No caso dos pacientes diabticos
observados por Maria da Gloria, os diagnsticos produzidos pelos
prprios pacientes, compostos a partir deobservaes caseiras
92
do tipo "juntou formiga na urina", ou "o cheiro doce da
urina", no so, levados em conta pelo mdico, que edi fica a sua
prpria interpretao a partir das nor mas e dos instrumentos
consagrados pela instituio o exame de glicemia, por
exemplo.19
No momento do preenchimento de sua ficha medica, o mesmo
problema reaparece para o paciente. Neste segundo passo de seu
enquadramento no aparelho mdico, observa Maria da Gloria,
o doente tem que reconstruir o Histrico de sua doena usando
da mesma lgica que presidiu a construo da ficha: cronologia,
durao dos sintomas, citao das observaes sintomticas
aprioristicamente definidas como pertinentes pela instituio.
Nesse sentido o cliente v-se privado de um discurso prpio
sobre as sensaes que experimenta, e obrigado a incorporar o
que o aparelho pensa de sua doena e dos males de que padece.
Luc Boltanski chama muito bem nossa ateno para esse
fenmeno que poderamos chamar de "fenmeno de
desapropriao das sensaes pela privao da linguagem
institucional", em seu trabalho sobre os usos sociais do corpo.
Segundo Boltanski, a aptido a verbalizar as sensaes mrbidas
repartida de maneira desigual entre as classes sociais: os
membros das classes populares parecem caracterizar-se por uma
"incapacidade" para descrever detalhada e estruturada mente as
modificaes de seu estado mrbido ou para enumerar em ordem
cronolgica seus sintomas.
2
No entanto parece-nos que essa
inabilidade das classes populares se explica menos por sua
"incapacidade em transmitir sua experincia vivida da
doena", como quer o autor, do que pelo fato de que elas esto,
de antemo, excludas da lgica e da operacionalidade de um
discurso que pertence por definio aos agentes institucionais.
Aps o preenchimento da ficha segue-se o exame fico. Neste
momento, observa Maria da Gloria, o paciente e submetido a
um processo de segmentao total de seu corpo, que se
atomiza em diversos aparelhos e funes, deixando cada vez
mais de ser um "corpo Histrico" para tornar-se um "corpo
cadver", reduzido a sua simples anatomia. E somente a partir
dos exames hospitalares que o doente passa a existir
enquanto tal: "A doena passa a existir com o diagnstico",
observa Maria da Gloria, e a partir desse momento o paciente
"deve incorporar o que o aparelho pensa da doena, como trata-la,
aceita-la, viver com ela. So dadas ento instrues e normas, direta
ou indiretamente".'
93
Esse tipo de analise pe em evidncia os mecanismos
institucionais atravs dos quais as relaes mdico-paciente se
instituem enquanto relaes de poder.* Com efeito, a
percepo do que os membros das camadas populares tem das
relaes teraputicas que se estabelecem nas instituies oficiais de
que estas se constituem enquanto relaes de classe e de autoridade.
Isto aparece de maneira difusa, mas constante, na fala de nossos
entrevistados. Embora os dados relativos a nossa pesquisa no se
refiram diretamente a essa questo, j que estvamos
preocupados em compreender o sentido religioso da doena e da
cura, muitos dos entrevistados, ao compararem a atuao mgico-
teraputica a atuao da Medicina oficial, revelam disposies
hostis com respeito a esta ltima. Um exemplo e o depoimento de
uma mdium em que a perspective de tratamento mdi co assume
um tom de ameaa. Rel atando o caso de uma menina que
consultava com Pai Jeremias, ela diz:
Ele ensinou pra ela tomar assim um ch de quebra-
pedra com um alecrim-do-campo. Isso coisa que ela no
gosta mesmo. Eu mesmo fiz pra ela e ela no gosta de
tomar remdios nenhum. Eu at falei com ela assim: "O, a
hora que voc ficar doente eu vou te intern. Voc fica
internada ai voc vai ter que tom. Nem que eles te amarra,
voc tem que tom" (mdium costureira).
Ou seno o comentrio irnico de uma freqentadora
a respeito do atendimento num posto de sade:
Eu gosto muito dali, sabe? Tenho dado muita sorte
ali, sabe? A nica coisa que eu no gosto dali os
remdios. Prefiro que eles dem receita pra mim
comprar. Mesmo que eu fao um sacrifcio pra mim
compr, eu prefiro. Os remdios deles tudo a mesma
coisa. Pra todo mundo, dado os remdios l, pra todo
mundo o mesmo remdios. Uai, ser que
* Embora nossa analise tenha privilegiado o atendimento
mdico oferecido as camadas populares, parece-nos que tambm no caso de
pacientes das classes superiores a relao mdico-paciente se caracteriza
pelo seu carter autoritrio. Trabalhos como o de ROBIN, F. e Nicole, O
poder mdico, ROQUEPLO, Philippe, Le Partage du Savoir (Paris,
Seuil, 1974), e BOLTANSKY, Luc, La Decouverte de la Maladie et la
Diffusion du Savoir Medical (1959), so bastante demonstrativos a esse
respeito.
94
todo mundo tem a mesma doena? Num pode, n? Meu
marido fala assim: "Que remdios curador esse, todo mundo o
mesmo remdios?" (freqentadora domstica).
Em algumas entrevistas, o antagonismo com relao ao
tratamento mdico aparece na critica a sua qualidade e eficincia:
E por isso que as pessoas vo ao centro cada vez
mais. Porque no h como pagar um mdico. Instituto,
essas filas que voc no agent a. Mdico que tr abal ha
l quatro, cinco horas. Do atendimento aqueles 20 e
depois vo embora. Porque tem seus afazeres, outros
consultrios, outros trabalhos. Ento eles tem aquele tantinho
de tempo. E o povo vai ficando ai nas filas. Pra hoje, pra
amanha. Daqui a um ms, daqui a t r s. Ent o, o que o
povo faz? A doena hoj e, a dor hoje, no daqui a
trs meses no! Ento o que ele faz? Vai procurar um
centro esprita. Voc v o Centro Oriente numa quinta-
feira de reunio, fica mais de mil e tantas pessoas (...)
Voc vai ao Redentor, voc vai a Unio Mineira (... )
Aquilo fica cheio de manh a noite (mdium funcionria
pblica).
Outra entrevistada, ainda, relata sua experincia com o
tratamento na Medicina oficial num tom bastante rancoroso:
Fiz muito tratamento, nada deu certo. Cada mdico is me
empurrando pro outro. Me tocando remdios. Sinusite fiz vrios
tratamentos, foram me tocando remdios. Depois cismaram
que era vescula. Tem que operar! Tem que operar! Assim
mesmo eu fiquei um tempo tratando pra ver se resolvia. Ai
no resolveu, tem que operar! Ai me operaram. Pelo
contrario. Atrapalhou foi muito mais. Porque ficou s o
fgado, sobrecarregou o fgado. Ai que piorei mil vezes.
Depois mandaram operar tiride, no adiantou nada,
nada, nada, nada. Foi a ltima operao (mdium
domstica).
E interessante observar neste depoimento como, alm da
critica a ineficcia do tratamento, aparece, subrepticiamente, a
percepo que a entrevistada tem do agir do mdico: os
mdicos mandam, decidem, cismam sem nada perguntar a seu
paciente que e mandado, como um joguete, de um para outro. A
95
relao de obedincia e passividade diante do tratamento mdico
aparece na fala desta mdium de maneira bastante clara.
Veremos adiante que esta situao se modifica
substancialmente na relao teraputica entre mdiuns e clientes.
Mas so os casos em que nossos entrevistados se viram
as voltas com hospitais psiquitricos que essa hostilidade aparece
de maneira mais evidente. Tio conta sua experincia num hospital:
No Pestalozze fiquei uns seis meses s. O resto eu fugi. Fugi
pra mi nha cidade. L eles t inha est udo, ti nha tudo. Mas
aquele estudo assim, me tratando como se eu fosse doente mental
(...)! Tambm no meio dos outros. Eu no era! Ento eu ficava
nervoso com aquilo. Tinha que fica no meio daqueles doido, daqueles
menino mongolide. Um vinha morde a gente, e bate. Quando a
gente batia a professora achava ruim. No foi Bom, foi horrvel,
pssimo. Pestalozze foi um passado triste (mdium -- garom).
E Teresa expressa sua descrena nos mdicos:
Ah! Os mdicos no tem compreenso nenhuma.
Ficam falando: "Doena nervosa. A senhora esta muito
nervosa, tem que tomar calmante, calmante." E o que da, n?
Mdico s da nisso. Hoje eu no tomo calmante e acho que
calmante no faz bem (mdium dona-de-casa).
A relao mdico-paciente portanto percebida por
nossos entrevistados como uma relao de autoridade, em que o
paciente deve submeter-se passivamente a manipulaes que lhe
so mais ou menos estranhas, j que sua vontade pessoal ou
opinio esto excludas de qualquer deciso. Mdiuns e clientes
recorrem portanto as foras mgicas para proteger-se, para
defender-se dos poderes da Medicina: "Eu fiz exame na
cabea", nos conta uma mdium. "Mas antes de sair de casa eu
pus um `pau Branco' (cigarro) no porto de minha casa, pra meu
Exu, pra ele me ajuda l no mdico." Para evitar uma operao
que no se deseja, para sair do hospital contra a vontade medica,
para fazer frente a um atendimento impessoal e desrespeitoso da
burocracia hospitalar (orientada por motivos que de um modo
geral escapam as camadas populares), invoca-se santos e orixs.
Assim, se os membros das classes populares recorrem a
medicina mgica, esse fato no fruto exclusivo da falta de
atendimento mdico ou de sua ma qualidade. Na verdade a
96
prpria natureza desse atendimento, em que o trabalho
organizado em funo da lgica da funcionalidade e do lucro,
que faz com que os clientes prefiram mes-de-santo e mdiuns,
aos hospitais. Nos terreiros eles tem certeza de que sero tratados
como indivduos diferenciados e nicos, portadores de uma histria
pessoal e intransfervel. Para os "guias" eles no so apenas um
caso, so reconhecidos como sujeitos portadores de um nome.
Ali, no sero enviados, aps uma espera de longas horas, de um
servio para outro, sem explicaes, e muitas vezes num tom
imperioso e brutal; ali a distancia social inexiste, posto que
mdiuns (pais-de-santo) pertencem a mesma camada social de
seus clientes e com eles compartilham o estilo de vi da e a
manei r a de pensar ; ali , nos cent r os de umbanda, as
relaes teraputicas no se estabelecem portanto de maneira
desigual e autoritria. Como bem observa A. Loyola, a
persistncia da "medicina popular" em grandes centros urbanos
no fruto exclusivo do isolamento geogrfico ou da falta de
ateno medica, ela uma reao popular a prtica autoritria
da Medicina cientfica que se manifesta na relao mdico-
paciente-instituio e na imposio de valores que este implicada
nessa relao.
22
A m qualidade dos servios oferecidos pela
Medicina oficial, aliada a sua ateno normativa e tutelar, so
elementos que definem a natureza da relao que as camadas
populares tem com as instituies medicas, e explicam, muitas
vezes, sua opo por formas alternativas de cura. Do mesmo
modo, a recusa ao cumprimento de uma prescrio medica
qualquer este associada no somente a falta de recursos econmicos
desses grupos, mas tambm a particularidade de sua visa) de
mundo que determina a natureza de suas concepes de organismo,
corpo e sade, muitas vezes incompatveis com os cnones cientficos
que orientam a prtica medica. As representaes religiosas da doena e
as tcnicas mgicas de cura aparecem portanto para as camadas
populares como um universo de conhecimento alternativo ao
saber mdico. Se verdade que a legitimidade deste ltimo nunca
posta em questo justamente pela posio de autoridade
legitima que ele detm , tambm verdade que mdiuns e
mes-de-santo se consideram portadores de uma sabedoria
divina, de um dom capaz de igualar e at mesmo ultrapassar o
mdico na arte de curar. Se os membros das classes populares
falam com admirao das curas de certos "chefes de terreiro" e de
mdiuns, porque elas fornecem a prove de que "o mdico no
nem infalvel, nem o nico depositrio do conhecimento mdico";
23
elas significam portanto a possibilidade de apropriao efetiva do
97
discurso mdico pelos grupos submetidos a sua sujeio.
Passemos portanto a analise do discurso dos
freqentadores dos centros umbandistas para percebermos de que
maneira aqueles que recorrem a cura mgica percebem as
alteraes mrbidas de seu corpo e estruturam os relatos das
doenas por um lado, e de que maneira, por outro, o universo
religioso capaz, contrariamente a Medicina, de incorporar e
reinterpretar essa linguagem popular, colocando-a num contexto
mais abrangente.
98
2.
A PRTICA MDICA E
A PERCEPO POPULAR DA DOENA
VIMOS NO CAPITULO ANTERIOR que ao ser
confrontado com a interpretao institucional da doena o
paciente das camadas subalternas se v privado de seu prpio
discurso sobre as sensaes dolorosas que experimenta. No
entanto os grupos populares no mantm diante do discurso
mdico uma posio de pura passividade e aceitao.
24
Na
verdade, paralelamente ao diagnstico mdico, esse grupos
produzem sua prpria interpretao do fenmeno mrbido e das
medidas curativas que ele exige. A compreenso popular da
doena que alia concepes tradicionais sobre as disfunes
orgnicas e seus remdios as reinterpretaes simplificadas da
linguagem e recursos da Medicina oficial se constitui num
universo particular de saberes que muitas vezes escapa e se
contrape as regras que determinam a interpretao mdico
cientfica.
Neste capitulo gostaramos portanto de analisar a
natureza dessa percepo popular da doena. Tentaremos
compreender de que maneira ela se constitui e organiza,
excluindo de sua lgica a cronologia e a percepo
sintomatolgica exigidas pela construo do diagnstico mdico.
Para tanto procuraremos analisar o discurso dos adeptos sobre sua
doena a partir de duas perspectivas complementares:
a) a que visa repertoriar as pertinncias que transformam
um sinal fisiolgico qualquer em indicador de doena; e
b) a que visa analisar a estrutura do relato da doena, isto
, analisar como essa histria " contada".
Antes de mais nada, cabe aqui uma observao: a maior
parte de nossas constataes deriva da analise do material obtido junto
99
aos adeptos do culto umbandista. No entanto, no que se refere as
representaes em torno do fenmeno mrbido, trabalhos como o
de Luc Boltanski, na Franca, de Tatiana Silva, no Brasi1,
25
entre outros, ou ainda minhas prprias observaes em hospitais
pblicos,* permitem concluir que a maneira como nossos
entrevistados percebem a doena no caracteriza um grupo
religioso particular mas, ao contrario, tpica dos grupos
populares em seu conjunto. Mas o fato de as narrativas
analisadas terem sido formuladas por adeptos do culto
determina de certa forma a estrutura do relato. As narrativas
pessoais que obtivemos, por se tratarem de relatos de pessoas
que se declaram "curadas" pela umbanda, se constroem
evidentemente a partir do ponto de vista explicativo do
sistema religioso. Esta caracterstica faz com que, apesar da
diversidade das experi8ncias individuais, todos os nossos
entrevistados narrem suas histrias de doena de maneira mais ou
menos semelhante. Essa homogeneidade na estrutura dos relatos se
traduz em dois pontos essenciais:
relatar a doena significa, nesse contexto, expressar e
organizar, dentro da perspectiva do discurso religioso, a
experincia pessoal de uma situao-problema mais
abrangente, abrindo a possibilidade de sua superao. Na
medida em que o adepto relata suas sensaes, esse relato j"
aparece sobretederminado pela sua significao religiosa;
justamente por se tratarem de indivduos que j se
submeteram ao processo das curas mgicas, a
reconstitui o da histria da doena se faz a partir da
evidencia de que "seu caso era caso de terreiro e no de
mdico". O "diagnstico" religioso aparece portanto de
maneira independente a qualidade e diversidade dos
disturbios. Do mesmo modo, a descrio das sensaes
mrbidas se organiza no sentido de evidenciar ao
interlocutor essa certeza inicial.
A anlise do discurso popular sobre a doena nos permitira
compreender por que e como o universo religioso, contrariamente
* Para melhor compreendermos a especificidade do discurso
religioso sobre a doena procuramos observar o atendimento mdico
dispensado pelo Hospital das Clinicas as camadas populares, clientes
preferenciais dos terreiros de umbanda.
100
ao universo mdico, e capaz de aceitar, incorporar e
resignificar essa lgica popular que estrutura a percepo das doenas.
* * *
A primeira impresso que se tem quando se ouve as histrias
de doena narradas por mdiuns e consulentes que esses
relatos se constituem num amontoado catico de sensaes
dolorosas e distrbios dos mais heterogneos, incapazes de
configurar claramente uma doena especifica. Quando se faz
um levantamento sistemtico de todas as expresses utilizadas pelos
umbandistas para expressar seu estado mrbido, uma caracterstica
salta imediatamente aos nossos olhos: as descries das
sensaes so geralmente imprecisas, vagas e difusas, como
se o individuo no soubesse expressar exatamente o que sente
nem localizar o que o faz sofrer. Entre as 74 expresses anotadas
ao logo das entrevistas, aparecem 35 referncias a sensaes
desagradveis do tipo tremores, calores, arrepios, friezas,
dormncias, queimaes, tonteiras, etc.; 17 referncias a
sensaes de mal-estar ("estava mal", "me sentia ruim", etc.) e
22 referncias especificas a sensaes dolorosas. Por outro lado,
uma pessoa capaz de enumerar queixas as mais disparatadas tais
como tremedeira, mudana de voz, inchao, para caracterizar
uma mesma situao de anomalia. Uma de nossas informantes,
ao nos contar por que comeou a freqentar as casas de culto, nos diz:
Agora, eu j tive um problema na perna tambm. E
eu estive no centro e ento eles me falaram que era coisa-
feita, sabe. No foi a primeira vez. Eu senti uma coisa
estranha assim, as vezes eu tava de p e caa. Inchou meu joelho
em volta. Ento eles (do centro) falaram que era coisa-
feita. Ela comeou assim: deu um caroo, ento foi
endurecendo, metade da perna foi endurecendo. Ai j no
dava pra and direito (. . . ). Tambm uma vez sai u uma
coisa na minha mo, ento eu sentia dor na minha mo a
noite inteira. E a minha mo foi inchando. Porque isso
comeou assim. Eu levantei noi te, quando eu acendi a l uz
eu vi que meu dedo t i nha uma pinta vermelha de um lado
e de outro. Ento aquilo foi assim aumentando, e o meu
dedo inchando, eu no agentei no, meus dedo no mexia
mais. Fiquei mal demais, de noite tive que enfiar a mo na
gua fria (freqentadora domstica).
10
1
A descrio das sensaes mrbidas associa, nesse relato, os
sinais mais heterogneos inchao no joelho, quedas, caroo,
pinta na mo, inchao no dedo para configurar uma mesma
doena. A consulente no estabelece hierarquias entre as diversas
sensaes e parece considerar todas igualmente significativas para
a elucidao de seu problema. Por isso mesmo no h. para ela
qualquer necessidade de estabelecer alguma relao causal entre
a "pinta no dedo" e o "caroo no joelho". Ela associa pois
sinais que do ponto de vista clinico no mantm nenhuma relao
entre si.
Essa mesma maneira de descrever os "sintomas" pode ser
por nos observada na fala dos pacientes atendidos gratuitamente
pelo Hospital das Clinicas de Belo Horizonte. Tomemos o
exemplo, a titulo ilustrativo, da lavadeira Maria, que se queixa
a medica de dores na coluna:
Eu tenho tanta coisa, tanta coisa, minha filha. Eu
tenho problema de coluna, eu acho que tenho hrnia e eu tenho
uma operado que o mdico falou comigo, h. muitos anos,
que eu tinha que fazer e no fiz (... ) de perneo.
Diante dessa profuso aleatria de queixas, o discurso
institucional reage procurando enquadrar essa descrio dentro
de sua prpria lgica. Como se a paciente fosse incapaz de descrever
estruturada mente a cronologia de seu estado mrbido, a medica
procura selecionar os sintomas e ordena-los num sistema de
causalidade orgnica:
O que a incomoda mais? pergunta a medica.
Coluna responde a paciente eu no estou podendo
trabalhar.
Ha. quanto tempo?
Beirando dois anos, que eu fiquei ruim. Dois anos. Mas h.
muito tempo por motivo do cocuruco, deu caroo assim, fiquei
mal. j fiz um tratamento, to com um ano e pouco. Quer dizer,
eu no fiz nada a no ser tomar um antibitico que o mdico
receitou.
Tem certeza que era antibitico?
Tenho
Quanto tempo tomou?
Uns dois meses. Agora, estes tempos atrs eu tive uma gripe
102
muito forte e tive sangue pelo ouvido. Passei a Semana Santa no
hospital. O ouvido estourou. Como que fala? Tmpano... e receitou
antibitico.
A paciente parece estar preocupada em relatar todos os
seus sucessivos problemas de sade enquanto a medica procura
orientar se voltando a "queixa principal":
Voltando a dor na coluna. O que piora ou melhora?
Qualquer movimento que eu faca, assim, por exemplo, eu
vou ensaboar uma roupa no tanque, eu no posso fazer uma
limpeza no cho. Agora diminui a lavao... porque tenho que
ganha um pouquinho, n? No tenho outra profisso. Eu no
sei fazer mais nada. Ou l igar o fogo nas casas dos outros ou
lavar roupa. a minha profisso. Agora limpeza eu no tou
conseguindo. De maneira que s roupa mesmo, apesar de sentir
muito.
Onde a dor exatamente?
Eu sinto como aqui.. . aqui queima. No inicio formou um
caroo (no pescoo), assim que queimava c ardia e parecia que
tinha um bicho picando. Mas isto acabou, com o tratamento acabou.
Agora eu to sentindo s mesmo aqui no meio.
Outra coisa d dor na coluna? Alguma coisa associada?
Tem dor nos braos, as pernas doem. Acho que por causa
da coluna, n? No sei se . Eu canso assim, por exemplo, at
de subir l debaixo aqui em ci ma, se eu subir depressa eu
canso, no posso fal ar . Mas eu acho que i sso ai j no
da coluna, sei l!
possvel observar neste dilogo que, embora a medica
procure selecionar as queixas em funo de algumas
pertinncias e aprofundar a analise da especificidade de cada
sensao, a paciente no estabelece nenhuma hierarquia na
multiplicidade de "sintomas" que apresenta, passando sem
transio da dor na coluna ao caroo no pescoo, a gripe, ao
sangue no ouvido, as dores nos braos e nas pernas.
O discurso mdico, pela lgica que lhe inerente, no
capaz de produzir sentido pela simples associao de queixas
que se justapem. Ele se v obrigado a intervir no discurso da
paciente, direcionar a construo dessa fala obrigando-a a
distinguir certas sensaes e desprezar outras, que embora
paream relevantes para o doente que relata sua experincia,
no cabem no sistema expli cativo da Medicina.
Uma outra caracterstica do discurso dos pacientes das camadas
populares sobre suas doenas e a freqente associao que estabe-
10
3
l ecem ent re seus problemas pessoai s o tr abal ho excessi vo,
a fadiga, crises familiares e os males fsicos que os afligem.
Pudemos registrar essas referncias na fala de alguns dos
pacientes atendidos, em seu dialogo com o mdico:
De noite sinto aquela zoeira na cabea. Quase a ponto
de estourar a cabea Tenho dormncia nos ps e nos
bravos. Agora, h trs dias seguidos, problema no corao.
Corao acelera. Trabalhei oito meses num elevador com
estrutura metlica. Acho que o p de ferrugem atacou o
nervo (ascensorista).
Eu sinto muita dor de cabea. Vista escura. Meu
corao bate. Tem dia que da vontade de chorar. Fico
nervosa, da dor de cabea (...). Fico nervosa com a
meninada gritando no meu ouvido. Tem hora que at o
barulho do radio eu no gosto. L onde eu moro tem muito
menino (dona-de-casa).
Tambm no discurso dos adeptos por nos entrevistados essa caracterstica
aparece. Os sinais da doena s adquirem sentido enquanto
indicadores de morbidez na medida em que seu apareci mento
acarreta conseqncias nefastas para a continuidade do trabalho
e da ao cotidiana. Com efeito, pode-se observar que a percepo
do estudo mrbido se consubstancia de um modo geral, na fala de
nossos entrevistados, atravs das circunstancias ou sensaes que
obrigam o sujeito a alterar a capacidade ordenaria do use instrumental do
corpo. Nesse sentido, os distrbios que limitam a locomoo e
obrigam a interrupo das atividades cotidianas aparecem como a
forma mais adequada de se descrever a doena: "Fraqueza nas
pernas", "No agentava mais ficar de p", "No levantava para
fazer nada", "Comecei a cair no meio da rua", "Me deu uma espcie
de desmaio", "Estava sem foras para trabalhar", so expresses
recorrentes. Para termos idia dessa freqncia, basta dizer que
estas expresses aparecem em mais da metade das entrevistas.*
Desmaios, paralisias, quedas, fraquezas, so imagens
* Gostaramos de observar que esses nmeros so
meramente ilustrativos, uma vez que as entrevistas no pretendem
constituir uma amostragem representativa do grupo estudado.
104
privilegiadas para caracterizar casos pessoais e olheios.* O
mais interessante nesses relatos que essa qualificao do
mrbido enquanto impossibilidade de usar o corpo para
responder as obrigaes mais corriqueiras aparece tambm de
maneira "quantitativa', isto , a gravidade da situao muitas
vezes descrita pela "quantidade" de tempo que o sujeito ficou
impedido de fazer uso de seu corpo: "Fiquei seis meses de cama",
"Fiquei desacordada trs dias", "Estive um ms no hospital", so
expresses usadas no sentido de dimensionar para o interlocutor a
extenso e gravidade do mal. A importncia da perda da
capacidade de locomoo como meio privilegiado para expressar o
fenmeno mrbido pode ser mais bem avaliada quando se compara
com a reduzida presena de outras queixas que, embora
tambm digam respeito ao "uso do corpo", no tem a ver,
diretamente, com atividades em que o esforo fsico esta
implicado: dificuldades no uso da fala ou da vi so aparecem em
apenas quatro relatos, e somente um entrevistado f az referncias a
perda de memria.
Assim, a experincia vivida da "doena" se consubstancia,
se torna concreta e perceptvel para o sujeito na medida em
que, ao imobilizar o corpo, provoca interrupes no fluxo
cotidiano de atividades rotineiras, domesticas ou
economicamente produtivas, interrupes estas que trazem
resultados nefastos para a prpria organizao da vida da
fam l i a. Somente na medida em que a "imobilidade" significa
suspenso da ao, isto , instalao de uma situao-problema,
que o individuo se percebe doente; enquanto for possvel "ir
levando", enquanto dores e mal -estares no desorganizam a
atividade, a doena no obriga o individuo a maiores atenes.
Por isso mesmo essas descries multifacetadas de sensaes
doentias se acompanham frequentemente do relato dos
transtornos que o aparecimento desses fenmenos causa na
esfera de relaes imediatas do informante. Uma entrevistada,
por exemplo, ao descrever os problemas que a levaram a procurar
um centro, nos diz:
Ento eu fui dando trabalho demais em casa. Trabalho mesmo. Eu
via coisas, de vez em quando eu saia correndo .
* No conj unt o das 40 entrevi stas, obt i vemos 35 rel at os
mai s ou menos detalhados de histrias de doena. Em 25 dessas
entrevistas os informantes lanam mo desse tipo de expresso ou
"sintoma" para descrever os estados mrbidos.
10
5
Eu via bode preto, mas via mesmo, era uma vi so. Era
uma coisa horrorosa. Eu no conseguia dormir de noite.
Assim muita coisa acontecia comigo. Ento eu comecei
com mania de rodar. Eu rodava. Eu rodava, andava, eu
no via, no. Eu no podia sair mais sozinha. Minha me
comeou a sair comigo. Eu tenho uma irm pequenininha,
ela tava com trs anos naquela poca. Eu punha ela no
colo, eu saia com ela e dava aquela rodada. Ela caia no
buraco, caia na cerca. Caia em muito lugar perigoso, que
era perigoso demais. Teve uma poca que eu entrei nas
Lojas Americanas sozinha. Porque eu sou manicure,
fazia unha pra fora. Ento eu tava perto de uma
banqui nha de esmal te, e cheia de esmalte. Eu s lembro
que eu tava tonta, tava passando mal, tava com tonteira, com
desmaio, aquela coisa e tal que acontecia. Mas eu voltei assim
e os esmaltes tava tudo quebrado, eu tava suja de cima
embaixo de esmalte. Perfume, compact o, p-de-arroz.
tudo amontoado. Pra tudo quanto lado, aquela baguna.
Ai foi quando minha me comeou a sair comigo. A casa
virou em cima de mim muitas vezes (mdium domstica).
E interessante percebermos neste relato como a
qualificao do problema passa pela descrio detalhada da
natureza dos estragos que o individuo produz a sua volta;
descrio esta que, diga-se de passagem, a at mais precisa e
mais rica que o prprio relato das sensaes. Se Sonia
simplesmente tivesse suas vises ou "rodasse" sem causar tantos
transtornos, seu problema talvez no aparecesse de maneira to
grave. Mas ela no pode mais aj udar a me no cuidado das
crianas menores. Torna-se um peso pela sua perda de autonomia e
pelos prejuzos que causa com suas "quedas". Assim, o que
qualifica os distrbios de Sonia, e o que lhe permite express -los
enquanto tal, so justamente as "conseqncias" que eles
acarretam em seu meio ambiente.
O relato de Maria construdo de maneira semelhante:
A primeira vez, a primeira manifestao, me deu
uma espcie de desmaio. Eu fiquei desmaiada. Fiquei trs
horas, todo mundo achou que eu tinha morrido. Ai
quando eu fui voltando, eu recordo assim fui dando aqueles
gemidos fundos. Quando aquele trem me deixava em paz
eu no sentia mais nada. Foi depois do casamento que eu
comecei a sentir. Eu no sentia nada. Eu sentia era muito medo.
Eu tinha medo de
106
assombrao. Ai eu via. A gente ia dormir, era s eu
deitar, eu via uma senhora gorda sentada na beirada da
minha cama. Senhora de roupas brancas, gorda. No outro
dia eu levantava, no era ningum pra fazer as coisas,
no agentava. Uma nervosia que eu no gostava que
ningum conversasse comigo. Dava aquele estado de nervo
(...). Eu era to gorda, menina, que fui s emagrecendo.
Uma fraqueza nas pernas, uma dor no peito. No di a que
dava essa dor no peito, eu nem nos meninos eu no
pegava (. . . ). Oh, meu Santo Antonio me ajuda, eu no
dou conta de criar meus filhos, desse jeito eu no dou
conta. Eu no dormia, no comia. Assim foi Sete anos.
Eu ruim que no fazia um caf. Esses menino era pe-
queno, eu no olhava, no dava banho, no ligava pros
filho, new sabe! Quando chegava gente na minha casa,
porque na minha casa ia muita gente, dava vontade de
mandar esse pessoal embora (. . .). Os mdico falava
assim: "Ela no tem nada no, no t em nada. " E eu
naquel a fr aqueza, eu no sentava sozinha (me-de-santo
dona-de-casa).
Tambm neste caso, as sensaes e sentimentos so qualificados
pela sua repercusso no fluxo cotidiano de atividades
domesticas. A entrevistada passa da descri o do que ela sente
para os efeitos ou acontecimentos que esse sentir provoca a
seu redor: o medo, por exemplo, no tem em si mesmo a
"materialidade" suficiente para qualificar um estado mrbido.
Nesse sentido ela hesita em afirmar que sente alguma coisa. "Eu
no sentia nada. Eu sentia era medo." No entanto a situao
gerada pelo medo e pelas vises "no dia seguinte eu no era
ningum pra fazer as coisas" permite qualificar suas sensaes
e sentimentos enquanto anormais ou patognicos. Do mesmo modo,
quando tem dores "no pega nos meninos", e quando "fica
ruim", "no faz caf" e no gosta de receber visitas.
Inversamente a descrio da cura evidente no
desaparecimento da multiplicidade dos sintomas se constri
em torno da retomada da vida ativa. As imagens se contrapem
numa dualidade que associa doena-imobilidade de um lado,
cura-atividade de outro: "Ele tava desanimado", "A dona nem
andava", "Ele tava desempregado", etc., so expresses que
caracterizam a situao de doena; j a cura descrita nestes
termos: "Agora ta com emprego, ta forte", "Agora curou, vai
casar no final do ano", "Hoje esta dirigindo, andando, trabalhando".
10
7
Diretamente ligado as imagens que associam a sade a possi-
bilidade do use instrumental do corpo, aparece nos relatos de alguns
entrevistados um segundo elemento caracterstico: a oposio fra-
queza-fora. Para que se possa exigir do corpo a disposi o necessria
para o esforo que as tarefas cotidianas pressupem, preciso
garantir a este corpo dois direitos fundamentais: o descanso e a
alimentao. Assim, se nas representaes em torno da "doena"
presentes nos relatos de nossos entrevistados o estado mrbido se
caracteriza enquanto tal pela alterao do ritmo da vida cotidiana,
ele se faz presente principalmente pelo sentimento de fraqueza
fsica: quando o corpo no capaz, por estar fraco ou cansado,
de servir de instrumento para a execuo das tarefas habituais, e
portanto inadiveis, da vida cotidiana, a "doena" aparece, para o
individuo e para o grupo, em toda sua extenso e gravidade. A
perda de peso, a falta de apetite e as noites insones aparecem em
grande nmero de entrevistas como indicadores privilegiados do
estado doentio: "No comia comidas de sal", "Tanto fazia comer
como no comer", "No estava alimentando", "Ela era forte, agora
emagreceu", "Tinha uma fraqueza nas pernas", "Tinha uma insnia
de trs anos que remdios nenhum curava", "No dormia a noite
inteira", so acontecimentos freqentes nos r elatos de "doena",
aparecendo inmeras vezes na fala de nossos entrevistados (mais ou
menos dezoito informantes se referem espontaneamente a esses
"sintomas"). Com efeito, por ser a fora fsica to essencial para a
vida, a perda de peso, o emagrecimento, aparecem como sinais
evidentes da fraqueza do corpo e se tornam a representa o por
excelncia do "estar doente". Por outro lado, para restaurar a
sade do corpo e terna novamente gordo e forte preciso ali -
menta-lo e repousa-lo. Ora, paradoxalmente so exatamente essas
duas atividades, essenciais a sua preservao, que o corpo doente
recusa. O aspecto mais abominvel da doena e que justamente a
define naquilo que ela a prpria negao da vida se
realiza nessa recusa do corpo, nessa negao das condies mais
essenciais a recuperao de sua vitalidade. A total dimenso da
gravidade da doena aparece portanto no momento em que o
corpo, ao recusar-se a comer e dormir, resigna-se a aceitar passiva-
mente sua morte.
Essa constelao de associaes que ligam a morbidez a imo-
bilidade fsica e ao sentimento de fraqueza pode ainda ser recupe-
rada quando se tenta, a partir da fala de nossos entrevistados, re -
construir a imagem que eles se fazem de seu prpio corpo. O
108
artifcio que utilizamos foi o de anotar sistematicamente todas
as partes do corpo explicitamente nomeadas nas descri es das
sensaes e comportamentos. Embora mais a titulo ilustrativo do que
verdadeiramente experimental, pretendemos acompanhar a
lgica que selecionava sinais significativos e recompor, a partir
do conjunto de todas as falas, a imagem corporal resultante
dessa hierarquia de significaes. O resultado dessa
composio nos pareceu interessante: a regio abdominal
de longe a mais citada (25 vezes), seguida pelos membros,
sobretudo inferiores (15 vezes). A cabea tambm uma regio que
aparece com relativa freqncia, aparecendo na fala de 11
entrevistados. O corpo assim obtido
dotado de uma enorme regio abdominal (feita predominantemente de
referncias a barriga e ao estmago), pernas privilegiadas e uma
cabea relativamente importante. O que me parece ser ainda mais
significativo a ausncia de referncias a rgos como o corao
(que aparece uma vez), pul mo (que no aparece nenhuma) e
sobretudo a regies que dizem respeito a anatomia feminina, j
que 76% das nossas entrevistas foram feitas com mulheres. Proble-
mas relativos ao parto e a gravidez so mencionados apenas trs
vezes, mas inexistente qualquer referencia a problemas genitais ou
sexuais.* A noo de "fraqueza", na medida em que se associa a
* Poder-se-i a t al vez argument ar cont ra a vali dade de t al
i nt erpret ao uma vez que as ent revi stas, no correspondendo a uma
amost ragem si gni fi cat i va do gr upo es t udado, no dar i am mar gem a t a l
r ec ons t i t ui o da i ma gem corporal, j que os elementos ausent es
poderi am estar present e numa out ra distribuio. Dentro desse mesmo
racioc nio, poder-se-ia dizer que o material de que di spomos nos permiti ria
apenas tragar um quadro do tipo de doenas que incidem sobre a populao
estudada, mas no ofereceria element os para a anali se da nat ureza de seu
i magi nri o com relao ao seu prpri o cor po. Na verdade parece-nos que
o mat eri al que t emos di z mui t o a respei t o das representaes dos
entrevistados com relao ao corpo, suas funes e necessi dades. E i st o
porque a poss vel perceber nas ent revi st as uma espci e de clivagem entre
as regies do corpo onde se percebe sensaes desagradveis e as regi es
do corpo at acadas por doenas nomi nalment e ci t adas segundo a et i ol ogi a
medi ca. Com ef ei t o, vi mos que no pri mei r o cas o est mago e pernas
aparecem como essenci ai s; j no segundo aparecem al guns c asos de
pneumoni a (que di z respei t o aos pul mes), doena de Chagas
(corao), reumat i smo (est rut ura ssea). A barri ga e o est mago
aparecem como lugares de sensaes (dor), de problemas, de "coisas"
desagradveis quando no se est bem. As refernci as aos membros
i nferi ores so t ambm da mesma nat ur eza : "Eu es t ava com um
pr obl ema na per na", " Sai u um car o o na minha perna", "Sinto meus ps
frios", "Comea a fraquejar a perna", "Come-
10
9
idia de "impedimento fsico", se constitui, como esta, em imagem
privilegiada da doena para as camadas populares. No
entanto, enquanto esta ltima permite a expresso, dentro da
ptica oferecida pelo discurso religioso, de uma situao vivida
como problemtica, a noo de fraqueza, reelaborada por este
universo, liga diretamente, como veremos adiante, a esfera
do orgnico a esfera do espiritual.
Essa maneira de perceber as sensaes doentias,
bastante caracterstica das camadas populares na medida em
que o use do corpo com sua flexibilidade e fora fsica se
constitui em seu mais importante instrumento de trabalho, flat)
pode ser incorporada pela reflexo medica que deve se
preocupar em estabelecer um diagnstico referente a "queixa
principal". O modelo que orienta a obser vao medica a
or dem e o t ipo de pergunt as que o mdico faz no
consegue incorporar em sua lgica a situao-problema que
essa inatividade acarreta. A natureza da anamnese medica no
leva em conta, seno de maneira secundaria, a associao
sintoma/vida pessoal, j que a ao medica esta voltada para a
supresso das causas orgnicas dos distrbios, respondendo
aos problemas do paciente com receitas e remdios. Com
efeito, o' desencontro dessas duas perspectivas no pode ser
resolvido no interior da lgica que orienta a anamnese medica.
O discurso religioso, ao contrario, pela sua prpria natureza capaz de
recuperar essa multiplicidade aparentemente catica de "sintomas"
e dota-la de sentido. E isto porque a interpretao religiosa do
fenmeno mrbido significa a doena justamente na medida em que ela
um acontecimento muito mais abrangente do que uma simples
disfuno orgnica. Contrariamente, pois, ao tipo de discurso sobre
a doena que o dialogo com o mdico impe, no relato dos
umbandistas a esfera da vida pessoal torna-se parte integrante da
descrio da doena assumindo posio privilegiada em qualquer
relato de cura, em detrimento de uma enumerao pormenorizada
de sensaes. Questes como as colocadas pela medica no dilogo
anteriormente citado "Onde a dor exatamente, "O que piora
ou a ent ort ar o p", et c. Ao cont rari o, a refernci a a
doenas especi fi cas no do margem a descri es de sensaes t o
ri cas em adj et i vos e nem evidentemente as referncias a regio do corpo
afetada, posto que ela j vem defi ni da de ant emo pel o t i po de doena:
"Ai bat eu, vei o na mi nha fi l ha, a pneumonia e veio o sarampo", "Minha me
tem asma, a muito doente".
110
ou melhora a dor?", "Quais as sensaes a ela associadas?"
deixam de ter importncia para o "diagnstico" religioso, ao passo
que o relato das conseqncias dessas sensaes na vida pessoal do
sujeito assume posio privilegiada, mesmo porque a prpria
situao problema criada pela "doena" pode ser causa de novas
sensaes doentias. Assim, enquanto o mdico procura
dissociar, abstrair a experincia vivida do paciente, impedindo que
ele descreva a doena a sua maneira, o discurso religioso, ao
contrario, favorece a explicitao dessa experincia, produzindo
sentido justamente a partir da associao sintoma-desorganizao da
vida. No relato de qualquer umbandista "natural" a justaposio
aleatria de sintomas clinicamente heterclitos, posto que para
o discurso religioso eles se tornam equivalentes: todos esses
"sintomas" no so portadores de significado neles mesmos, mas se
relacionam para configurar uma situao experimentada como
patognica pelo sujeito; ora, contrariamente a Medicina, que
interpreta os sintomas como sinais de disfunes orgnicas, o
discurso religioso interpreta o conjunto de "sintomas" enquanto
indicadores de uma situao de anomia, exter na ao sujeito-
doente, e que se volta contra ele. Pode-se portanto -afirmar que
o discurso religioso trabalha em continuidade com a experincia
concreta e subjetiva que o sujeito tem de sua "doena", enquanto que a
Medicina produz uma ruptura entre o vivido e sua interpretao. O
discurso religioso se organiza em sintonia com a maneira
"popular" de perceber as sensaes doentias, estimulando a
associao sintoma-experincia e produzindo sentido a partir dela;
enquanto o paciente, em seu dialogo com o mdico, se v
"obrigado" a descrever um corpo doente, o "paciente-umbandista"
fala de um corpo difusa e genericamente "doente" para
descrever uma "situao-doente". A "doena" perde portanto no
contexto religioso seu contedo orgnico original e se torna um
acontecimento simbolicamente significativo que organiza e
pontua a biografia individual. Ao narrar sua histria de vida, o
adepto arranja suas experincias em funo da maneira como a
doena aparece. Sua histria pessoal se torna pois, em grande
parte, a histria do aparecimento e superao de sua "doena".
Esta funciona como contraponto da outra: ao manifestar-se, a
"doena" interrompe, enuncia ou at mesmo censura uma certa
maneira de viver. Nas entrevistas seguintes essas caractersticas
aparecem de maneira bem explicita:
Terminei o curso mdio, depois de dois anos comecei
a fazer o curso de Direito em Divinpolis. Tinha bons amigos e
111
continuamos na roda dos aperitivos e das cervejas. E o negcio veio
acentuando. Eu passei a beber praticamente todos os dias. No
conseguia ficar sem beber. Passei assim, no totalment e, mas . a
ser domi nado pel a cer vej a, pel a roda de amigos, etc. Inclusive
deixava as vezes a minha condio de pai, de esposo, pra ficar em
rodas por ai. E outras coisas mais que voc sabe... Minha vida
econmico-financeiro afundou, a ponto de eu quase perder t udo
( . . . ) . Quando as coi sas pioraram bastante, inclusive eu tava
tendo assim, dentro do trabalho, dentro de casa, no s dentro do
meu lar, com meus f ami l i ar es t udo pr a mi m t ava assi m mei o
ar eo. Tudo pra mim tava bom.
Se eu ganhasse bom dinheiro, tava bom, se no ganhasse, tava
bom tambm. Se minha famlia tivesse passando fome, no tava
nem al . Quer ia . quant o mai s t empo eu ficasse fora de casa, mais
eu gostava. Sala de casa oito horas da
s voltava meia-noite, uma hora ( ...). E aconteceu 16 em
Divinpolis, eu estava fazendo o quarto ano (de Direito).
Tomei 10 minha cerveja, fui dormir. De madrugada
eu acordei assim de repente e uma coisa diferente se apossou de
mi m. Eu tive medo. Quis gritar. Veio e segurou minha lngua.
Eu estava com a perna cruzada e quis descruzar e no consegui. E
quis gritar pra chamar algum, no consegui. Ent o uma coi sa
vei o par ece que comecei a ouvi r uma coisinha assi m no meu
ouvido: "O senhor quer conversar comigo?" Falei: "Quero." Ai
eu fiquei grilado com aquilo. Passou. Ai essa coisa comeou a vir
mais assiduamente. Foi aonde eu comecei a preocupar. Um dia eu estava
em casa com Efignia dormindo, quando por volta de meia-noite, uma
hora da ma nh, a mesma casa: perna cruzada, mo entrelaada e
a lngua. Falei: "Afinal de contas o que que voc quer? Voc
vai comear a me perturbar? Voc quer que eu v ao cent r o. . .
voc quer que eu desenvol va, que eu sou mdium ..." (mdium
advogado).
Eu comecei por um problemazinho nervoso. Isso tem uns quatro
anos que apareceu, e quando eu comecei a freqentar . melhorei.
Fiquei mais tranqilo ( ...). Eu tinha medo de mim mesmo. Medo
das coisas que precisava ter, no tinha. Medo por exemplo, de ...
vamos dizer: tem muita gente que tem medo de dormir na casa e ladro
entrar. Eu no tenho
112
medo disso, medo de fazer uma coisa perigosa eu no tenho. 8
cisma comigo mesmo, n? Meu medo era comigo mesmo, a
minha impresso. Cheguei a perder a confiana em mim. Vinha
assim, quando eu comeava a ficar nervoso, cismava assim, e a
coisa manifestava: era aquela friagem, aquela coisa ruim. Comeava a
ficar apavorado sem ter com o que apavorar. Quando voc tem motivo
pra apavorar normal, n, agora isso! ( . . ). Antes eu era um
homem que viajava, tranqilo. Mas aconteceu isso, o seguinte:
meados de 70, nos tivemos em Vitria, l na casa do Orlando, tinha
uma festa J na casa do meu irmo, eu me lembro bem . . . bebemos
na casa dele, mas samos normal da casa dele, e fomos pra casa e
tal. No outro dia, esse menino (aponta o filho) tem uma promessa
de ir a Santo Antonio das Rocas Grandes. Ento eu. . . minha afilhada
tambm tinha . . . todo mundo esqueceu. No dia seguinte era dia de
Santo Antonio, todo mundo esqueceu. Ento eu virei e di sse:
"Gent e, hoj e di a de i r ao Sant o Ant oni o, vamos?" ( . . .).
Chegou ali, que eu vi aquela multido parece que um negcio em
mi m fez assi m ( faz um gesto com a mac)) (.. .). Quando eu desci
do carro eu disse pra patroa: "Eu no tou legal, eu no tou sentindo
bem. Tou meio nervoso." "Ah, que isso, no tou nervoso nada!" Falei:
"Tou!" Mas eu fui insistindo, insistindo, cheguei at a porta da
igreja pra poder entrar, e no dei conta. Eu tive que voltar. Ai
dessa poca pra c eu tenho um tempo que eu vivi apavorado ( . .
.). Eu fui ao cent ro em busca de al guma coi sa. Pensava que. . .
algum tivesse feito alguma coisa pra mim, apesar, que eu me
lembre, eu nunca fiz nada de mal pra ningum ( ...). Vou to
explicar o drama principal meu: a primeira vez que esse
problema me ... eu tava em casa. Eu, meu pai. O Z Abrigo era
vivo. Ento meu pai tava conversando sobre assunto disso e tal, e
eu, igual a patroa, falei: no acreditava em hiptese alguma.
Ento o irmo de meu pai entrou numa discusso sobre Z
Arig, ai eu sei que sa l de casa muito aborrecido com meu pai.
Sai apavorado de nervoso, nunca tinha tornado um comprimido de
nervo na minha vida. E eu tomei o primeiro comprimido nesse dia. Me
aconteceu por esse assunto que nos tamo conversando aqui agora.
Foi na discusso sobre espiritismo. E dessa poca, dai uns quatro
anos, foi que manifestei aquela . . . depois de quatro anos daquela
discusso (freqentador motorista).
113
O que me parece interessante nesses relatos e a maneira abran-
gente como os entrevistados compem o quadro de seus distrbio. Embora
os dais casos acima facilitem esse tipo de composio, pois
tratam de problemas nitidamente psicolgicos, essas caracter sticas
tendem a aparecer, de maneira difusa, em todas as descri es de
"situaes mrbidas". Essa maneira globalizante de falar da "situao-
problema" se caracteriza, no relato de nossos informantes, pelos
seguintes elementos:
a descrio das sensaes/comportamentos mrbidos re-
enviam a uma desorganizao mais ampla da vida indivi -
dual vida familiar ou trabalho que pode suceder ou
mesmo anteceder ao aparecimento das sensaes
patognicas. No primeiro caso, a vida boemia, o no-
cumprimento dos deveres conjugais, a desorganizao da vida
domstica sancionada pelo aparecimento de certos sinais
"estranhos" lngua presa, membros rijos, vozes
interpretados como manifestaes das foras sobrenaturais;
no segundo caso, o surgimento de um medo sbito e
irracional (que aparece pela primeira vez numa discusso sobre
espiritismo) interrompe a vida de trabalho do entrevistado
que se v obrigado a aposentar-se pelo INPS. Esta mesma
caracterstica aparece, como vimos, em casos anteriormente
citados, como o da me que no podia mais cuidar dos
filhos e da moca que no podia mais sair sozinha;
a prpr i a estr ut ur a do r elato, a maneir a de compor a
"Histria da doena", produz a associao corpo "doente"-
situao problema. A descrio dos comportamentos e das
sensaes mrbidas sempre aparecem entrelaadas as observaes
quanto as circunstancias em que elas se manifestam (data ou
local, por exemplo), como se das circunstancias, e no
da prpria natureza das sensaes, dependesse sua
qualificao, enquanto mrbidas. "Isso aconteceu em 70",
"Nos estvamos na festa na Casa do Orlando", "Meu fi l ho
t i nha que cumpri r uma promessa e t odo mundo
esqueceu", "Aconteceu l em Divinpolis", "Eu estava no
quarto ano de Direito", "Meu compadre no estava comi-
go", "Tomei cerveja e fui dormir", etc. Tudo se passa
como se o onde, o como e o quando a coisa acontece
fossem mais importantes que o pr pio acontecimento: a
qualificao de "o que aconteceu", em termos de como
114
e onde, da a medida da gravidade do acontecido e o trans-
forma em fato extraordinrio.
Finalmente, porque o aparecimento de uma "doena" na vida
pessoal do individuo significa um acontecimento extraordinrio, a
descrio desse acontecimento no deve ser feita de maneira trivial. Parece-
nos que a freqncia com que aparecem mal-estares no-localizados,
dores mais ou menos difusas, fraquezas e comiches nos relatos de
nossos entrevistados, no pode ser interpretado como uma
incapacidade, tpica desse grupo social, j que socialmente
condicionada, a manipular e memorizar as taxionomias mrbidas
utilizadas pela Medicina oficial na decifrao dos sintomas.
26
No
porque dominem mal a taxionomia medica que nossos entrevistados se
referem as suas prprias sensaes de maneira to imprecisa, mas
ao contrario, essa justamente a linguagem adequada para
caracterizar os sinais que dizem respeito a experincia do sobre-
natural. O discurso das sensaes mrbidas assim construdo visa
repertoriar, aglutinar acontecimentos inscritos no corpo que possam
ser decifrados enquanto extraordinrios. E justamente, no que se
refere a percepo da presena num corpo de foras sobrenaturais,
so esses os sinais legtimos e significantes: dormncias, repuxes, mal -
estares, etc. O importante no pois detalhar de maneira
minuciosa as sensaes, mas interpretar sua presena. E preciso
pois que elas sejam bastante eloqentes em seu modo de aparecer
para se tornarem capazes de se transformar em sinais denotativos da
presena e atuao dos seres espirituais. Com efeito, o que mais
parece importar nas descri es que nossos informantes fazem de
suas sensaes ou comportamentos mrbidos a "extraordinarie-
dade" que os torna sujeitos a uma lgica que escapa a causalidade
natural.
"Eu comi uns bolinhos envenenados", nos conta Vera. "E
vomitei at quase morrer. A vizinha viu aquilo e achou muito
estranho." Tambm Vnia comeou a sentir tremores "esquisitos"
enquanto sua voz se tornava mai s grossa e rouca. Sua patroa
observou-lhe que aqueles tremores no podiam ser de frio porque
eram "muito esquisitos". Neste dois casos as sensaes descritas
como mrbidas so qualificadas como "estranhas", "esquisitas",
isto e, "no-naturais". E esta estranheza que permite ao individuo
supor que existe algo, para alm do distrbio puramente fisiolgico,
naquilo que ele sente. Essa suposio esta presente em quase todas
as narrativas. Na maior parte delas a descrio do estado mrbido
115
j traz embutida, mais ou menos explicitamente, um "Diagnstico":
seis informantes diagnosticam o que sentem como sendo "mau
olhado", dois como "karma" e 23 como sinal de uma "capacidade
medinica no desenvolvida".* A interpretao religiosa "Eu pre-
cisava ser mdium", "Voc ta carregada", "Mediunidade no-desen-
volvida", etc. estrutura, de maneira subjacente, os relatos de
doena, determinando a "escolha" dos sinais mrbidos mais apr o-
priados para exprimir a doena e organizando o texto das narrati -
vas no sentido de facilitar essa interpretao. Com efeito, como se
pode observar nos trechos transcritos a seguir, os adeptos nos
contam mais sobre o processo da descoberta, por parte do "doente"
e geralmente atravs da interveno de amigos, vizinhos ou fami -
liares, do carter espiritual da doena, do que sobre as
caractersticas da prpria doena.
Eu is na igreja e caia, n, eu desmaiava. Ento o padre
falava: "Eu j sei o que ." Falei com minha patroa, confessei
tudo. Morei com ela oito anos, pra 16 de Tefilo Otoni, a eu vim
embora. Porque l na minha terra uma dona me falou que eu
era esprita, n? Mas que meu terreiro no era l. Que eu
tinha que vir para um lugar longe. Ai eu sai da casa da minha
patroa que eu trabalhava e dia 25 eu cheguei aqui em Belo
Horizonte.
Quando eu entrei pra umbanda, eu tinha avisos. Tinha
doenas, era muito nervosa. Eu era completamente nervosa,
vivia chorando, qualquer coisinha chorava demais. Mas vivia
sempre naquele estado de ansiedade, de choque, de nervoso
dentro de casa, nunca sentia bem, chorava demais. Tinha
nervoso de gritar, sabe? Parece que podia ser uma aproximao
de entidades, mas como eu no tinha evoluo, no tinha
compreenso.
Mediunidade: capacidade que certos indivduos tem de
receber em seu corpo entidades espirituais. A recusa em desenvolver esses
poderes pode trazer graves conseqncias para o i ndividuo. O processo do
"desenvolvi mento medinico" a longo e demorado: o futuro mdium tem que aprender
o controle dos gestos e do tempo no momento do transe e identifi car pro-
gressivamente seu preto-velho, seu exu, seu caboclo e sua criana. (N. do A.)
116
Quando eu tinha nove anos meu pai faleceu. E quando
meu pai faleceu a coisa agravou mais ainda. Eu tido sei se houve mais
aproximao das entidades e tudo. Ai foi por intermdio de um
vizinho nosso, mame me levou numa Casa. Poucos meses
depois, fiquei bom (mdium funcionrio pblico).
Nesses relatos, a descrio dos distrbios se acompanha de
uma interpretao religiosa "Eu era esprita", "Era uma aproxi -
mao de entidades" que vizinhos, amigos ou adeptos decifram
para um Sujeito incapaz de reconhecer aqueles sinais. Saber ou
simplesmente suspeitar da causalidade espiritual de um distrbio
determina pois a maneira como esse distrbio descrito, posto que
responder sobre o "por qu" da doena passa a prevalecer sobre a
questo "qual a doena". Nesse sentido, detalhes exteriores e sem
relao aparente com as disfunes orgnicas apresentadas "Falei
com minha patroa, confessei tudo", "Quando tinha nove anos meu
pai faleceu" passam a integrar-se a descrio e tornam-se ele-
mentos importantes de sua compreenso. As experincias fsicas de
sensaes desagradveis ou dolorosas tem sentido, para aquele que as
relata, tido pela doena que escondem, mas pela capacidade que
encerram de significar, como um sinal a ser interpretado, a
natureza transcendente das foras que habitam o corpo-doente.
117
3.
MEDICINA MGICA E MEDICINA OFICIAL: O
CONFLITO DE COMPETNCIAS
NO FOI POR ACASO que escolhemos o tema da doena
para nossa analise do universo umbandista. Na verdade a presena
de distrbios somticos ou psicofisiolgicos corresponde a uma das
razes mais recorrentes, apontadas pelos freqentadores desses
cultos, para justificar sua presena nas sesses. Os resultados de
um levantamento que fizemos nas casas de culto da Grande So
Paulo em 1976 mostram que, ao lado das adeses que se fazem
sob influncia do ambiente familiar, o aparecimento de doenas
ou distrbios generalizados do comportamento ou do "bem-estar"
so as razes mais frequentemente levantadas para justificar a
consulta regular as entidades do culto: dos 570 entrevistados, 256
(45%) afirmam ter se tornado umbandistas "por causa de doena".*
Os resultados obtidos por Liana Trindade em sua pesquisa, realizada
tambm em So Paulo, apontam na mesma direo: das 57 respostas
obtidas entre seus 50 entrevistados, mais ou menos 53% (30
entrevistados) do como motivo de sua adeso ao culto a experincia
pessoal de distrbios psquicos ou somticos, e afirmam ter obtido
"segurana e equilbrio" atravs de sua participao continuada
nos trabalho religiosos.
27
1 exatamente este fenmeno que Candido
Procpio observa quando constata a importncia da esperana de
* Nesse levantamento 22,3% das respostas do ainda, como
causa de adeso ao culto, a experincia de uma "situao problemtica",
sem especificaes quanto a sua natureza, o que poderia talvez aumentar
ainda mais o nmero de pessoas que procuram o culto em busca de cura.
Somente sete indivduos (1,2% ) apontam expli citamente ral hes fi nanceiras
para terem recorrido ao culto.
118
cura no processo de converso a umbanda e ao kardecismo. "Se
distinguirmos na adeso as religies estudadas a fase do primeiro
contato e simpatia e a de participao plena", diz ele, "vemos que,
na primeira, a esperana de cura constitui o motivo primordial
de aproximao. Esse fator preponderante em todo o continuum
correspondendo, certamente, a mais de 60% dos que
procuram as prticas medinica em So Paulo."
2S
Na verdade
esse fenmeno no diz respeito somente a religio umbandista.
Estudos sobre as seitas pentecostais em So Paulo tem colocado em
evidencia a importncia da cura na converso dos adeptos. Segundo
Beatriz Muniz de Souza as mulheres que possuem o "dom da cura"
so, extremamente
.
valorizadas nessa seita protestante; este se
constitui o Segundo dom mais importante, depois do dom de lnguas,
de que so portadores os adeptos dessa comuni dade religiosa." A
cura religiosa tambm um trao caracterstico do catolicismo
popular: Douglas Monteiro, analisando um conjunto de cartas
enviadas por devotos a um santurio de So Paulo observa que
"os problemas de sade ocupam o primeiro lugar na incidncia dos
pedidos, distribuindo-se ao longo de uma escala que vai desde as
afeces mais banais at os casos mais graves"."
No entanto, embora a busca de uma resposta para problemas
que dizem respeito a sade parea ser, nessas religies, um impor-
tante elemento propulsor da demanda de adeptos, uma questo
rapidamente se coloca a nossa reflexo: possvel afirmar-se que a
noo de "doena" utilizada e pressuposta pelo observador das
prticas mgico-religiosas populares tem o mesmo valor e signifi-
cado para aqueles que recorrem a esse tipo de "medicina"? Dito de
outro modo, ao procurarmos analisar a chamada "medicina popu-
lar" em suas possibilidades teraputicas no estaramos introduzindo
no objeto de nossa reflexo, caractersticas que na verdade lhe so
estranhas?
Essa dificuldade se torna evidente quando se passa da analise
quantitativa dos dados (que apontam a doena como elemento funda-
mental na converso religiosa) para a anlise de contedo das
entrevistas. Com efeito, no discurso dos adeptos, a categoria
"doena" oscila constantemente, ora designando distrbios
especificamente orgnicos, ora remetendo a realidades mais
abrangentes. Um dor de Estomago ou paralisia dos membros, por
exemplo, que muitas vezes so para os adeptos objeto de cuidados
mdicos constantes (o que as torna "doena"), so ao mesmo tempo
objeto de prticas
119
mgicas; mas exatamente porque passaram do mbito da Medicina
para o mbito da magia religiosa, deixam de ser simplesmente
"doenas" para significar dificuldades de varias ordens (financeira,
afetiva, familiar, etc.). Esta aparente indeterminao na definio
do prpio objeto de nossa reflexo, a doena e a cura mgica, tem a
ver com a natureza contraditria dessa produo cultural, que
espelha o lugar socialmente subalterno a partir do qual produzido.
Vimos anteriormente que, para compreendermos a medicina popular
em sua histria, era preciso compreender sua relao com a
Medicina oficial. Ora, essa relao, que se define em nossa socie-
dade atual pela atribui o de uma posio hegemnica e social-
mente legitima a Medicina universitria, se reflete na prpria
construo dos conceitos de doena e cura elaborados pelo discurso
religioso. Assim, para compreendermos as prticas mgico-religiosas
umbandistas torna-se necessrio, paradoxalmente, no descartar as
noes de `doena' e `cura' como imprprias, mas ao contrario,
partir delas, posto que so utilizadas pelos prprios adeptos, e
compreende-las' dentro do contexto em que operam. Vejamos por -
tanto de que maneira essa relao determina o sentido da cura
mgica e a natureza dessas prticas profilticas.
As prticas mgico-teraputicas levam em conta, com efeito,
em sua atuao, a posio dominante da Medicina oficial. A noo
de doena tal como veiculada pelo discurso e prtica medicas
funcionam, para a umbanda, ao mesmo tempo como contraponto e
como modelo de sua atividade curativa: chefes-de-terreiro, como seu
Jos por exemplo, fazem com freqncia referncias a si mesmos
como "mdicos das mazelas do corpo e da alma". As falas de seu
Jos, em suas prelees semanais, se constroem em torno da cate-
goria de doena, utilizada de maneira metafrica: "Nos vivemos
numa sociedade doente", "Nossa alma esta doente", " O mundo
esta doente", declara ele em seus discursos. O prpio vesturio
utilizado por mdiuns de muitos centros reproduz o modelo e a
assepsia do uniforme branco dos mdicos e do ambiente hospitalar:
tudo muito limpo, muito branco, assptico, silencioso, moral,
hierrquico. Ainda um elemento que aponta na mesma direo: as
conversas dos adeptos com as entidades recebem o nome de
"consultas". Na verdade, quando se freqenta certos terreiros, tem-se a
impresso de que se esta diante de um verdadeiro ambulatrio do
INPS. Longas filas estacionam diante de cada guia, todo os
consulentes levando na mo uma ficha para consulta. Quando um
dos guias muito solicitado e a fila em torno dele no diminui, promove-
se uma
120
redistribuio "mais eqitativa" do trabalho profiltico. E isso sem
falar nas verdadeiras "operaes espirituais" que certos guias
executam:
Mas l onde eu ia tinha uma mulher l que o filho dela
era pra ser operado e ele foi operado na mo do guia! Era o
guia preto-velho... Mas ele foi operado e eu assisti assim.
Eu vi l no quarto, entrou dentro do quarto, o menino deitou
J, ele operou o menino. Operou um Negcio na barriga
(freqentadora domstica).
E evidente que ao serem retiradas de seu contexto e passarem a
operar no universo religioso essas noes passam a revestir-se de um
significado inteiramente distinto do original. No entanto
gostaramos de ressaltar que o discurso e a prtica mdicos,
embora reinterpretados, constituem o universo onde mdiuns e pais-
de-santo vo buscar os elementos que pontuam seu discurso e
balizam sua atuao. "Umbanda um pronto-socorro", observa uma
de nossas informantes, "voc chega e imediatamente atendido. A
energia que a gente chama, a vibrao, seria assim... a vitamina, a
fora para aquela pessoa e com aquilo ali melhora o estado fsico dela."
A Medicina oficial, justamente por ser uma prtica dominante,
sempre auto-referente, no sentido de que para instituir -se e
exercer-se se refere a seu prpio exerccio e a racionalidade cientfica
que o suporta. A "medicina popular", por ser uma prtica
subalterna, seu exerccio se refere necessariamente ao modelo domi-
nante. O mbito de sua atuao se desenha portanto em torno desse
confronto. A profilaxia mgica resolve: 1) os casos que a Medicina
no consegue resolver, e nesse sentido ela se lana numa "guerra
de competncia"; 2) os casos que no so da competncia medica
e nesse sentido a medicina popular se coloca como sendo uma
prtica "complementar" a Medicina oficial, enquanto esta simples-
mente desconhece a existncia de outra medicina que no ela
prpria.
A at uao da profilaxia popular se da sempre, portanto,
tendo como referncia a atuao medica dominante seja contra-
pondo-se a ela, seja tentando complement-la. As terapias oficiais,
ao contrario, atuam sempre "no lugar de" todas as outras prticas ,
isto , desconhecendo-as ou desqualificando-as enquanto supersti-
ciosas e ignorantes. Cumpre ressaltar que todas as vezes que a
121
Medicina hegemnica se voltou para a compreenso das prticas
populares, sobretudo no que diz respeito as tentativas de seu apro-
veitamento dentro da chamada "medicina comunitria", que pre-
tende treinar "agentes nativos" para o atendimento mdico-hospi-
talar mai s i mediato, ela o fez no sentido da reapropri ao, e
conseqente neutralizao, desses valores em seu prpio esquema de
conhecimento e exerccio. Desse modo a revalorizao das prticas
populares se & no sentido de tornar mais contundente, duradoura
e eficaz a penetrao da Medicina hegemnica, e no no da
compreenso e revalorizao das prticas mgico-religiosas."
Alem das tentativas de treinamento do pessoal "nativo", isto ,
daqueles que detm uma certa legitimidade para a no dentro da
comunidade, os programas de sade recuperam apenas partes ato-
mizadas do sistema mgico-religioso, alguns gestos, algumas crenas,
alguns objetos rituais, desconhecendo inteiramente o fato de que
esses elementos s tem sentido quando funcionando de maneira
integrada no interior de uma lgica j estruturada. Como bem
observa J. G. Magnani, a Medicina moderna, ao isolar partes
constitutivas, procura "entender um sistema a partir de mtodos
que lhe so prprios, agindo assim de acordo com a histria de sua
prpria formao, marcada pela acumulao de conhecimentos posi-
tivos e pela tendncia a especializao". ' Partem dos mesmos
pressupostos as tentativas de alguns estudiosos da medicina popular
que procuram analisar as ervas utilizadas nas infuses e nos banhos do
ponto de vista de sua composio qumica, ou ainda estudar o
papel teraputico da musica, da dana ou dos passes fludicos do
ponto de vista de seu potencial energtico." No queremos negar
as contribuies desses estudos para o conhecimento e a compre
encho de tais prticas , mas parece escapar a esse tipo de aborda-
gem que a concepo de doena embutida nesses gestos e prticas
essencialmente distinta daquela que tais estudos pressupem: menos nas
particularidades e sucesso dos gestos-, do que na integrao e
referencia a um sistema mais abrangente, que as prticas mgico-
teraputicas definem o que doena."
34
justamente essa
referncia que nos propomos analisar aqui para tentar compreender o
que esta realmente contido nesse conceito to abrangente de
doena.
A necessidade de definir para si mesmo um espao legitimo de
atuao leva o discurso religioso a subdividir a categoria "doena"
em dois grupos distintos: as "doenas materiais", que teriam a ver
com a atuao do "homem de branco" (o mdico), e as
"doenas espirituais", que teriam a ver com a atuao religiosa.
importante observar que o que esta por detrs dessa distino
formal, e o que lhe da sentido, j ustamente o fato de que ela
vi sa ao mesmo t empo supri mi r a n vel do discur so um
confronto real entre prticas socialmente antagnicas (se no do
ponto de visto do usurio pelo menos do ponto de vista da insti -
tuio religiosa e da prtica dela decorrente) e negar a posi o
subalterna que a prtica mgico-religiosa ocupa com relao a
prtica medica. Essa polaridade pretende instaurar uma partilha
mais ou menos igualitria entre os casos que seriam da competncia
medica e os casos referentes a competncia mgica.
Eu acho que o ideal seria tratar as duas coisas. Porque
existe o padecimento fsico como existe o padecimento espiri -
tual. As duas coisas tem que ser tratadas. Espiritualmente o
tratamento aqui feito atravs de passes. . . Agora, existe o tra-
tamento mdico, no plano da matria, que o individuo, ele
tambm muitas vezes a parte fsica dele afetada. As vezes
uma entidade que se liga a umas determinadas reas nossas, a
uma rea cerebral ou uma rea cardaca, ou a rea gstrica, e
que essa ligao de to longo tempo e to negativa que
acaba dando prejuzo no individuo. O individuo acaba tendo
lcera, tendo hemorragia. No caso do corao, acaba tendo dores
terrveis e pode comprometer a parte fsica, e tem que ser
tratada a parte fsica tambm (mdium mdico).
Mas essa definio de competncias traz embutida nela mesma
uma ambigidade. No trecho acima o entrevistado afirma a "com-
plementaridade" do tratamento mgico e cientfico, ressaltando a no-
congruencia do mbito das competncias que definem a atuao de
cada um. Entretanto, embora a "medicina umbandista" no
pretenda contestar o monoplio da teraputica oficial sobre os
cuidados da sade, pelo menos num confronto direto, a
"concorrncia" com a Medicina faz parte do contexto em que a
magia atua. Vimos no capitulo anterior como a Medicina
universitria, ao se constituir enquanto prtica hegemnica,
combateu e tentou desacreditar as prticas curativas populares.
Hoje, apesar de superada a fase repressiva, a ameaa de punio
legal pesa de maneira constante sobre a atuao religiosa. No
discurso dos praticantes umbandistas e daqueles que procuram solues
mgicas para seus proble-
Il l
mas, esse conflito esta presente, e se manifesta de maneira recorrente
na fala de nossos entrevistados:
As vezes, qual quer dor que eu si nt o, eu no vou no
mdico no. No tenho muita f. Tenho mais f em centro
do que no mdico (freqentadora domstica).
Eu no acredito em mdico. Eu no desfao da profisso,
Medicina. Eles podem salvar e podem matar tambm. Meu
mdico l em cima... (mdium domstica).
Eu tenho muita f na umbanda e a umbanda cura muita
gente. No sei por que razo eu tido gosto de it no mdico . .
(mdium corretor de imveis).
interessante observar que exatamente naqueles casos em que
a complementaridade das duas prticas pode se realizar de maneira
objetiva os casos que exigem intervenes cirrgicas, e para os
quais a umbanda no dispe de meios instrumentais de cura * o
conflito de competncias aparece de maneira exemplar. Nas entre-
vistas em que o adepto procura explicar a diferena entre esses
dois tipos de cura a cirurgia aparece como um exemplo da necessi-
dade de complementao mtua das prticas :
Porque tem doena orgnica e doena espiritual... Por-
que se for por exemplo "trabalho", a pessoa doente espiritual
no vai ser igual ao orgnico. Mas quando assim casos mais
gr aves, t udo que. . . no d. Por exemplo no caso de uma
cirurgia, ento no da para ser feito ali, manda procurar o que eles
chamam de mdico da terra (secretaria do centro).
Mas quando os adeptos passam da defini o de competncias para a
descrio dos casos de curas realizadas pelos guias, a sus-
* As possibil idades tcni cas e instrumentais da Medi ci na so,
com efeito muito importantes na distino das duas prticas . Alem dos casos
cirrgicos, alguns adeptos se referem a prolongados tratamentos
fisioterpicos realizados em hospi tai s. Um outro rel ata um tratamento de
cncer que durou oito meses, e um outro, ainda, foi atendido num pronto-
socorro aps uma tentativa de suicdio.
124
penso de uma cirurgia marcada ou a interveno do mdium para
que ela no se realize sempre relatada como uma vitria sobre a
Medicina:
Outro caso tambm foi o de minha me. Foi tirar chapa de
uma dor de barriga. Tirou chapa l, quando foi, o mdico disse
pra ela: "A senhora to com uma pedreira na barriga. A vescula
da senhora no existe mais, existe uma pedra!" A operao
marcada e tudo, o preto-velho pulou: "A senhora no vai
passar na faca. Eu no vou deixar." Mandou que a mame
fizesse um regime num dia e que depois ele iria l conversar
com ela. Que ela ficasse deitada, vestida de branco, com um
lenol branco cobrindo. O mdico de minha me ficou besta.
Porque ele no aceita a umbanda, sabe? Ele ficou besta, ele
tirou outra chapa e falou: "Trocaram a radiografia da senhora!" Ai
ele levou diretamente a mame pro raio X pra conferir. A
vescula perfeita. Sem nada, nada dentro (mdium
funcionrio
O discurso da complementaridade entre a prtica medica e a
prtica mgica desliza constantemente para a afirmao da supre-
macia desta ltima sobre a primeira. Na verdade a umbanda "com-
plementa" o trabalho mdico porque purifica o corpo das
interferncias espirituais. O mdico pode preencher seu papel com maior
eficincia quando recebe um corpo "limpo", isento de complica -
dores de outra natureza.
Mas justamente ao afirmar essa complementaridade os entr e-
vistadores afirmam, ao mesmo tempo, a atuao de uma instancia
sobre a outra: se os espritos malignos, ao se incorporarem no
individuo, acabam lhe trazendo danos fsicos fraquezas, hemor-
ragias, 1ceras cabe a Medicina tratar das conseqncias e no
das verdadeiras causas das doenas. Ao trazer as causas do
fenmeno mrbido para o campo espiritual, instaura-se o espao
legitimo da competncia religiosa no mbito da cura. A medicina
cabe apenas cuidar, atravs de seus meios instrumentais, do corpo
combalido do adepto que os espritos sofredores maltrataram. "Os mdicos
resolvem", observa Mario, "mas eles pensam que esto atuando na
causa e nada mais do que o efeito. Realmente eles tem um valor
extraordinrio, tomar remdio ajuda, mas o conhecimento espiritual vai
no porque, na causa da coisa. Da a vantagem."
125
Assim, afirmar a complementaridade das prticas afirmar, sub-
repticiamente, a prevalncia da atuao do espiritual sobre o
material. Tudo se passa como se a afirmao da complementaridade
fosse um discurso construdo para o observador, no sentido de
tranqiliza to quanto as pretenses e a legitimidade da atuao um-
bandista: um discurso que reconhece o lugar hegemnico da
Medicina.
O prpio discurso da complementaridade que define duas
reas distintas de competncias: a relativa as doenas materiais e a
relativa as doenas espirituais traz embutido, em sua lgica
interna, a afirmao da supremacia espiritual. Assim parece-nos
importante ressaltar aqui que, para percebermos o que esta em
jogo quando mdiuns, clientes e pais-de-santo falam em "doena" e
"cura", preciso compreender a rede de relaes de classe que se
estabelecem entre a profilaxia mgica e a Medicina oficial. Os
praticantes umbandistas tem, necessariamente, que levar em conta,
quando se referem a sua prpria prtica, a posio de subordinao
de seus rituais com relao ao lugar hegemnico e dominante da
Medicina universitria. Ao falarem de suas crenas, eles o fazem
dentro de um quadro social que desqualifica sistematicamente suas
pratica em nome de um monoplio, que a Medicina reivindica
para si, das funes curativas. O perigo da puni o legal esta
sempre a espreita para os umbandistas; eles no podem portanto
entrar em concorrncia direta com a Medicina. O discurso das
competncias diferenciais fundamental para neutralizar os conflitos
subjacentes a essa "disputa de mercado". Mas o conflito esta l, e se
explici ta cada vez que o adepto comea a falar sobre suas
curas. 8 somente, pois, a partir da compreenso desse quadro que
se pode perceber o alcance e o sentido de seu discurso sobre a
doena. Vejamos pois de maneira mais detalhada como se constri e
opera o conceito mgico-religioso de "doena".
126
NOTAS
1. CASTEL, R., A ordem psiquitrica: a idade de ouro do al ienismo, Rio de
Janeiro, Graal, 1978.
2. SZACZ, T., A fabricao do loucura, Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
3. ASSIS, M., O alienista, So Paulo, Ed. tica, 1976, 4.
a
edio.
4. CANGUILHEM, O normal e o patolgico, Rio de Janeiro, Forense, 1978.
5. BENEDICT, R., Padres de cultura, Lisboa, Ed. Livros do Brasil, 1934, p.
301.
6. !Idem, p. 283.
7. BASTIDE, R., Sociologie des Maladies Mentales, Paris, Flammarion, 1965, p.
248.
8. ORTIGUES, M. C. e E., L'Oedipe Africain, Paris, Plon, 1966. -
ZEMPLINI, A., "La Dimension Lherapeutique du Culte Rab", Dakar,
Psychopatologie Africaine, 1966, II, 3.
9. ILLICH, I., Nemesis Medicale, Paris, Seuil, 1975, p. 65.
10. DUPUY, J. P., "Relations entre Depenses de Sante, Monalite et Morbi -
dite", Paris, Cerebe, abril de 1973, in Illich, op. cit.
11. DONNANGELO, C., Sande e sociedade, So Paulo, Ed. Duas Cidades,
1979.
12. PELLEGRINI, A. e outros, "A Medicina Comunitria, a Questo Urbana
e a Marginalidade", in Sade e medicina no Brasil, org. Reinaldo Guimares,
Rio de Janeiro, Graal, 1978.
13. POLACK, La Medecine du Capital, Paris, Maspero, 1971, pp. 35-36.
14. CASTEL, R., O psicanalismo, Rio de Janeiro, Graal, 1978, p. 43.
15. MONTERO, P. e ORTIZ, R., "Contribuio para um Estudo Quantitativo
da Religio Umbandista", Cincia e Cultura, Vol. 28(4).
16. Ver "O Meio Grito", Cadernos do DEFI/3, marco de 1980, pp. 28-29.
17. ALBUQUERQUE, J. A. G. e RIBEIRO, E., Da assistncia a disciplina: o
programa de sade comunitria, So Paulo, FFLCH USP, 1979.
18. SILVA, M. da G., Prtica medica: dominao e submisso, Rio de
Janeiro, Zahar, 1976, p. 97.
19. !Idem, p. 72.
20. BOLTANSKI, L., "Os Usos Sociais do Corpo", in As classes sociais e o
corpo, Rio de Janeiro, Graal, 1979, p. 128.
21. SILVA, M. da G., op. cit., p. 76.
127
22. LOYOLA, A., "Medicina Popular", in Sade e medicina no Brasil,
Rio de Janeiro, Graal, 1978, p. 228.
23. BOLTANSKI, L., op. cit., p. 62.
24. Ver a esse respeito:
BOLTANSKI, L., Os usos sociais do corpo, Bahia, Ed. Periferia. 1975.
BRANDAO, C. R., Crenas e costumes de comida em Mossamedes, serie
Sociedades Rurais de Minas Gerais, Vol. V, Universidade Federal de Goias,
Goiania, 1976.
FREIRE, J. C., Ordem medica e norma familiar, Rio de Janeiro, Graal,
1979.
RODRIGUES, "Alimentao e Sade Um Estudo de Ideologia da
Alimentao", UNB, mimeo, 1978.
1BASIEZ, Novion, "El Cuerpo Humano, la Enfermedad y su Represen-
tacin", mimeo, Rio de Janeiro, Museo, 1974.
25. SILVA, Tatiana, "A Representao Social da Sade e Doena no Brasil",
mimeo, PUC-SP.
26. BOLTANSKY, L., As classes sociais e o corpo, Rio de Janeiro, Graal,
1979.
27. TRINDADE, L., "Exu: Smbolo e Funo", So Paulo, 1979, mimeo.
28. PROCOPIO, C., Kardecismo e umbanda, So Paulo, Bibl. Pioneira de
Cincias Sociais, 1961, p. 94.
29. SOUZA, B. Muniz de, A experincia da salvao pentecostal em Silo
Paulo, So Paulo, Ed. Duas Cidades, 1969.
30. MONTEIRO, D. T., "A Cura por Correspondncia", in Religio e So-
ciedade 1 (1), 1977, pp. 61-79; ver tambm "Igreja, Seitas e Agencia.
Aspectos de um Ecumenismo Popular", simpsio sobre a Cultura do Povo
II Seminrio Cultura do Povo e Religiosidade.
31. Ver PELLEGRINI FILHO e outros, "A Medicina Comunitria, a Questo
Urbana e a Marginalidade Social", in Sade e medicina no Brasil, Rio
de Janeiro, Graal, 1978.
32. MAGNANI, J. G., "Doena e Cura na Religio Umbandista
subsdios para uma proposta de estudo comparativo entre prticas medicas
alternativas e a medicina oficial", So Paulo, 1980, mimeo, p. 2.
33. Ver por exemplo o II Simpsio de Plantas Medicinais do Brasil, in
Cincia e Cultura, setembro de 1978.
34. MAGNANI, J. G., idem, p. 2.
128
129
III
A PERCEPO POPULAR
DA DOENA E SUA
REINTERPRETAO
RELIGIOSA
A TE AGORA NOS REFERIMOS a categoria de doena
utilizada pelos umbandistas como se ela se referisse a mesma ordem de
fenmenos que dizem respeito a prtica mdica. Na verdade ao
definir a polaridade "doenas materiais"/"doenas espirituais" o
sistema religioso esta ao mesmo tempo procurando instaurar o
campo possvel de sua atuao e transformando o contedo do
segundo pela negao do primeiro. Ao passarmos do discurso para a
prtica mgica, isto , para a aplicao da dicotomia material/
espiritual aos casos concretos que chegam aos terreiros, vemos que
essa oposio abstratamente definida se dissolve, dando lugar a uma
compreenso inteiramente nova do fenmeno da doena. Vejamos,
pois, de maneira mais detalhada os diferentes momentos dessa
metamorfose.
130
1.
DA DOENA DESORDEM
QUANTO MAIS SE OUVEM os casos de doena contados por
clientes, mdiuns e mes-de-santo, mais se percebe que as
fronteiras entre "doena material" e "doena espiritual" esto
longe de ter a nitidez que o discurso religioso aparentemente lhe
atribui. Ao tentarmos compreender a natureza das representaes
que se constroem em torno da noo "doena material" percebe-se
que, embora os umbandistas afirmem que esse tipo de doena
pertinente a esfera de atuao da Medicina, na prtica, as "doenas
materiais" j trazem embutidas, em sua prpria definio, a possi-
bilidade de uma interpretao mgico-religiosa.
Quando se analisa o conjunto de falas obtidas e se procura
perceber quais os sinais que levam o informante a qualificar uma
doena como de ordem material ou espiritual, chega-se a uma con-
cluso pouco esclarecedora: uma doena espiritual porque no
material. O aparente circulo vicioso em que se encerra esta pequena
concluso ganha sentido quando se analisa o caminho percorrido
pelo doente que recorre as solues mgicas. A maior parte de
nossos entrevistados, ao chegarem aos terreiros pela primeira vez, o
fazem j tendo experimentado, de uma maneira ou de outra, os
recursos oferecidos pela Medicina oficial. Nesse sentido a busca da
cura mgica surge no como algo que se soma, que se complementa
ao tratamento mdico, mas como algo que se contrape, se substitui a
ele, seja porque a Medicina fracassa ao tentar resolver os problemas
do paciente, seja porque a Medicina desconsidera suas queixas como
sendo pertinentes a descrio de alguma entidade mrbida.
Entrei na umbanda por fora das circunsncias. Por causa de
minha filha. Entrei porque at os sete meses minha filha
131
tinha sade de ferro, mas no dormia durante a noite. Ento
vivia a base de calmante, com pediatra, receitava calmante,
mas nada adiantava. Mas eu seguia direitinho a prescri o
medica, no deixava dormir de dia, no adiantava no. Ento
entrei pra umbanda. lti mo recurso, n? E ai pedi muita
proteo pra ver o que eu tinha... Simplesmente problema
espiritual da criana (mdium domstica).
Fiquei um ano e um ms entrevada das cadeiras para
baixo. Eu no andava. Fiquei um ano e um ms paraltica, em
cima de uma cama. Fiquei um ms no hospital So Francisco.
O prpio mdico mandou passar para o espiritismo. Falou
comigo que a Medicina estava esgotada. Ai quando eu vi que
no sarava mesmo, eu pedi pra minha me me levar no cent ro.
O di a que eu f ui no cent r o e comecei a andar ,
sal de l andando (me-de-santo operria).
Tambm Teresa comeou a freqentar o centro depois de
"desenganada" pelos mdicos:
Comecei a ir ao centro por causa de doena. E os
mdicos: "Ah! E cncer, cncer e tal. .." Eu fiquei meses
no hospital. Depois de um dia l, um mdico desenganou, falou
que eu is morrer naquele fim de semana, que eu podia ir pra
casa. Trs dias depois eu apareci no centro (freqentadora dona-de-
casa).
Nesses depoimentos a procura do centro de umbanda se da
depois que o individuo no encontra os resultados desejados na
Medicina: a magia se torna o "ultimo recurso", tentativa desespe -
rada diante do fracasso da Medicina ("O mdico me desenganou";
"A Medicina estava esgotada") e de seus remdios ("Remdios
nenhum curava"). Tanto mdiuns quanto freqentadores definem a
eficcia da interveno mgica tendo como contraponto o fracasso da
teraputica oficial. Mas existe uma nuance que diferencia esses dois
tipos de falas: os freqentadores sublinham, em sua narrativa, o
aspecto de "revelao" contido na cura mgica. A ao mgica e
sua eficcia desvenda para o individuo "doente" uma dimenso
espiritual da vida que "trabalhada" pelo mdium: eu no sabia,
mas agora eu sei, dizem os consulentes. Essa dimenso espiritual
aparece organizada dentro de um discurso que "explica" a doena
132
era mediunidade, era mau-olhado permitindo ao individuo
"obter sentido" de um fenmeno que era antes percebido em sua
negatividade: doena = perda de algo essencial, a sade. O discurso
dos mdiuns, diferentemente dos primeiros, sublinha o antagonismo, o
conflito latente entre as duas medicinas. Ele procura enfatizar a
eficcia da cura mgica em oposio a lentido e ineficcia do
t rat amento mdi co: "O di a que fui no cent ro j sai andando"
(enquanto que a Medicina tentou em vo), durante um ano, fazer
algo); "O dia que fui no centro, nunca mais precisei de remdios
para dormir" (enquanto que h trs anos remdios tentavam, em
vo., me fazer dormir).
De qualquer maneira, seja porque o tratament o religioso
capaz de atribuir um sentido positivo ao fenmeno mrbido, seja
porque ele considerado mais eficaz do que o tratamento mdico, o
que importa perceber no momento que a definio "doena
espiritual" se constitui nestes depoimentos em contraposio
eficcia da Medicina universitria.
No segundo caso esto os depoimentos em que o informante se
queixa da incapacidade da Medicina em perceber a existncia de uma
doena:
Quando eu fiquei doente, eu procurei os mdicos. Fizeram
tudo quanto tipo de exame, mas no achou nada. Da ponta do
dedo at o ltimo fio de cabelo. Falaram: "Olha, voc
fisicamente no tem nada." Fizeram tambm exame de cabea e
disseram: "Voc no tem nada. Voc est sadio." No sinto
nada, nunca senti nada, mas passou . acabou. Eu procurei me
tratar, tomei remdios. Cheguei a fazer sonoterapia, no
resolveu nada, porque eu new tinha nada. Fizeram eletro
encefalograma: no constou nada, normal. O mdico me receitou
alguns remdios, esses remdios no resolveram. Fui num
neurologista. Ento ele primeiro chamou minha patroa e per -
guntou a ela sobre meu procedimento, ela explicou pra ele tudo. Ento
ele me examinou. Testes ele fez ni mim. Falou comigo: "Olha,
voc no tem nada!" Falei com ele: "Douto, sinto isso e isso."
Falou: "Voc no tem nada, supersadio" (freqentador
motorista),
Nestes casos a definio "doena espiritual" aparece no diante
do fracasso da soluo medica como nos depoimentos anteriores,
mas diante do fracasso de "diagnstico": embora o paciente apre-
133
sente suas queixas, a Medicina no a capaz de "ver" a doena.
Ora, "ver" a doena constitui-se, nas representaes que as camadas
populares tem sobre os fenmenos mrbidos, condio sine qua non da
prpria existncia da doena. Se ela no pode "ser vista",
porque no esta l. E esta representao diz respeito tanto as
doenas psiquitricas quanto as doenas orgnicas. Com efeito, pode se
perceber na fala de nossos entrevistados que pertencem ao campo das
"doenas materiais" (relativas ao mdico) tanto as doenas
tratadas pelo clinico - geral quanto as tratadas pelo psiquiatra. A
doena psiquitrica percebida como sendo um fenmeno to
orgnico (material) quanto qualquer outro tipo de doena e
nisso as camadas populares absorveram perfeitamente o modelo
explicativo da psiquiatria tradicional. O que caracteriza fundamen-
talmente, para nossos entrevistados, a "doena da matria" no a
distino orgnico/comportamental, mas sim a possibilidade, ine-
rente a toda "doena material" inclusive a psiquitrica de
ser vista, percebida, tocada, alcanada em sua prpria materialidade
por aquele encarregado de extirp-la.
A maioria dos mdico falava comigo: "Olha, menina, voc
new tem nada, nada material no." Eu no tinha nada que
atrapalhasse minha cabea, assim material. Eu j tinha tornado
muito remdios, muita injeo. J tinha feito muito exame, muito
regime, muita coisa (mdium domstica).
Eu tinha assim problema na escola, sabe, eu no
agentava assim ficar na sala de aula: ficava nervoso.
Desmaiava muito. Ento o mdico, ele alegou, que eu tinha
leses, esses trecos na minha cabea. Ento eu tenho trs
eletrofisiograma, todos consta leso de sangue na cabea (mdium
garom).
A certeza da doena passa nestes relatos pela possibilidade de
v-la concretamente, objetivamente, dentro do corpo. Os mdicos, e
nestes casos o psiquiatra, tem ao seu alcance todo um arsenal
tecnico-cientfico que lhes permite ver a doena do paciente, nas
representaes que deles fazem nossos entrevistados. Eletro
encefalogramas, radiografias, etc., so, instrumentos que permitem aos
mdico ver "se o individuo tem alguma coisa na cabea". Nesse
sentido, nossos entrevistados no distinguem o psiquiatra dos
outros especialistas: as "doenas da cabea" ou "dos nervos" tem
a mesma concretitude ou materialidade que qualquer outra doena.
Expresses do tipo "Tinha doena no Estomago, intestino", "Estava
toda inflamada por dentro", "No fiquei com uma gota de sangue
134
no corpo", "Vazando o olho por dentro", "O sangue de um lado
foi sumindo", "Aquele limo que tem nas tripas acabou", "Muita
perda de sangue", utilizadas para descrever doenas orgnicas,
so, semelhantes as utilizadas para as que dizem respeito as
consultas psiquitricas: "Tinha doena na cabea", "Tenho um
pouco de nervo", "Leses de sangue na cabea", "Problema de nervo",
"Pinamento no nervo da coluna". Assim, quando o entrevistado
diz: "O mdico no encontrou nada", ele esta, na verdade,
dizendo: "Eu no estou doente porque no t enho nada de
mat er ial, de objetivo, de concreto, dentro do meu corpo." A associao
doenamaterialidade aparece de maneira interessante nesse ltimo
depoimento, em que o entrevistado descreve sua doena psiquitrica
atravs da expresso "Leso de sangue na cabea", expresso que
rene todos os elementos que parecem compor a noo corrente de
"doena": a materialidade, posto que uma leso pode ser vista
atravs dos aparelhos mdicos, e a deteriorao de dois elementos
vitais o sangue: seiva da vida, e a cabea: sede da
racionalidade e da moral. Seria com efeito interessante fazer uma
analise mais detalhada acerca das representaes populares em torno
da "doena dos nervos". Alguns trabalhos pioneiros, como a
pesquisa de Luiz Fernando Duarte em Jurujuba, observam que a
"doena dos nervos" aparece associada a qualidades essencialmente
femininas. "A mulher se define unicamente", segundo este autor,
"pela sua fora moral, elemento intimamente ligado a ao dos
nervos. Essa associao nervos/interior estende-se para o piano
da identidade da prpria unidade domstica de tal forma que a
mulher ser vista como o nervo da casa, o elemento 'moral' do
controle desse ente." A prpria categorizao da mulher como ser
interior, diz ainda Duarte, imprprio aos contatos com o mundo
exterior, fazem dela um sujeito no qual a doena de nervos quase
crnica ou endmica.' Essa associao entre os nervos e a fora
moral, tambm presente no caso que estamos estudando, torna a
"doena dos nervos" elemento privilegiado da transio entre os
fenmenos materiais e as manifestaes espirituais. No entanto,
apesar dessa caracterstica dos disturbios nervosos, a mutao doena
material ---> doena espiritual se realiza, tanto no caso dos
problemas orgnicos quanto nas doenas nervosas, pela negao do
estatuto da "doena" a esses disturbios. E voltando ao problema do
"fracasso de diagnstico" temos que justamente a reduo da doena
(orgnica e psiquiatrica) a sua concretitude objetiva e material que
permite ao pensamento religioso "subtrair" as sensaes mrbidas do
mbito daquilo que "normalmente" definido como doena, e
transform-la em indicadores de fenmenos de outra ordem:
135
Eu levava no mdico. Mas o mdico no encontrava nada.
Ela tem nervo. Ele falou que ela era nervosa, que ela tinha
que consultar um psiquiatra. Mas a maioria das coisas que
ela tem e tudo de centro. Porque melhorou mesmo foi depois
que ela entrou pro centro. Ah, eu acho que no tem nada a
ver com mdico. Ela pode ter, porque nervo todos nos temos,
n, todos nos. Mas no deve ser nervo totalmente. O Negocio
dela centro mesmo (freqentadora domstica).
Eu estava ficando aleijada. Antes de it no centro fui me
tratando. Fiz psicoterapia. Procurei o mdico. Tomava muita
vitamina, beterraba, cenoura. Fazia fisioterapia no hospital.
Durante uns dois meses. O mdico falou assim: "A senhora
no tem nada." Fiz exame de sangue, exame de urina, no
deu nada. Ento eu vi que o meu mal era espiritual
(freqentadora domstica).
A "doena espiritual", embora aparea como "doena", o que
leva os pacientes a procurarem os mdicos, na verdade "no
doena", e por isso o mdico "no encontra nada".
Eu acho que a umbanda cura mais que a Medicina, por -
que tem hora que as pessoas vai ao mdico e os mdicos no
acha nada. Ento eles vem aqui para o centro ( mdium
secretaria).
Quando a doena "espiritual", o mdico se torna incapaz
de diagnostica-la j que sua tecnologia se torna impotente para
apreende-la em sua materialidade e de qualificar o doente dentro
da esfera de sua competncia, isto e, enquanto doente: a "doena
espiritual", ao subtrair -se a materialidade essencial de qualquer
doena, se torna algo distinto dela, supera a ordem do puramente
fisiolgico e se torna indicador da presena de foras sobrenaturais
cuja natureza, origem e intenes cabem ao mdium, e no ao
mdico, investigar.
136
Os mdicos no conseguem atravs da Medicina, valori-
zadissima, com uma tecnicissima, atravs de tudo quanto e
exame, eles no conseguem dizer o por que daquelas doenas.
Isso uma doena que a parte espiritual afetada ( mdium
funcionaria pblica).
Assi m temos que os depoi mentos do pri meiro tipo "O
mdico me desenganou" no negam a existncia de uma doena.
Ao contrario, ao afirmarem a presena de um mal, melhor eviden-
ciam a inoperncia dos meios teraputicos oficiais, e "provam" a
existncia de causas patognicas anteriores e mais fundamentais do
que as simples causas orgnicas: a influncia dos espritos malignos.
Os depoimentos do segundo tipo "O mdico no achou nada"
so complementares aos primeiros porque evidenciam para o
interlocutor a espiritualidade, a no-organicidade, do mal. Se a
doena fosse simplesmente um fenmeno material, o mdico a
teria detectado com seus aparelhos e sua viso. Sua incapacidade de
perceber a doena um afirmao de que a doena no realmente
uma doena: os sintomas mrbidos so, indicadores de uma outra
ordem de acontecimentos, que tem a ver com a esfera do mgico e
do transcendente. Tudo se passa como se o mdico, pela sua inca-
pacidade de ver o que esta detrs daqueles sintomas, corroborasse
"cientficamente" a existncia de uma esfera que escapa a sua
competncia. A noo de doenca, "roubada" ao contexto mdico,
se transforma assim na noo religiosa de Desordem. A "doena"
ressignificada simbolicamente pelo universo mgico e passa a
expressar, para almdo corpo, toda ameaa contra a Vida. E
exatamente por isso que a narrativa da "situao-problema" anali-
sada no capitulo anterior to importante na descrio da doena. A
"doena", enquanto expresso da negatividade absoluta, se torna
paradigma do conflito (social, moral, psicolgico), do caos. Enquanto
metfora, ela passa a significar a Desordem por excelncia, que se
manifesta no corpo fsico, mas tambm no corpo social e no
corpo astral. Evidentemente o fato de que as doenas afetem, de um
modo geral, o vigor moral, a vontade pessoal, e consequentemente o
fluxo da atividade cotidiana, facilita a associao Doena-Desordem
(associao sintetizada na expresso "doena espiritual"), per-
mitindo ao individuo reinterpretar seu estado mrbido como uma
experincia do sobrenatural, como uma interferncia de foras espi -
rituais em seu corpo e em sua vida.
137
Assim a dicotomia Doena Material/Doena Espiritual pre-
tende instaurar, num primeiro momento, a complementaridade das
competncias e consequentemente a legitimidade da interferncia
do elemento mgico numa esfera dominada pela racionalidade
tecnico-cientfica. Entretanto, uma vez postulada a sua existncia, a
"doena espiritual" passa a funcionar como uma representao que
nega o estatuto de "doena" aos fenmenos a serem tratados: ela
transforma os sinais mrbidos em signos de uma desordem
abrangente que at ento permanecera, para o paciente, aqum do
sentido, e que desde sempre permanecera, para o mdico, fora do
alcance de sua compreenso e de sua tcnica. Esse processo de
mutao que retira o fenmeno mrbido da esfera "da doena",
tornando-o "desordem" (no-doena), tem como conseqncia a
sobreposio da explicao religiosa a simples causalidade natural
das doenas orgnicas e psquicas, isto , a sobreposio, como
sendo anterior e mais fundamental, da cura mgica a cura medica.
Nossa religio no Medicina, no cincia. Nosso tra-
balho mais missionrio que cientfico. Nos combatemos as
causas das doenas e os mdicos combatem os efeitos (pai-de-santo
funcionrio publico).
Nos acreditamos que existe uma causa almdaquela que a
psiquiatria coloca ... a causa no reside apenas naquilo que
est aparecendo, a causa transcende a coisa. . . (mdium
psiquiatra).
A doena no pois seno uma aparncia, uma maneira de
aparecer dos fenmenos transcendentes, o modo que tem de tornar se
sensvel, de revelar-se. E neste sentido que para os umbandistas a
doena no realmente doena, mas aparece como se fosse:
Se voc tem mediunidade, se voc tem uma divida com
um esprito ou se voc vitima de um esprito vingador, que t
ai pra fazer o mal, ento o que acontece . . . voc vai ficando
doente... a viso que o ambiente vai ter de voc vai ser a
viso de que voc e doente (mdium psiquiatra).
O "fracasso" da Medicina diante da doena (fenmeno que
`por definio' lhe compete) abre a possibilidade para a percepo da
doena enquanto sinal de desordem, posto que, aquilo que
138
aparece como doena e leva as pessoas ao mdico, , na verdade,
"outra coisa": "O pessoal cismava que eu tinha problema na
cabeceia", nos conta Antonio, "e sempre me levavam no hospital.
Mas meu problema no era pra mdico, pra psiquiatra no. Eles
pensaram que era uma coisa e era outra."
No entanto se a "doena espiritual" no a doena, ela pode,
em ltima instancia, vir a tornar-se. O efeito prolongado e desor-
denado das foras sobrenaturais sobre o corpo podem vir a dete-
riorar suas funes vitais. "Se por causa da demora em desenvolver a
mediunidade a doena j esta em grau avanado", pondera o
pai-de-santo Gerson, "a gente encaminha para o mdico". A
mdium Teresa faz afirmao semelhante quando diz que os
"pensamentos negativos so, dardos poderosssimos que atingem
diretamente a matria".
A predestinao karmica faltas cometidas em vidas passadas
que devem ser pagas nesta vida pode tambm determinar
conseqncias nefastas e irreversveis para a sade individual. 8
interessante notar que nestes casos a cura espiritual impotente,
j que no se pode evitar o sofrimento a que estamos
predestinados, mas apenas aceit-lo enquanto tal:
Para ser curado h necessidade de um merecimento. Se o
individuo tem um tumor no p e procura um mdium e
curado, porque e um individuo que j esta em condies de
receber essa cura, porque seno ela no acontecia. Se j
chegou o perodo dele resgatar aquilo, ele vai ser curado.
Agora, se no chegou, no adianta, quer ele procure um centro,
quer ele procure um mdico, no adianta. Ele pode procurar a
quem quer que seja, porque as vezes o sofrimento, as vezes a
doena, el a necessr i a par a o i ndi vi duo ( mdi um
psiquiatra).
O processo de mutao que transforma a noo medica de
"doena" na noo religiosa de "desordem" termina pois numa
inverso interessante: por um lado, a noo de "doena espiritual"
implica na negao da doena (ou de sua representaro) tal como
ela a atribuda a esfera de atuao do mdico negao
necessria, como vimos, a determinao de um espao legtimo de
atuao mgica; por outro lado, a prpria noo de "doena
espiritual" reenvia novamente ao mbito de atuao medica j
que o corpo sofre as conseqncias da ao desordenada dos espritos, ou
esta irremediavelmente condenado a doena, em virtude de suas
139
faltas ant er ior es mas inver te as posies i nici ai s de
i mport nci a e legitimidade. Com efeito, no final desse processo a
Medicina torna se um apndice que secunda a atuao mgica ora
curando aqueles cuja sade j estava garantida pela interveno
espiritual (merecimento), ora acompanhando, em seu caminho para a
morte, aqueles destinados a sofrerem nesta vida as agruras da
doena. Assim, se os desenganados pela Medicina batiam as
portas dos terreiros, temos agora os "desenganados" dos centros que
voltam a Medicina, no para 'serem curados (posto que ela
impotente para reverter as linhas do destino), mas para serem
acompanhados em sua lenta agonia. Este sem dvida o sentido da
fala de uma entrevistada, me-de-santo paulista:
Tem muitos casos que vem e no tem cura mesmo,
quase como no hospital mesmo, tem muitos que j vem e j t
vencido, pessoas que no tem mais cura mesmo, que j t
passado Chamo o mdico s quando um causo mesmo
que precisa, um causo que eu vejo que eu quero fic ciente se
aquela tem vida pra viv ou no tem, porque quando no tem
eu mando no hospital.'
A profilaxia oficial s tem portanto um papel secundrio e
inofensivo, ao mdico compete o cuidado dos agonizantes, aos
hospitais o repouso dos moribundos. Assim, a mesma lgica que
argumentava no sentido da eficcia da umbanda na soluo de
problemas indecifrveis para os mdicos transforma a Medicina
oficial no repositrio dos casos definitivamente sem soluo do
ponto de vista espiritual, destino fatal que aquela , no entanto,
impotente para revogar.
Assim, a possibilidade de uma sobreposi o da explicao so-
brenatural as causas orgnicas das doenas, inerente e necessria
ao pensamento mgico, torna improvvel que, em sua atuao
prtica, um mdium ou me-de-santo "diagnostique" como
"doena material" algum distrbio que lhe for dado a interpretar.
Porque para o pensamento mgico-religioso a causalidade
sobrenatural age sobre a causalidade natural sobredeterminando-a:
o que importa compreender na doena como um individuo
determinado se torna, num momento preciso de sua histria, vitima
de um sofrimento dessa natureza.
Finalmente, retomando a argumentao acima enunciada, diramos
que o discurso religioso parte da noo corrente de doena, pois
essa a definio que a sociedade da as disfunes comportamentais e
140
orgnicas. O discurso "reconhece" essa defini o como legitima,
mas ao incorpora-la no interior de seu prpio discurso a
reinterpreta e a operacionaliza num sentido que lhe totalmente
estranho. Esse conceito de doena tornado Desordem passa a consti-
tuir no interior do sistema de pensamento umbandista uma espcie de
"grelha", ou de cdigo atravs do qual ser possvel exprimir,
compreender, dar sentido e atuar sobre os acontecimentos de sor-
denados do mundo e da pessoa. E sobre essa funo de "descritor" de
conflitos assumida pela noo Doena-Desordem que passaremos a
falar em seguida.
141
2.
A CURA MGICA
A REINTERPRETAO DO CONCEITO de doena pro-
duzida pelo pensamento e pela prtica religiosa o transforma, como
vi mos, numa noo muit o mais abrangente, capaz de dotar de
sentido uma realidade que se apresenta para o individuo como
desordenada e catica. Dentro dessa perspectiva a etiologia cientfica
fica muito aqum das necessidades de significado dos fenmenos
patolgicos. O que importa para o pensamento mgico-religioso
no a compreenso do processo fsico que se desenvolve num
estado mrbido, nem sua causao puramente biolgica. A doena se
torna elemento significante somente quando associada a idia de
uma negatividade genrica, a noo de uma desordem que extrapola
o corpo individual ao abranger as relaes sociais e a prpria organizao
do mundo sobrenat ural. I essa negatividade abrangente que o
pensamento mgico procura compreender e neutralizar, pois o que
"normal" e corriqueiro no precisa ser explicado, mas tudo o
que rompe ou desvia o curso regular das coisas e das aes
humanas no pode ficar sem causas.
3
Assi m, embora os
freqentadores procurem os centros visando fins teraputicos a
supresso de uma dor ou a recuperao dos movimentos de um
membro paralisado por exemplo , a manifestao do mal menos
importante do que suas causas e a "cura" s se torna possvel
quando o rito produz essa conjuno sintoma-desordem. Suprimir a
morbidez no significa, pois, eliminar "tecnicamente" um sintoma,
mas ressignifica-lo inserindo-o num sistema explicativo mais
abrangente. Assim, no onde essa negatividade se manifesta, isto
, no corpo concreto de um individuo, que o pensamento religioso
vai procurar os princpios explicativos dos fenmenos mrbidos.
142
O "sintoma" e suas causas no tem, para as representaes religio-
sas, a mesma sede.
4
O mal que atinge o individuo, agredindo seu
corpo ou desorganizando sua vontade, aparece sempre, no pensa-
mento religioso, diretamente associado a atuao de um agente
exterior ao prprio individuo. A representao da "doena" implica
portanto numa relao Agressor/Vitima, agresso esta que se constitui
por sua vez em ameaa a ordem social mais abrangente. E esta
ameaa que o pensamento religioso, ao tentar compreender, procura
neutralizar.
* * *
A anlise do discurso "teolgico" umbandista veiculado pela
imprensa e livros religiosos * nos permite distinguir, no que diz
respeito a causalidade das doenas, trs grandes categorias de
fenmenos mrbidos:
1 Doenas causadas pelos prprios indivduos;
II Doenas provocadas por terceiros;
III Doenas karmicas.
I No primeiro caso o individuo pode ser considerado o
causador da doena que o aflige quando transgride as regras do
jogo ritual desconhecendo-as ou negligenciando seus deveres reli -
giosos, ou quando se recusa a desenvolver sua mediunidade e/ou a
utiliza de maneira desvirtuada (fazendo "trabalhos" contra ter -
ceiros). Em qualquer dessas circunstancias o individuo, moral -
mente debilitado, torna-se vitima da influncia nefasta de toda uma
gama de foras malficas que o fazem sofrer espiritual e fisicamente:
"
maus fluidos", quiumbas" (almas de pessoas ms que ainda no
* Embora nossa anal i se se f undamente em grande nmero
de autores e obras umbandistas, preciso ter em conta que essa tentativa de
racionalizao e homogeneizao do discurso religioso tarefa assumida pelos
"intelectuais" umbandistas e nem sempre corresponde exatamente as prticas
e crenas observadas diretamente nos t erreiros. Essa sistematizao
doutrinaria, ao contrario de uma fundamentao geral das prticas rituai s,
corresponde antes a uma tentativa de organizao a posteriori de crenas e
prticas mais ou menos difusas e que podem variar bastante de um centro
para outro. Nessa tentativa de ordenao "racional" das crenas religiosas
os autores tampouco so homogneos, o que implica na existncia de
contradig6es e interpretaes diferenciadas no interior da prpria teoria das
"causas" das doenas.
143
foram controladas pelo culto religioso = exus pagos, "obsessores" ou
"encostos" so foras malficas que ficam vagando sem destino, no
espao, a procura de um corpo frgil e desprotegido no qual
possam infiltrar-se (ou encostar-se). Assim, os indivduos que se
recusam ao fortalecimento espiritual, que o desenvolvimento da
mediunidade e a obedincia aos deveres religiosos significam, ficam
expostos e vulnerveis as influncia deletrias desses seres inferiores
e mal-intencionados. Mas tambm o use deste poder divino que a
mediunidade, para a realizao de trabalhos de magia negra, pode
trazer para o mdium que assim atua conseqncias bastante
desagradveis. Muitos umbandistas utilizam a expresso "choque
de retorno" para explicar o que acontece ao mdium que comea a
utilizar-se de seus exus "de baixa espiritualidade" para fazer
"trabalhos" contra terceiros. "Quando o despacho no produz o
efeito desejado, volta-se contra o despachante, que fica misteriosa-
mente doente", afirma Candi do Felix.' J o umbandista Nelson
Oliveira observa:
No deveis, nunca, lanar mo de vossos conhecimentos
espirituais para fazer mal a quem quer que seja, nem mesmo a
vosso maior inimigo. Devemos lembrar-nos da Lei do Choque de
Retorno e dela concluirmos que quem faz mal, para si o faz.6
Um individuo precisa portanto da fora e da proteo dos
espritos benfazejos para defender-se contra as foras malficas que
podem amea-lo, mas tambm para proteger-se contra si mesmo, j
que essas foras so atradas por comportamentos vergonhosos,
indisciplinados e faltosos: a ma conduta ou a fraqueza moral favo-
recem a aproximao do "encosto". Segundo Felix:
Os pensamentos so o grande perigo, pois que eles e os
maus fluidos tornam-se realidade no Astral, tornando-se uma
fora de atrao dos maus elementos. Os maus pensamentos
so, uma fora de atrao dos maus espritos. Para evitar a
aproximao dos espritos sofredores, preciso expulsar de
nossa mente todos os pensamentos maus e substitu-los por
sentimentos e pensamentos elevados.7
Outra verso desta mesma idia pode ser encontrada no livro
de Oliveira Magno:
144
Eis como a pessoa pode se prejudicar, carregar e enfeitiar a
si mesmo. Temos conhecido casos de larvas criadas pele
imaginao errada da pessoa e sugando a vitalidade daquela
assim com a parasita suga a vitalidade da arvore na qual est
encostada.8
Embora a fraqueza moral, resultante da ma conduta ou
desobedincia ritual, torne o individuo vulnervel a ao das foras
malficas, nem sempre a vontade pessoal de transgredir ou a
conscincia da transgresso esto em jogo nesse processo. Nesse
sentido, alguns autores fazem a distino entre a "obsesso"
quando o individuo, sem o concurso de sua prpria vontade, se torna
vitima dessas foras malficas da "obcecao" quando a
vontade pessoal atrai esse tipo de influencias. Antonio Alves Teixeira
define a obcecao como um fenmeno em que a "pessoa se deixa
empolgar, isto e, no reage, no oferece resistncia, por idias, leituras,
acontecimentos, conversas ou personalidades (malficas) de outros".
Embora admitindo a possibilidade de uma atuao dos espritos
malficos sem a "cumplicidade" ou tolerncia por parte do indi-
viduo, a maior parte dos autores reconhece, nesses casos, uma
certa responsabilidade pessoal dos que sofrem tais tipos de influen-
cias. Mas h situaes em que a pessoa reconhecidamente vitima
desses espritos sofredores e totalmente irresponsveis pela sua
atuao: so os casos em que o individuo adoece sem saber por que e
tendo levado at ento uma vida correta.
II Os casos em que individuo se torna vitima dessas foras
do Mal sem o concurso de sua prpria vontade podem se dar de
duas maneiras distintas:
a) Casos de feitio os prprios homens, movidos por inte-
resses mesquinhos, utilizam-se dos espritos de baixa espiritualidade
para realizar, atravs de trabalhos de magia negra (quimbanda),
aes contra terceiros. Observa Byron Torres:
Os espritos atrasados ficam vagando, presos a Terra, e
nutrem cimes por tudo que lhes pertenceu em vida. Esses
espritos atrasados que servem de instrumento para bruxarias e
atos condenveis.9
b) Obsessores agridem o individuo sem que tenha havido qual -
quer transgresso moral ou ritual da parte deste os espritos atra-
sados, pela prpria inferioridade de sua condio espiritual, muitas
145
vezes desejam perseguir os homens e vingar antigas magoas envian-
do-lhes doenas de toda sorte * e os mais diversos malefcios. Esses
espritos de baixa luz so as almas de pessoas desencarnadas que,
em vida, foram vitimas de muitas injustias inclusive de traba-
lhos de quimbanda e guardam, depois da morte, desejos de vin-
ganca contra seus agressores.
III Finalmente, no terceiro caso temos as doenas karmi-
cas. Essas doenas resultam da necessidade, para todos os homens, de
resgatar faltas cometidas em existncias anteriores. Aqueles que empregam
sua vida para o Bem, evoluem espiritualmente e podero, em
conseqncia, desencarnar num grau mais elevado de espirituali dade.
Mas preciso submeter-se a um processo de encarnaes e desencarnaes
sucessivas para atingir o mais alto grau de perfeio; somente nesse
momento o individuo se ver desobrigado a voltar ao mundo para
viver mais uma vida: ele estar ento definitivamente liberado de seu
karma. Diz Fontenelle:
A vida karmica a provao que cada um tem que passar
na vida material, como tambm na vida espiritual, conforme a
concepo que se faca, ao analisarmos os fenmenos do
esprito, quando materializado ou incorpreo (.. . ). Como do
conhecimento de todos, existem entre os seres humanos
diferentes ordens ou graus de aperfeioamento, como
tambm, entre os espritos, a hierarquia, nos seus diversos
caracteres ou prismas.
Assim, para os espritos desencarnados (sejam eles puros ou
imperfeitos), o karma consiste na acelerao ou retardamento de
seu grau de perfeio pela prtica que eles tiveram, quando em
vida, neste mundo: se aqui praticaram o Mal, permanecero ou
* Alguns autores tendem a interpretar as manifestaes de
loucura com a ao desses espritos. Segundo Simoni Guedes, "a maioria das
manifestaes de ordem nervosa correm por conta de exu e dos eguns
(espritos dos mortos). So infncias espirituais. Os eguns provocam estas
alteraes devido a inimizade com a vitima (de vidas anteriores) ou por terem
sido induzidos ao mal. Aquel es eguns que se lembram de inimizades de
vidas anteriores no conhecem a lei do perdo: so atrasados".
10
Antonio A.
Teixeira observa por sua vez que o individuo "tornado pela obsesso a quase
sempre levado a loucura, com bem poucas probabilidades de cura".11
146
regrediro aos baixos escales da hierarquia. Para os encarnados
nos que vivemos neste mundo o karma representa o destino bom
ou mau que acompanha nossos passos at a mort e. Este karma
j esta de antemo determinado por motivos que desconhecemos,
uma vez que tem a ver com o tipo de vida que levamos em
encarnaes passadas.
A proposta de classificao das doenas em trs grandes cate-
gorias tem na verdade um valor puramente heurstico. Com efeito,
mais do que distinguir concretamente vrios "tipos" de doenas,
essa distino nos permite compreender melhor a lgica subjacente ao
pensamento religioso ao separar fenmenos que nos casos concretos
aparecem superpostos. Quando se tem uma viso de conjunto do
quadro proposto, pode-se perceber que o trao caracterstico que
nos permite distinguir o primeiro grupo de doenas dos outros dois
a interveno da responsabilidade individual do doente, que, no
primeiro caso, aparece como "causa explicativa" da doena. A
desordem fsica resulta, nesse caso, de uma "fraqueza moral", que
todo rompimento de regras morais e/ou religiosas implica: a
"doena" assume, nessa perspectiva, uma conotao punitiva
que a transforma em sano ao desregramento da conduta. Mas
quando se passa da analise dos textos religiosos a observao da
prtica dentro dos terreiros, pode-se perceber que o individuo nunca
considerado, nos casos concretos, diretamente responsvel pelo seu
prpio mal. Ainda que vcios ou mas aes o tenham levado a essa
situao, a "fraqueza moral" que o impelia a comportar -se dessa
maneira pode, por sua vez, ser tambm explicada atravs da atuao
de espritos inferiores. As causas imediatas de qualquer doena
esto portanto sempre relacionadas com a presena de espritos
malignos, que podem ou no ter sido atrados pela ma conduta ou
pela perda de valores morais do individuo, mas que s o, em
ltima instancia, os verdadeiros responsveis. Este fato se torna
tanto mais evidente quando se observa a lgica subjacente ao pro-
cesso mgico-terapeutico que, como veremos adiante, incide sempre
sobre os espritos e nunca sobre a conduta ou personalidade do
doente. Sero sempre os espritos os admoestados: so eles os que
devem ser convencidos a abandonar o corpo de suas vitimas; so
des os que devem fora para subir na escala espiritual. Ao
individuo cabe apenas proteger-se contra tais agresses reafirmando
ritualmente seus laws de intimidade com guias e protetores e
fortalecendo dessa maneira sua "fora vital" ameaada. nesse
mesmo sentido que pode ser compreendido o no-desenvolvimento
147
das capacidades medinicas como elemento causador de doenas:
o individuo que se nega a receber entidades espirituais benfazejas
esta se recusando a participar da prpria fonte de onde emana toda
fora vital esta recusando a prpria vida e cortejando a morte.
Assim, tanto a "fraqueza moral", que mais conseqncia do que
causa de doena, quanto a "mediunidade no-desenvolvida", propi-
ciam o aparecimento de fenmenos mrbidos porque ambos signi -
ficam rompimento ou separao entre o mundo dos homens e o
mundo dos deuses: os primeiros, deixando de comungar com a
prpria fonte da vida tornam-se fracos e desprotegidos; os segundos,
no tendo mais como encarnar -se e reviver dessa maneira a
memria de sua existncia, perdem-se para sempre no esquecimento
dos homens. Esta ruptura, de conscincias to nefastas, deve
portanto ser continuamente evitada, e contida; os laos de solida-
riedade entre os dois mundos permanentemente garantidos e reavi -
vados essa a funo essencial e constante do ritual religioso.
Quando se passa do discurso teolgico a sua aplicao prtica, elemento
que parecia caracterizar o primeiro grupo de doenas, as causadas
pela irresponsabilidade do pr pio individuo, se dissolve
completamente. Por detrs da aparncia dos discursos possvel
perceber que o individuo sempre vitima de foras nefastas que lhe
so exteriores, as quais incapaz de controlar. A mesma "pseudo-
responsabilidade" reaparece no caso das doenas karmicas: nesses
casos o individuo esta submetido ao duro destino de ter de resgatar
neste mundo faiths de que foi responsvel em vidas anteriores.
Ora, uma responsabilidade colocada assim to distante do controle da
vontade pessoal torna o individuo mais vitima de um destino do que
verdadeiro transgressor de certas regras morais. Vejamos por
exemplo a reflexo de Candido Felix sobre os males oriundos da Lei
do Karma:
Nem sempre aquele que procura fazer o mal a seus inimi gos
castigado. N a maioria das vezes o castigo vir somente na
reencarnao. E assim que se pode explicar o motivo pelo qual
muitas pessoas sofrem durante toda a vida sem achar explicao
para isso. 8 que, embora se trate de pessoas boas, temos que ver que a
sua prova o castigo pelo que fizeram em encarnaes anteriores. Da
mesma forma pode-se explicar os casos de seres humanos cegos ou
aleijados ou com as piores doenas e que assim nascem sem que
possam ter a menor possibilidade de se curarem.'2
148
Embora o autor refira-se aqui a idia de castigo, o que pressupe
uma culpa a expiar, estamos neste ponto bastante longe da noo crista
de pecado. O "pecado", enquanto falta que deve ser expiada ou
resgatada, supe a existncia de um sujeito "livre e responsvel". que
poderia ter agido, se quisesse, de maneira diferente. Na teologia
umbandista a idia de destino se sobrepe a possibilidade de uma
ao livre e consciente por parte do individuo. O homem, embora
castigado pelas suas fraquezas, mais vitima do que culpado; ele
no , no fundo, responsvel pelos males que o fazem sofrer, uma
vez que estes so sempre exteriores e estranhos a ele. O fenmeno do
feitio ilustra de maneira exemplar essa lgica. Se compararmos o
primeiro grupo de doenas com o segundo, veremos que num, o
sujeito aparece como "responsvel" pela sua doena, quando utiliza
sua mediunidade para o mal (para fazer feitios), e noutro o sujeito
aparece como vitima de trabalhos cuja origem desconhece. No
entanto, quando se passa do nvel discursivo para a prtica ritual,
percebe-se que a prpria ambivalncia do fenmeno mgico suprime
esta distino: e isto por duas razes fundamentais:
a) Embora todo discurso religioso umbandista afirme a distino
umbanda/quimbanda, na prtica nenhum centro se define a si
mesmo como "terreiro de quimbanda", porque isso significaria
condenar sua prpria prtica enquanto prtica anti-social. Se a
quimbanda existe, o quimbandeiro sempre o "outro", o desconhe-
cido, o concorrente ou inimigo. Assim, ainda que toda casa de
culto seja obrigada, para obter resultados satisfat rios, a lanar
mo do trabalho com foras malficas, nenhum terreiro admite estar
realizando "trabalhos de magia negra". Alan disto preciso consi -
derar que a prpria definio do Mal extremamente ambivalente.
Na verdade no h. mal que no traga em si mesmo um bem, nem
que seja para beneficiar aquele que o prtica.
b) Todo centro de umbanda "trabalha" com exus e pombas
giras (exus femininos), porque estas so as (mi cas entidades que
podem realizar as atividades consideradas de "baixa espiritualida-
de": somente foras do mal podem "sujar as mos" e combater o
Mal com eficcia. No entanto em todos os terreiros afirma-se que
essas entidades com as quais se trabalha so "batizadas", isto ,
receberam o nome ritual e descem nas sesses sob o controle vigi -
lante das entidades de luz. Assim, embora sejam malficas e infe -
riores, essas entidades trabalham para o Bem, numa magia branca e
defensiva, desmanchando trabalhos de quimbanda.
149
Para a umbanda, os que vivem nas trevas e trabalham na
magia negra, sempre por interesse pecunirio e por intermdio de
um quimbandeiro, tem a denominao geral de exu. Na
quimbanda ou magia negra, encontramos mais seres; quando
necessrio, a convite dos umbandistas, esses elementos concor-
rem eficientemente para desmanchar trabalhos que infelicitam
criaturas humanas. Tais espritos, em contato com os umbandistas,
ouvindo preces e sabatinas, sempre em nome de Deus, sem nada
receber, ouvindo a doutrinao amiga de nossos guias e
mentores espirituais, pedindo a caridade divina do perdo,
sentindo o nosso desapego e desprendimento pelas coisas ma-
teriais, vo aos poucos se transformando; num dia festivo de
Ogum, por exemplo, despem a carcaa fludica que os envolve
e incorporam-se nas fileiras do Bem. Dai a necessidade de
conhecermos todo material e utenslios por eles empregados, bem
como locais, dias e horas para seus trabalhos.
Recomendamos aqui, como boa prtica, os centros, tendas,
etc., aumentarem normalmente mais uma noite de trabalhos
medinicos, realizando com os mdiuns desenvolvidos, sem
assistncia de pessoas estranhas, o trabalho de incorporao
dos exus, j familiarizados com os mdiuns e a quem tenham
prestado o seu concurso em desmanchar um trabalho feito por um
quimbandeiro ou mesmo por um umbandista desenca -
minhado.13
interessante observar neste texto a ambigidade que reveste a
atuao desses personagens. Se por um lado, trabalhando para o
Bem, podem evoluir espiritualmente e incorporar-se nas suas fileiras,
por outro lado sua existncia essencial para a umbanda, uma
vez que ela no pode agir no campo da magia negra sem o seu
concurso. Assim, embora eles devam ser "convertidos", os exus de-
vem tambm permanecer exus, e exatamente pelo tipo de atuao
que realizam eles so bons e maus ao mesmo tempo. Nesse combate
inexorvel entre o Bem e o Mal, o homem aparece sempre como vi -
tima. A doena aparece neste contexto como um momento em que
as foras malficas predominam sobre o Bem. l sobre o corpo do
individuo que se realiza este embate transcendente. Ser tambm
neste mesmo corpo que as foras malignas devero ser controladas:
todo esforo ritual vai no sentido de localizar essas foras que se
insinuaram no corpo desprotegido, domin
-las e expulsa-las para
150
fora. Assim, somente pela identificao do esprito atrasado presente no
individuo possvel proceder a sua expulso. Uma vez identificado,
pode-se saber do esprito o que ele deseja e as razes que o levam a
atormentar sua vitima. Nesse processo ritual, os espritos perturbadores,
Aladim de admoestados, so recompensados com presentes de seu
agrado como fumo, pinga e comida. O procedimento para a expulso
desses seres inclui, como veremos adiante, diversos ritos, que
variam em funo da periculosidade do esprito e da gravidade do
doente.
A ao mgico-religiosa no visa portanto atingir o individuo
em sua manei r a de ser ou de compor tar -se, mas cont rol ar as
foras malficas responsveis pela desordem do mundo e da vida
cotidiana. Entretanto, embora no vise diretamente o individuo
em sua idiossincrasia prpria, seu corpo o local privilegiado da
inscrio desta doena-desordem. E nele que o Mal pode ser perce-
bido, interpretado e domesticado. Veremos no capitulo seguinte de
que maneira as representaes religiosas associam os diversos pia-
nos individual-sociais e sobrenaturais: ora, a interveno mgico
teraputica tem como suporte essa viso globalizante uma vez que
visa reconstituir o equilbrio individual e social atuando no plano
espiritual. Mas essa ao espiritual tem por sua vez como suporte o
individuo: somente quando se realizam nele, as foras do mal
podem ser domesticadas; somente quando se cristaliza no corpo, a
desordem do mundo se objetiva e pode ser controlada. Assim,
todas as prticas rituais visam o corpo, na medida em que um
"corpo-que-fala" que encarna e expressa algo que lhe estranho e
exterior. A partir dessa perspectiva possvel ordenar a heteroge-
neidade das prticas mgico-teraputicas em dois grandes grupos:
A) as que visam diretamente o corpo doente;
B) as que visam diretamente as foras espirituais, seja neutra-
lizando a atuao dos seres malficos, seja atraindo a
proteo das entidades benficas.
A terapia a ser adotada num caso ou noutro geralmente
recomendada pelas entidades espirituais ao pr pio "paciente" no
momento da "consulta." *
* "Consul ta" = momento do ritual em que o publ i co presente
a sesso se dirige a "gira" para conversar com as entidades de sua preferncia.
151
A) No primeiro grupo pode-se distinguir:
1 . As prticas rituais que visam extirpar do corpo doente as
foras malficas que o habitam. So as prticas exorcistas, segundo
terminologia utilizada por Luc de Heusch em sua categorizao dos
rituais mgico-terapeuticos.
14
Neste grupo podemos distinguir:
a) Os rituais de "desobsesso": A "retirada" ou "puxada" De
modo geral esta prtica consiste em retirar as foras malficas do
paciente pela intermediao de um ou mais mdiuns do centro.
Estes, colocando uma das mos sobre o corpo doente, estabelecem
uma "corrente vibratria" que permite a passagem das foras
malignas para seu pr pio corpo. Em seguida, com gestos rpidos,
descarregam essas foras em locais considerados seguros (a terra,
por exemplo). No centro de D. Conceio, por exemplo, a "puxada" se
realiza da seguinte maneira:
O consulente repete trs vezes ao ouvido do mdium "puxador"
seu nome e endereo. Imediatamente este recebe uma "descarga
negativa" oriunda do consulente, que obriga seu corpo a contor -
cer-se abruptamente numa algazarra de gritos e gemidos. Suas mos
se tornam rgidas, aparentando garras, e seus bravos pendentes se
cruzam fortemente sobre os joelhos. Imediatamente um outro
mdium se aproxima e ordena ao esprito maligno que "abra a
chave", isto , descruze as mos e se retire. O esprito se recusa
dizendo: "Por que me mandaram chamar? Por que me mandaram
buscar?" Ao que, o outro responde: "V embora em nome de
Nosso Senhor Jesus Cristo." O mdium possudo bate ento
vigorosamente as duas mos contra o solo como para ali
descarregar as foras que o habitam e assopra ruidosamente pela
boca, at libertar-se daquelas foras escusas.
interessante observar, neste exemplo, de que maneira se
atualizam, com suas cores locais, as consideraes que fizemos
anteriormente a respeito dos rituais teraputicos:
o problema do consulente deslocado de seu corpo para o
corpo de um mdium, onde ele poder ser mais bem
controlado. Essa passagem se faz por contato e pela
enunciao das caractersticas que definam o individuo
em sua idiossincrasia e enquanto um ser social: o nome e
o local de moradia;
a doena, na representao que dela faz o mdium possudo, aparece
em seu aspecto desordenado e ameaador: o homem perde suas
feies humanas e se aproxima da animalidade,
152
com suas mos transformadas em garras, seus gritos roucos. O
corpo encurvado se contrai em movimentos desordenados.
Para suprimir a desordem faz-se necessrio abrir a
passagem que coloca em contato o mundo dos homens
com o mundo dos deuses protetores: abre a chave, pede o
mdium. As foras malignas ensaiam uma rebeldia mas se
curvam diante da autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. O
mal, a desordem, volta para o reino subterrneo das
trevas, e o equilbrio volta a reinar no mundo dos homens.
Este ritual apenas um exemplo da maneira como a estrutura
bsica deste rito interpretada, a partir de uma combinao original
de elementos, por um terreiro particular. No entanto com maior
ou menor riqueza de detalhes e significaes os centros lanam mo
dessas "correntes vibratrias" para descarregar os consulentes de
suas cargas negativas que imediatamente so despejadas no astral.
Muitas vezes, descargas de plvora e defumadores so utilizados
como tcnicas auxiliares desses descarregas.
b) Os passes ou benzees Consistem numa serie de gestos
ritmados que atuam sobre varias partes do corpo cabea, mem-
bros, peito visando retirar dali as mas influencias que o habi -
tam. Algumas vezes esses passes se acompanham de "defumacees"
rituais que se fazem com a fumaa dos cachimbos dos pretos-velhos,
ou com os charutos dos caboclos. De um modo geral os centros
dedicam uma ou duas sesses por semana para ouvir as queixas
dos consulentes e distribuir passes. "Pessoas que chegam aqui com
dor de cabea", observa um mdium-frequentador, "tomam posse, j
saem bem aliviado. Pessoas que chegam aqui com aquele ar
pesado, j saem bem aliviado. J sai curado, aliviado daquilo."
Os casos mais graves, em que a doena renitente, ou o esprito
se recusa a abandonar o corpo de sua vitima, exigem rituais mais
complexos e variados que vo desde a "desobsesso" at trabalhos
nas matas, cachoeiras ou encruzilhadas.
c) Banhos de descarr ego Fei t os a base de mi st ur as de
vegetais (sobretudo aqueles que tem a virtude de proteger contra
mau-olhado como a arruda e espada-de-so-jorge), visam resultados
semelhantes aos produzidos pelos passes, mas agem como tcnicas
secundarias de auxilio. De um modo geral, a entidade revela durante
a consulta a composio da "receita" do banho que devera ser
tornado em casa, durante um certo perodo e obedecendo a certas
regras rituais como dia, hora e condies para o procedimento da
153
lavagem. Segundo Wamir Guimardes, presidente da Federa o
Umbandista de Belo Horizonte, o use ritual de pl antas na umbanda
procura aproveitar "as energias concentradas nos vegetais" que
atuam, segundo ele, seja no sentido da repul so das foras
malficas, seja na atrao de fluidos benficos que "criam
energeticamente uma proteo de imantao sobre a pessoa". O
banho age como purificador na medida em que esta associado a
idia de limpeza do corpo mediante a eliminao das impurezas
provenientes dos elementos de baixa espiritualidade. Toda
proteo advinda deste rito resulta, portanto, desse processo de
eliminao profiltica e duradoura das influncia malignas.
2. As prticas rituais que visam atrair para o corpo do consu-
lente foras benficas. So as prticas que podemos chamar de
adorcistas segundo a mesma classificao do antroplogo Luc de
Heusch:
a) O desenvolvimento medinico Ritual em que o futuro
mdium se submete a um longo processo de aprendizado que o
torna apto a atrair e controlar, em seu corpo, a fora dos espritos. A
recepo das entidades de luz nela mesmo profiltica, mas o
individuo que descobre em si mesmo suas qualidades medinicas
no pode suspender o processo de desenvolvimento medinico, sob
pena de tornar a adoecer, e desta vez com maior gravidade.
Eu, desde criana, eu tinha problema de viso. Via coisas,
n? Pesadelo demais, a noite andava a casa todinha.
Sonmbulo, n? Ai i sto foi ficando cada vez mais forte,
dor de cabea violenta ... Ai me levaram num centro e eu j
cheguei l recebendo um caboclo que eu nem sabia o que era,
com 13 anos de idade. Um caboclo desceu, deu o nome dele,
coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ai, sarou.
Depois que eu entrei na faixa do desenvolvimento, nunca mais
(mdium funcionrio publico).
b) Os chs Recomendados pelas entidades em funo de um
receiturio mais ou menos complexo (em alguns terreiros receitam-se
"garrafadas" feitas a base de ervas e cachaa). De qualquer maneira,
independentemente do maior ou menor conhecimento dos mdiuns
com respeito as propriedades dos vegetais e de sua ao sobre o
corpo (que na maior parte dos casos, diga-se de passagem,
praticamente nula), os chs esto simbolicamente associados idia
de "ingesto", "absoro", pelo corpo, das foras vitais con-
154
tidas nas plantas, seja quimicamente, seja pela sua propriedade de
atrair fluidos benficos. No limite, o que tem importncia no use
dos chs exatamente o fato de que se esta ingerindo algo consi -
derado essencialmente bom, que devera dissolver-se na prpria cons-
tituio do organismo, passando a fazer parte dele. Tanto isto
verdadeiro que pudemos encontrar varias casas de culto em que
esse procedimento era reduzido a sua forma mais essencial: os
consul ent es com a mesma i nt eno de cur a, gua f l ui di f i -
cada, isto , gua benzida pelas entidades de luz e portadora de
sua energia benfica. O depoimento de Diva bastante ilustrativo a
esse respeito:
Quando o Pai quer, com um copo de agua, ele cura. Voc
faz a prece . . . com um copo de gua voc cura. Eu estava fican-
do aleijada . . . Mas agora eu parei. Tomando gua fluida muito
... gua fluida quando o mdium vem e fluidifica a gua. Eu
mesmo ponho o copo d'agua na janela. Pedi minhas enti dades .
. . pronto (freqentadora).
c) Prticas de irradiado Aquelas que visam transmitir do
mdium para o consulente energias positivas e profilticas concen-
tradas naquele pela sua proximidade ritual com as for-0s divinas.
Essas prticas so mais freqentes nos centros onde a orientao
esprita mais marcada, mas aparecem, reinterpretadas de maneiras
variadas, em diversas casas de umbanda. No Centro Esprita Umbanda
Buscando a Luz, por exemplo, esse ritual praticado de ma neira
bastante original: no final da sesso, quando as entidades j se
foram de volta ao astral, os consulentes mais necessitados sentam-
se num Longo banco colocado no centro da "gira" ( espao sagrado
onde os mdiuns "giram" para receber suas entidades), chamado
"Banco da Sade". Forma-se a seu redor uma corrente de
mdiuns e em torno destes um grande circulo de consulentes que
vieram pedir pelos parentes e amigos. Inicia-se Ento uma serie de
cantos em que os diferentes orixs so, invocados, para que levem
com eles a doena que habita o corpo daqueles indivduos. Canta-se
um ponto especial para Pai Antonio, aps o qual repete-se em voz
alta, trs vezes, o nome de cada doente. O consulente, sentado no
Banco, ao ouvir o chamado de seu nome deve responder: "Presen-
te!" Para aqueles que no puderam vir, um parente ou amigo da o
nome e o endereo de onde se encontram, e se esto no hospital, o
nmero do quarto. Os mdiuns presentes se concentram Ento nessas
155
pessoas e no poder de suas entidades, e a partir dai passam a irra -
diar sobre elas as foras poderosas que os habitam.
Em alguns terreiros muito prximos a tradio esprita pude-
mos observar o que os adeptos chamam de "operaceles invisveis",
que funcionam a partir da mesma lgica que as prticas de "irradia-
o". O paciente se deita em uma espcie de catre e coberto
inteiramente par um lenol branco. Um ou mais mdiuns estendem as
mos sobre este corpo estendido e, sem toca-lo, procuram comunicar-
lhe as energias benficas de que so portadores.
B) As prticas que visam neutralizar as entidades malficas ou pro-
piciar a proteo e a boa vontade das entidades benficas so cha-
madas "obrigaes". As obrigaes so oferendas dedicadas as diver-
sas entidades espirituais, visando propiciar sua boa vontade para
com os homens, reforar sua proteo neutralizando entidades
malficas ou agradecer ddivas concedidas anteriormente.
Segundo definio de Candido Felix: "Os presentes ou ddivas so
oferecimentos muito especiais que se fazem aos orixs, aos
chefes de falange e aos exus, com a finalidade de serem
obtidos, desses protetores, favores e a proteo, bem Como o
afastamento das mais diversas influncia malficas e a completa
anulao dos efeitos decorrentes dos despachos da corrente quimbanda."
15
Quando visam entidades de luz, caboclos, pretos-velhos ou
crianas, as "obrigaes" adquirem um sentido mais prximo a
noo de oferenda ou presente, que visa assegurar, para o deman-
dante, a proteo de sua divindade, ou agradecer -lhe suas boas
intervenes. Essas oferendas podem ser colocadas na "macaia"
(lugar sagrado, em geral no mato ou na praia, onde habitam as
diversas divindades), perto das cachoeiras e rios, ou ainda no mar,
quando se trata de caboclos, e do interior da casa de culto, quando se
destinam a pretos-velhos e crianas.
Quando visam exus e pombas-gira, as "obrigaes" so chamadas
"despachos". Os "despachos" devem ser colocados nas encru-
zilhadas dos caminhos ou cemitrios. Essas oferendas visam anular
os efeitos de feitios enviados sobre algum mandante. Para alguns
umbandistas, os "despachos" obrigam os exus a desmancharem suas
prprias mandingas, apaziguando sua "maldade" com aquelas ofe-
rendas. Segundo a verso de Silvio Pereira Maciel, as obrigaes
"servem para atrair os espritos quimbandeiros, que deixam seu
perseguido para atender ao banquete que lhe esta sendo ofertado, e
nesse momento as Falanges do Bem conseguem levant-los ( ...). As
vezes necessria uma quantidade de velas, bebidas e mais
156
coisas para ser desimpregnada do paciente a grande carga de
miasmas, sendo estas levadas para lugar designado pelos protetores
para serem distribudas aos mirongueiros, fazendo assim com que
perca a fora a magia do Mal. Nesses objetos fica impressa toda a
fora que alimentava e dava poder ao esprito de agir; uma vez
feitos esses trabalhos, o esprito se entrega. Ser levado para o
Posto Pandira ou para outro lugar que os protetores designarem,
ficando perfeitamente sa a sua vitima".16
Essas "obrigaes", oferendas e despachos, constitudas de
maneira geral de iguarias, bebidas e objetos apreciados pela enti -
dade a qual se destinam (cerveja ou vinho para os caboclos, pinga
para exus, charutos, cigarros, etc.), devem ser colocadas em locais,
data e hora previamente determinados pela entidade durante as
sesses de consulta.
* * *
A partir desta proposta de ordenamento do conjunto das prticas
mgico-teraputicas umbandistas, que nos permite perceber uma estrutura
subjacente a heterogeneidade dos rituais particulares a cada
terreiro, possvel compreender de que maneira mes e pais de-
santo, em funo de seus conhecimentos e de suas trajetrias
pessoais, combinam, somam e interpretam gestos, objetos e procedi-
mentos suscetveis de multiplicar a fora mgica e aumentar sua
eficcia. Vejamos, por exemplo, como alguns desses elementos apa-
recem combinados numa sesso de cura de doenas e obsesses,
descrita por um pai-de-santo:
As sesses para a cura de doenas e obsesses nunca devem ter
assistncia muito numerosa. Nessas ocasies, almdo doente e das
pessoas de seus familiares, somente devero estar presente o chefe do
terreiro e os mdiuns que tenham sido indicados para os
trabalhos. Os mdiuns que tomarem parte nos trabalhos no
devero comparecer sem primeiramente tomar banho de descarga e
se vestir com roupas rigorosamente limpas, muito especialmente as
roupas intimas, pois que o suor e a poeira podem prejudicar as
incorporaes e facilitar que sejam atrados espritos atrasados.
Sendo tomadas as precaues de que falamos, Ento os trabalhos
podero ser iniciados ( ...).
157
E puxado um ponto de orix protetor da falange que ira
baixar. Depois, o presidente faz o ponto de segurana com o qual
ser totalmente evitada a entrada dos exus na sala dos trabalhos.
Mesmo assim, a seguir lana-se um passe especial a exu, mas,
note-se bem, o exu curador, enquant o que os mdiuns cuidam
do presente que lhes devero fazer, o qual ser levado pelo
doente ao ponto i ndicado pelo chefe do terreiro. Agora outro
ponto ser riscado; * muito importante, pois que um ponto de
Ogum que ser cruzado com exu, sendo que na par te de tr s desse
ponto ser ri scado o si gno de Salomo, sobre o qual ser
colocado um copo de gua com sal grosso dissolvido dentro dele ( .
. .). Nessa altura ter que se fazer uma saudao a Ogum, quando
sero puxados os pontos ** de exu, sendo que, ao lado do ponto
cruzado, coloca-se uma pequena tigela cheia de aguardente. Nesse
momento o chefe do terreiro, em voz baixa, dirige uma prece a
Ogum e exu pedindo-lhes proteo para o paciente. Ento ser puxa-
do o ponto do guia; este faz a descrio completa de tudo que se
passou com o irmo perseguido, inclusive a doena e a obsesso
( ). Enquanto os outros mdiuns vo incorporando, um ponto muito
importante ento riscado pelo chefe do terreiro, feito para
desmanchar e anular completamente o trabalho de quimbanda,
isto , a doena ou obsesso. Nesta altura faz-se com a pomba
*** branca um ponto de oito linhas cruzadas no meio. Para terminar o
chefe derrama plvora sobre as linhas, sendo que, a seguir, os guias
iniciam os passes com as pessoas presentes, enquanto o chefe do
terreiro purifica a gua com que devera ser feita a limpeza da
aura dos enfermos, sendo a sua distribuio feita num copo para cada
pessoa. E chegado ento o momento de puxar um ponto de riscar fogo,
e o chefe do terreiro pe um pouco de sal nos copos. O chefe da
tenda pe fogo na plvora, os mdiuns fazem um circulo em volta do
ponto queimado, enquanto o chefe, depois de pedir permisso, lana a
gua dos copos sobre o ponto de plvora. Os guias derramam um
pouco de aguardente no Lugar dos pontos. Ento o chefe da tenda da
inicio aos passes no doente
* Ponto riscado: emblema grfico referente a cada entidade.
** Ponto cantado: cangdo referente a cada entidade.
*** Pemba: giz sagrado com o qual se desenham os pontos riscados.
158
to ). Quando os trabalhos chegam ao fi nal, so, puxados
os pontos de despedida, cabendo aos cambonos* limpar os
pontos riscados. Uma vez feita a limpeza, tudo que for apa -
nhado deve ser ponto num recipiente e lanado no mar ou
em algum rio. Para completar as sesses feitas no terreiro,
so indicados os banhos, que tem uma ao muito importante na
cura dos doentes. Esses banhos so indicados pelos guias e,
conforme o caso, variam nas suas combinaes de ervas.
Este relato nos parece interessante na medida em que se consti tui
numa combinao, entre outras possveis, dos vrios rituais
profilaticos j enunciados. Vejamos pois, a partir deste exemplo, de
que maneira aparecem e se combinam os diversos elementos do
repert6rio teraputico umbandista, e qual a lgica subjacente a
esse sistema.
Numa viso de conjunto, o ritual acima descrito aparece como
um ritual de expulso de foras malficas, composto essencialmente
de trs momentos:
a) o momento preparatrio em que o chefe do terreiro organiza as
disposies necessrias para que a casa e os pr6prios
mdiuns estejam preparados para que a irrupo das foras
do Mal na casa de culto se faam sob controle:
mdiuns fortalecem suas defesas tomando como medida de
precauo "banhos de descarga";
canta-se o ponto de Ogum, protetor da falange dos caboclos, que
ira controlar o bom andamento dos trabalhos; risca-se no
cho um ponto de segurana para evitar a entrada, no
esperada e indesejada, de exus pagos e desconhecidos;
chama-se um exu "batizado", o exu curador, que ajudar no
controle e expulso dessas foras nefastas. Promete-se a ele
um presente para garantir sua "fidelidade" ao empreendimento
a que se props colaborar.
b) momento da ao direta sobre as foras que dominam o
paciente e sua expulso:
risca-se o ponto de Ogum, sob o controle de quem se efetuara
toda a operao, e sobre ele colocam-se os ele-
* Cambonos: ajudantes dos trabalhos rituais. Diferem dos
mdiuns pois no entram em transe.
159
mentos que simbolicamente propiciam a expul so das
foras malficas:
gua: elemento purificador;
sal grosso: elemento que neutraliza a atuao dessas foras;
signo de Salomo: elemento mgico herdado das tradies
africanas (negros males) e considerado como signo
extremamente poderoso;
chama-se exu e se lhe oferecem presentes para que
"colabore" no processo da cura (tigela de aguardente);
o chefe do terreiro identifica as foras a serem controladas: preciso
saber quem (qual a linha de quimbanda que fez o
trabalho) e ande (em que lugar esse trabalho foi
colocado), para que as foras malficas possam ser
anuladas;
com a fora da pemba (giz sagrado que materializa o
smbolo sagrado que identifica cada entidade) chama-se a
razo a entidade obsessora, obrigando-a a abandonar sua
vitima. Finalmente, com o poder do fogo (ainda um elemento
purificador), a plvora expulsa definitivamente o mal do
corpo do paciente. A gua, o sal e os passes completam esse
processo de purificao.
c) momento da despedida das entidades que participaram nos
trabalhos. Limpeza do ambiente supresso dos objetos
rituais que foram "poludos" pelo seu contato com foras
nefastas e despejo desses objetos em guas correntes (mar
ou rio). Finalmente, limpeza do individuo em sua prpria
casa, atravs de banhos de ervas sagradas.
Embora a composio dos rituais possa variar de um terreiro
para outro, alguns elementos nucleares nos parecem fundamentais
aos rituais teraputicos umbandistas de uma maneira mais geral.
Em primeiro lugar, esta a idia de que preciso expulsar as foras
desorganizadoras que habitam o individuo. Para os umbandistas, as
foras sobrenaturais que se manifestam de maneira desordenada e
aleatria, sem obedecer as regras rituais, so perigosas e indesejadas e
portanto devem ser expulsas. E devem ser expulsas atravs dos
rituais que simbolicamente representam a sada desses seres
malficos (rituais de retirada), por um lado, e rituais purificadores,
por outro. Com relao a estes ltimos interessante observar
nesse contexto a aproximao simblica entre as noes de mal e
sujeira. Mary Douglas em seu trabalho sobre a noo de poluio nos
rituais
160
mostra que as categorias de mal e impureza se aproximam na medida
em que as duas evocam a idia de desordem. O Mal "sujo" na
medida em que subverte a ordem natural das coisas: "A idia de
sujeira", observa Mary Douglas, "supe um sistema, um conjunto de
relaes ordenadas e uma contraveno dessa ordem. Sujeira um
subproduto de uma ordenao e classificao sistemtica de
coisas, na medida em que a ordem implique em rejeitar elementos
inapropriados". Sujeira significa pois, simbolicamente, desordem.17
Os rituais purificadores, que utilizam fundamentalmente elementos
que "limpam o corpo" de suas impurezas como a gua e o fogo,
visam portanto restabelecer uma ordem comprometida pela intro-
misso das foras malficas. Entretanto, para expulsar os espritos
do Mal, preciso antes identific-los. Esta nos parece ser a seguida
idia fundamental que caracteriza o formato desses rituais. 8 preciso
saber quem so esses espritos obsessores, os motivos que os levam a
atuar dessa maneira se foram mandados por algum, preciso
fazer um despacho; se so eguns desejosos de vingana, preciso
expulsa-los e manda-los de volta; se so exus pagos, preciso
batiz-los; e assim por diante e, finalmente, descobrir onde foi
colocado o trabalho contra o consulente. Por outro lado, almdos
rituais "exorcistas", preciso garantir a cura atravs dos ritos
"adorcistas", a que nos referimos anteriormente. E aqui o processo
de identificao tambm fundamental. Para ficar definitivamente
curado, isto e, no voltar a sentir novamente aquelas sensaes mr-
bidas, o consulente deve aprender a conhecer e controlar a entidade
que procura comunicar-se com ele. O culto umbandista distingue,
pois, dois tipos de possesses pelos espritos: a "obsesso", que
uma possess
-
do "selvagem", descontrolada, associada a doena e a
loucura, e a "mediunidade", capacidade de receber entidades
benficas, capacidade esta que deve ser desenvolvida, desejada e constan-
temente alimentada.* A "obsess
o" deve ser expulsa, mas a mediu-
* A expulso de entidades espirituais no-desejadas, que se
manifestam geralmente em indivduos no-iniciados, a comum a varias
religies medinicas. Roger Bastide, ao estudar o transe mstico nos
candombls da Bahia, encontra a distino "santo bruto"/"santo feito" para
diferenciar aqueles que so possudos sem terem se submetido as provas da
iniciao religiosa, daqueles que recebem seus deuses depois de iniciados.
No primeiro caso, os deuses so "despachados" para tornarem a vir depois
da iniciao do "cavalo". A diferena, no entanto, entre umbanda e
candombl que neste ltimo as crises "selvagens" so bastante raras: em geral
os deuses fazem sinal de
161
nidade deve ser cultivada atravs dos rituais de iniciao. Nesses
rituais o mdium considerado definitivamente iniciado somente
quando suas entidades "do o nome", isto , se identificam: o pro-
cesso ritual lhes confere, progressivamente, uma natureza ( preciso
determinar qual o tipo de entidade que esta se manifestando
(preto-velho, exu, caboclo ou criana), uma maneira de ser e de agir
(valente, bondoso, forte, inocente, etc.), uma histeria prpria (antigo
escravo numa fazenda de caf, guerreiro da tribo Tupi, ladro ou
prostituta, etc.) e finalmente um nome (Pai Antonio, Caboclo Sete
Flechas, etc.). O desenvolvimento medinico consiste portanto em
domesticar as manifestaes selvagens, porque desorganizadas e
annimas, das foras sobrenaturais.
19
Esta caracterstica fundamental
para diferenciar os "exus batizados" dos "exus pagos". Estes
ltimos no tem nome, no foram domesticados e portanto devem
ser temidos. J os primeiros, por terem se submetido ao ritual da
atribuio do nome o batismo so entidades mais confiveis,
podendo trabalhar para o bem. A nomeao aparece portanto como
uma atividade simblica que ordena o universo das entidades sobre-
naturais: o Mal domesticado quando recebe um nome, isto e,
quando lhe dado um lugar e uma funo bem determinada. As
entidades sem nome so temidas porque desconhecidas: no se sabe
sua natureza, suas intenes, sua fora. A "loucura", nesse contexto,
nada mais do que a intromisso no corpo de um individuo de
espritos desconhecidos e annimos: os obsessores. Tudo se passa
como se ao nomear os espritos que o possuem o sujeito se visse
repentinamente liberado de sua relao privada com suas prprias
projees: o ritual codifica a experincia pessoal da desordem numa
linguagem produzida socialmente. "A possesso", observa Metraux, "e
uma confisso no falada, mas encenada, da personalidade recalcada
do Sujeito."
20
Por outro lado, a mediunidade uma qualidade
individual que diz respeito a estrutura da personalidade do sujeito: o
individuo se torna nervoso, inquieto e deprimido quando no a
desenvolve, e torna-se calmo, tranqilo, apaziguado, quando assim o
faz. Desenvolver a mediunidade aprender a reconhecer e aceitar
eleio a seus fieis de maneira bem menos violenta e
espetacular (pela adivinhao, pelo achado de objetos bizarros, etc.). E o que
mais importante, entra-se numa confraria religiosa por herana paterna ou
materna, tradio que desaparece completamente no caso umbandista. Nesta
religio, a manifestao "selvagem" das entidades a extremamente frequente
e esta, como veremos adiante, na base de toda converso de um novo adepto.18
162
aspect os e mui t as vezes cont r adi t r i os, da est r ut ur a psi co-
lgica de cada um. E isto porque, ao mesmo tempo que habitam o
campo astral, constituindo o mundo divino, os guias existem dentro
de nos, constituindo parte de nossa estrutura intima: todo individuo
tem e ao mesmo tempo seu caboclo, seu preto-velho, sua criana e
seu exu. Esse complexo de entidades exprime o leque dos "eus"
possveis. Veremos nos ltimos captulos como a descrio da vida e
das caractersticas das entidades pelos fieis corresponde a imagem que
eles fazem de si mesmos, de suas preferncias e necessidades. Exus,
pretos-velhos, caboclos e crianas desenham pois a estrutura
psquica do individuo e se tornam um elemento permanente da
definio da pessoa.
2
' Ora, a recusa de proceder ao desenvolvimento
medinico significa, deste modo, negar-se a viver sentimentos e
desejos integrantes do eu, mas que se chocam de uma maneira ou
de outra com valores normalmente aceitos para si e para os outros. A
partir dai possvel entender a enorme resistncia que pratica-
mente todos os entrevistados opem em aceitar sua prpria mediu-
nidade, embora esta seja uma qualidade que, a nvel do discurso e
da ftica religiosa, imensamente valorizada.* Em muitas entre -
vistas essa distancia entre "o que deveria ser feito" e aquilo que a
pessoa f az quando "se recusa a desenvolver" bastante evidente:
Teve um dia que eu cheguei na igreja num estado de nervo,
menina. O pastor, tem um pastor muito bacana com a gente, n, a
gente acha bom quando chega na igreja. Um dia o pastor veio e disse:
"Ah, irm, eu tenho que fazer uma orao noce." Quando esse
pastor veio pro meu lado, eu tive uma vontade de arrebentar ele
todo assim na minha frente. De quebrar ele mesmo, de avanar
nele, de quebrar ele todo. De tanto dio que eu tava ali dentro,
dentro da igreja. Ai, eu no posso fazer uma coisa dessa! Fiquei
segurando. No posso fazer isso (me-de-santo).
* O etnlogo e psicanalista hungaro G. Devereux observa
fenmeno semelhante entre os ndi os Mohave e os Sedang-Mui do Vi etnam.
Entre esses povos, a ecloso dos poderes xamanisticos a acompanhada de
experincias psquicas extremamente dolorosas. "Alguns indivduos",
observa ele, "que recebem uma Intimao' sobrenatural, se recusam
obstinadamente a conformar-se tal como um dos habitantes das plancies
que preferiu suicidar-se a ter que obedecer a uma dessas vises (.. . ). Os
Mohave acreditam que todo xam em potencial que se recusa o apelo sobrenatural
fica louco." 22
163
As vezes me acontece umas coisas horrorosas. Eu quebrei
hoje... eu no devia de quebrar, uma mquina que custa caro
toda vida. Quebrei, quebrei dois boto, 16, sem motivo...
(freqentadora).
No primeiro caso, boa, crente e amante da orao, tem vontade
de agredir um padre que ela considera "bacana"; tem impulsos
homicidas que flat) sabe de onde vem, pois " no esto nela", e a
segunda quebra sem razo uma maquina que lhe custara adquirir.
Esses sentimentos e condutas, vividos de maneira dolorosa pelo
individuo, podem ser reorganizados e compreendidos a partir
da experincia codi fica dora do transe medi nico: os eguns e
obsessores cedem lugar as entidades de luz (caboclos, pretos-velhos e
crianas) e aos exus batizados, isto , nomeados, controlados e
conhecidos. Essas figuras mticas atualizadas e revividas pelos fieis
com uma margem de interpretao pessoal bastante grande permitem a
expresso, socialmente aceita, dessas pulses normalmente experi-
mentadas como conflituosas. Por outro lado, o universo simblico
religioso, ao construir a multivariedade das hist rias dos deuses,
constitui-se numa linguagem adequada para expressar, classificar e
nomear toda uma gama de experincias psicolgicas e afetivas
difceis diante das quais os grupos populares normalmente s
dispem da categoria medica de "doena" para compreende-las,
organiza-las e suprimi-las. Vimos nos captulos anteriores como nessa
representao social da doena esta implicitamente contida a noo
de sua materialidade. Ora, fcil perceber como o conceito de doena
assim construdo estreito, limitado e muitas vezes opressivo (posto
que significa para muitos a recluso em hospitais psiquitricos)
para dar conta da experincia dolorosa vivida pelo sujeito. A
histria da vida de uma freqentadora entrevistada bastante
ilustrativa a esse respeito: ela foi levada a primeira vez a um centro
de umbanda por ter ficado paraltica das duas pernas. Segundo ela,
apesar de ter sofrido sempre de " doena dos ner vos", ela
"
no
atacava" to forte quando era mais jovem: ela s "ficava nervosa".
A partir dos 12 anos de idade foi piorando: apareceram disturbios de
viso, desmaios, at que afinal ficou paraltica. Falando a respeito de
seu pai, sujeito dado a excessos etlicos freqentes, ela nos diz:
No tenho pai, nunca tive; ele no tem sentimento. Eu
fico pensando como magoar ele, j fiquei uma semana pensan-
164
do no meu quarto e as coisas no o atingem. No tem nada
por dentro, no tem corao.
Ela nos conta que muitas vezes j pensou em v-l o morto,
mas que tem medo que isso acontea pois seus irmos "precisam
dele". Quanto a sua me, ela se queixa de que no lhe da ateno
nem carinho. Conta:
Uma vez comecei a chorar e sentei no colo de minha me
pedindo pra brincar de casinha com ela, como fazia antes de
meu irmo nascer. Eta chorou comigo mas tudo ficou por isso
mesmo. Prefiro chorar no meu quarto que mais amigo.
Nesse contexto ela acha que ficar doente " ruim mas bom.
Porque recebo muita ateno, minha me fica carinhosa e meus
amigos enchem a casa".
Dentro desse quadro de desajuste afetivo bem caracterizado o
tratamento mdico (psiquitrico ou no), tal como ele represen-
tado e experimentado pela entrevistada, se mostra extremamente
inadequado e insuficiente:
No adianta nada tomar remdios e ir nesses mdicos que
s do remdios.
Desde seus 12 anos ela toma trs tipos de calmante, "que no
adiantaram nada", e quando ficou paraltica o mdico "s fez
massagem e disse que nervo".
Pode-se perceber a partir deste exemplo que o conceito
psiquitrico de "doena" incapaz de expressar adequadamente a
situaceto-problema experimentada pela entrevistada.
J a noo de "mediunidade no-desenvolvida" bastante rica e
complexa para que nossa informante possa organizar e compre-
ender os problemas que a fazem sofrer: sua recusa em adestrar e
domesticar suas potencialidades de comunicao com as entidades
espirituais a tornam fraca e vulnervel a ao malfica dos "maus
fluidos":
Em casa eu sou a mais fraca porque sou media e no
quero desenvolver. Ento todos os maus fluidos me pegam.
Eu sou a salvao l de casa, porque tudo vem pra cima de
mim. Se no fosse assim a casa no ficava de p.
165
Neste depoimento Sonia expressa com rara lucidez sua
problemtica afetiva e a traduz com habilidade no cdigo
religioso. Vemos aqui, de maneira exemplar, como a teoria da
mediunidade
e da ao patognica dos fluidos sobre a pessoa "no-desenvolvida"
da conta de uma situao familiar onde, numa constelao de rela-
es interpessoais violentas e difceis, a entrevistada joga o papel
crucial de "agente catalisador de conflitos". Ela compreende bem a
funo que lhe atribuda nesse jogo: "Eu sou a salvao Id de
casa. Todos os maus fluidos vem para mim e a casa fica de p."
Um certo nvel de harmonia familiar pelo menos aparente possvel
porque a entrevistada concentra na sua pessoa, e em prejuzo pr
pio, todos os conflitos familiares latentes. Mas essa sua fraqueza
tambm sua fora, pois somente ela tem capacidades medinicas,
somente ela tem a possibilidade de ser possuda pelos deuses e
retirar desse comercio conseqncias benficas.
Quando Mariazinha * me toma, uma paz, uma
tranqi l i dade. si nt o mai s o meu cor po, f i co f or a de
mi m. Eu no sou mais eu. E bom porque eu no gosto de ser
quem eu sou. Saio do mundo, esqueo dos problemas.
No nos cabe aqui uma polemica j antiga sobre a eficcia
teraputica desses rituais religiosos,** ou sobre a natureza mrbida
dos fenmenos medinicos, tema amplamente abordado por antro-
p6logos e psiquiatras. A idia de que os rituais de possesso nada
mais so do que exploses descontroladas de crises histricas j foi
devidamente discutida por autores como Herskovits, Alfred Metraux,
Esprito de criana.
** Aut ores como G. Devereux, que est udou o f enmeno do xamani smo
ent re os ndi os Mohave, af i rmam que o xam, embora possa dar a seu
paciente uma -experincia afetiva corretiva", que o ajuda a reorganizar seu
sistema de defesas, no capaz de produzir uma cura psiquitrica no sentido
estri to, post o que no possi bi l i ta uma real tomada de consci nci a de si
mesmo ( insight) sem a qual no se pode f al ar em uma verdadei ra cura.
Por out ro l ado, est e mesmo aut or consi dera o prpi o xam como um
individuo gravemente neurtico, ou mesmo como um psictico em estado de
remisso temporria.
23
J o Dr. Nadel, por exemplo, psiclogo e etngrafo
ingls, observa, a partir de sua pesqui sa sobre os cultos de posses so no
Sudo, que o transe religioso evita a variedade e a multiplicidade dos aspec tos
de que se revestem as neuroses em nossa sociedade, porque ele explora
e canaliza essas neuroses de maneira tal que permanecem estveis e confi-
nadas a apenas uma esfera da vida pessoal.24
166
Roger Bastide e outros.
25
No nos cabe aqui retomar esse debate.
Apenas gostaramos de demonstrar com o relato da entrevistada
que os smbolos religiosos oferecem uma linguagem para que o
sujeito possa exprimir, ordenar e viver suas experincia s afetivas
conflituosas: "Eu sou fraca porque no desenvolvo minha mediu-
nidade, mas sou forte porque concentro em mim todos os confli -
tos; porque sou a mais fraca, recebo sobre mim os maus fluidos,
mas porque os recebo sou capaz de me tornar forte recebendo as
entidades espirituais." Tudo se passa como se os smbolos religiosos
oferecessem ao individuo uma serie de mecanismos de defesa social -
mente sancionados e psicologicamente apropriados que lhe permitem
compreender seus conflitos idiossincrticos. Assim, o
desenvolvimento das potencialidades medinica consiste na possibilidade
de transformar os conflitos e defesas individuais em conflitos
culturalmente convencionais.
26
A experincia religiosa, isto , a
experincia de receber entidades espirituais conhecidas e
codificadas segundo as regras do jogo ritual, permite ao individuo viver
ao mesmo tempo sentimentos opostos e contraditrios: o dio (a
agressividade) e o amor, a vida adulta e o desejo de ser criana,
podem ser simultaneamente vividos atravs da encarnao dos
personagens mticos disponveis. Valentes guerreiros, violentos e
permissivos exus, bondosos pretos-velhos e inocentes crianas ser
eu e outro ao mesmo tempo, ser homem fraco e esprito poderoso
eis a a experincia vital que se produz nessa conjuno intima
de dois mundos to antagnicos em que se constitui o fenmeno do
transe medinico.
Duas constataes essenciais nos parece importante ressaltar, a
partir do que j foi dito, para a compreenso do sistema doena-cura
na religio umbandista:
1. A "doena" e, como vimos, um fator primordial no pro-
cesso de "converso" religiosa; estreitamente relacionado com este
fato temos que a "mediunidade n0-desenvolvida" constitui o
"diagnstico" mais freqente para os males que chegam aos terrei-
ros. No conjunto das 40 entrevistas que fizemos, a explicao dos
distrbios pela "mediunidade no-desenvolvida" aparece em 26 en-
trevistas, enquanto que razes como "demanda" aparecem apenas
sete vezes, "karma", duas vezes, e o resto se dispersa em razes
diversas.*
* E preciso observar que o fato de a maioria de nossos
entrevistados pertencer a categoria dos mdiuns (27 mdiuns contra 13 no-
mdiuns)
167
A manifestao de entidades espirituais no-controlada pelo
ritual religioso ou a recusa do fiel em instrumentalizar seu corpo
para a recepo dos espritos constituem-se portanto em causa de
sensaes desagradveis e estranhas. Desenvolver a mediunidade,
isto , domin
-la, enquadra-la dentro do espaco e do tempo ritual
uma obrigao cujo no-cumprimento traz as mais nefastas conse-
quncias para o individuo.
Depois foi voltando as coisas de novo. Ai eu j fui num lugar e
eles me falou que eu precisava trabalhar, que eu era mdi um.
Falei que no, que no queria mexer com i sso, que no
acreditava que existia. E sempre piorava mais. Eu sentia aquela
radiao ruim, sabe, no meu corpo. Falava: "Eu vou morrer agora."
E eu segurando aquelas ruindades. Ai foi assim sete anos. Ento,
nos temo um parente, l de Bom Despacho, que trabalha tambm,
sabe. E chegava l em casa ele falava assim comigo: "Nes vamos
fazer um trabalho pra voc." Eu falava: "Pelo amor de Deus, no
mexe com esprito no que isso bobagem. No existe essas
coisas, em vez de vocs me melhora, eu vou ficar mais doida.
No mexe com isso aqui em casa no, eu no gosto dessas
coisas." Ai ele teimava, e chamada uns pretos-velhos. Ento tinha
um pretovelho muito bacana, vinha me benze. Menina, eu ficava
ruim! Mas rui m mesmo, mas no sabia que era os guias no, os
guias querendo aproxi mar. Eu achava que i s er a morrer. Eu
segurando, segurava pra no receber os guias. Ai eles (os guias)
falava comigo: "No, enquanto voc no desenvolver, nada feito
proce." At que um dia eu cheguei em casa com uma dor de
cabea, eu tava at cega. Tava nem enxergando. Ai cheguei, sentei
na minha cama, peguei a Bblia, abri ela pra faze minha orao
pra dormir, n. Eu gosto demais de orao. Quando eu peguei
essa Bblia, que eu abri ela assim, eu tava sentada, no vi nada ...
Quando eu vi a casa estava cheia de gente. O guia desceu, falou a meu
filho que falasse
favorece essa interpretao. No entanto, se considerarmos
somente a pri meira etapa das entrevistas, em que conversamos com 1
mdi uns e 14 freqentadores, veremos que o "diagnstico" de medi unidade
aparece no segundo grupo tambm com bastante freqncia (dez e sete
respostas do gnero, respectivamente, para cada grupo).
168
comigo que eu no teimasse, que minha misso no era aquela
que eu tava nela, que minha mis so era outra, que no
tei masse, que obedecesse a Deus. Tinha essa misso a
cumprir na Terra, porque eu tava segurando, n. Enquanto
eu no recebesse os meus guias, eu no sarava no, Ai ele me
descarregou, fiquei boa, acabou aquela dor de cabea, porque o guia
desceu limpou, n? (me-de-santo dona-de-casa).
A proximidade do mundo sobrenatural, quando se da dentro
das regras do jogo ritual, "adoece" o individuo. O contato sagrado
profano s6 pode acontecer, para trazer resultados benficos, dentro de
um espaco-tempo estritamente codificado. As sensaes descritas
por esses entrevistados so percebidas como patognicas en-
quanto eles prprios teimosamente se recusam a enquadra-las no
sistema explicativo religioso. Na medida em que essa aceita o
acontece, os sinais ou desaparecem ou deixam de ser percebidos
como mrbidos.
Essa constatao nos permite hierarquizar as prticas teraputicas
rituais acima descritas em funo de sua importncia: o desenvolvimento
da mediunidade assume nesse contexto maior importncia enquanto
medida "profiltica": os espritos malficos devero ser expulsos porque,
ao escaparem ao controle dos ritos, constituem-se em ameaa
constante. Mas, na medida em que esse controle acontece, as foras
malficas se tornam instrumento de aes benficas (exus
batizados). O desenvolvimento medinico portanto um processo
ritual a que o individuo se submete no intuito de conhecer,
desenvolver e dominar as foras espirituais que o habitam: aos
poucos, aqueles espasmos assis temticos, descoordenados e incon-
trolados vo assumindo as caractersticas prprias das diferentes
entidades espirituais: os gestos orgulhosos dos valor osos caboclos, as
contraes cansadas dos pretos-velhos, o riso de escrnio dos exus
e a deformidade de suas mos que os mdiuns reproduzem durante o
transe mstico. Tornar-se mdium, e portanto submeter-se ao processo de
desenvolvimento medinico, constitui-se pois, dentro da umbanda, a
forma privilegiada de cura. A "doena" assume nesse contexto o
significado de uma "elei o divina" e torna-se uma passagem
quase que obrigatria para aqueles que sero os futuros "cavalos-de-
santo", isto , receptculos das manifestaes sobrenaturais. Assim,
a doena que um primeiro momento concebida como desordem
torna-se, num segundo momento, relao social positiva, ao
constituir-se na possibilidade de abertura de um canal
169
de comunicao com os deuses, permanente e duradouro. Nesta
criptografia divina sobre o corpo individual alguns sinais aparecem
de maneira preferencial: tremores, dores estranhas e persistentes e
sobretudo a loucura so reconhecidos como sinais tpicos de mediu-
nidade. I interessante observar que o individuo no interpreta
nunca, por si s, os sinais que constituem sua "doena". Em todos
os casos que entrevistamos, a interpretao mgica ou religiosa do
acontecimento mrbido passa sempre pela mediao de um outro
(vizinho, amigo, parente ou mesmo mdium conhecido) que, ven-
cendo a i ncredulidade i nicial do "doente", leva ou l he indica
um centro onde esses indcios podem ser confirmados e/ou inter -
pretados com melhor preciso. Este fato mostra a importncia do
"consenso coletivo" * nesse dialogo entre consulente e mdium:
esta relao, com efeito, no dual; entre o mdium e o "doente"
esta o publico que "decide" da natureza da doena e aconselha a
procura de um centro, e que ao mesmo tempo se constitui no
"sustentculo" das interpretaes religiosas .27
Se a doena tem pois um papel pri mordial na conver so
religiosa, temos que todo adepto tende a passar por uma experincia
mrbida antes de tornar-se mdium. Assim, aqueles que detm o
direito de produzir atos teraputicos os filhos e/ou mes-de-santo
possudos por suas entidades tem o seu poder fundado no fato de
que viveram experincias semelhantes aquelas que se propem controlar.
Assi m, o poder que aqueles tem sobre a doena do outro se
funda no domnio de sua prpria doena, o transe consti tuindo-se
portanto numa espcie de estado controlado de "doena" na medida
em que o mdium, porque desenvolvido, sabe quando e como
entrar e sair dele.
28
Analisando a relao mgico-teraputica sob esse
prisma, pode-se perceber que o lugar daquele que cura esta em
continuidade com o lugar daquele que esta doente: o estatuto de
um anlogo ao do outro na medida em que o "terapeuta" passou
pela doena e o "doente" i nstado a tornar-se por sua vez agente
teraputico. Por outro lado temos que o mdium ocupa nessa
relao o lugar, ao mesmo tempo, da doena e da sade. Ele e,
como vimos, um "ex-doente", e mais ainda, na relao teraputica ele
volta a viver a experincia , agora de forma controlada, de ser
possudo pelos espritos. A ambivalncia de seu papel
* Expresso utilizada por Roger Bastide para significar as
representaes simblicas produzidas pelos diferentes grupos sociais.
170
lhe permite servir como mediador entre o estado de doena e o de
cura; lhe permite demonstrar ao consulente que suas experincias
particulares so na verdade "coisas de grupo", fazendo com que
as manifestaes indesejveis de sua individualidade se transfor -
mem em manifestaes institucionalizadas da pessoa socia1.
29
A
singularidade dessa relao teraputica se torna bastante evidente
quando comparada as relaes mdico-paciente institudas pela
Medicina oficial. Neste caso o mdico (e/ou psiquiatra) tem um
estatuto outro que no nem o de antigo doente nem o de homem
so ele no ocupa um lugar nessa polaridade sade-doena,
havendo portanto um corte qualitativo entre sua funo e as
experincias do sujeito. Este ltimo, por sua vez, no se torna
mdico por ter estado doente, posto que essa passagem no se
da, no caso da Medicina, a nvel da experincia pessoal, mas sim a
nvel de uma especializao formal e racional. A posi o
estrutural do "mdium" nessa relao teraputica poderia talvez ser
comparada a do psicanalista que antes de tornar-se terapeuta deve
submeter-se ao mesmo processo de que so objeto seus pacientes.
Levi-Strauss, em seu belssimo artigo sobre a eficcia simblica,
chama a ateno para essa analogia ao comparar a cura psicanaltica
ao ritual xamanistico.* "A cura xamanistica", observa ele, "esta a
meio caminho entre nossa Medicina orgnica e a psicanlise."
31
A
analogia entre essas duas formas de cura , segundo Levi-Strauss,
quase completa, mas uma analogia invertida: nos dois casos a
cura consiste em induzir uma transformao orgnica levando o
paciente a viver um mito paralelo ao efeito que se quer introduzir no
corpo. No caso da psicanlise, o prprio paciente que produz seu
mito individual, enquanto que no caso do chama o mito j esta
dado socialmente, cabendo ao paciente percebe-lo e adequ-lo
para si. No caso da umbanda, o "doente" e o terapeuta vivem
simultaneamente a mesma experincia de maneira invertida: os dois
esto, naquele momento, habitados por foras que lhes so exteriores e
que lhes provocam perturbaes orgnicas. No entanto, enquanto o
cliente "sofre" uma agresso desordenada que deve ser banida, o
"curador" recebe foras controladas que lhe deram sade e lhe do,
agora, o poder
* Xam: espcie de curandeiro que nos cultos "cuna" sai,
atravs da encantao, em busca de seu dupl o espiri tual, fundamento de
sua f ora vi tal. Esses cantos representam, segundo Levi-Strauss, uma
manipulao psicolgica dos rgos doentes, e dela se espera a cura.30
171
da cura. Assim o rito teraputico umbandista assume, no momento
em que se realiza, um duplo sentido: no eixo vertical (relao entre
homens e deuses), a sade consiste na garantia efetiva da comuni -
cao entre o sagrado e o profano. Os deuses, desejosos de se
comunicarem com os homens, falam e se manifestam atravs de seu
corpo "doente". O individuo, em troca da "cura", oferece este corpo
como instrumento permanente de mediao entre o humano e o
divino;
32
no eixo horizontal (relaes das divindades entre si, reflexo
das relaes que os homens mantm entre si), essa relao
teraputica significa uma luta sem tr6guas entre o Bem e o Mal. As
entidades de "luz" procuram converter os obsessores submetendo-os
sua prpria lei, ou simplesmente expuls-los do corpo perseguido,
reconstituindo assim a ordem ameaada pelo intruso. Essa nova
ordem repercute por sua vez na ordem social, restabelecendo a
harmonia das relaes interpessoais e permitindo novamente ao
corpo seu use instrumental.
2. O individuo e a unidade fundamental visada pelo ritual.
E sobre a superfcie visvel de seu corpo que a desordem se expressa e
objetiva: nele a desordem se inscreve e deixa sua marca indelvel.
Portanto somente pela interpretao desses sinais emitidos pelo
corpo doente possvel controlar a desordem. Veremos no capitulo
seguinte de que maneira a noo religiosa de doena articula a
histria individual do sujeito e as vicissitudes de suas relaes inter-
pessoais a causalidade sobrenatural a que esta submetido. Nessa
articulao o individuo - doente joga um trplice papel: pelo seu corpo
"fala" de seus problemas pessoais; ao mesmo tempo personifica por
um lado problemas que emergem a nvel do social e torna objetiva,
por outro, a existncia de foras malficas, plo propulsor de toda
atuao mgico-religiosa. Por ora gostaramos apenas de ressaltar
que as prticas mgicas visam esse corpo de maneira privilegiada,
seja atuando diretamente sobre ele atravs de passes, banhos e
benzees, seja atuando de maneira indireta, atravs de despachos e
obrigaes, que visam, uns, obrigar as entidades malignas a aban-
donarem o corpo "doente", e outros, atrair as benignas para um
corpo fragilizado e constantemente ameaado.
No entanto, embora o individuo seja o ponto central sobre o
qual incidem as prticas rituais, estas no o visam enquanto sujeito:
os rituais visam interpretar e manipular os sinais inscritos sobre
seu corpo, e no reeducar seu comportamento. O Mal e a Desordem
so, como vimos, fenmenos exteriores ao individuo e o agridem,
tornando-o vitima. O controle do Mal requer portanto uma "me-
172
canica mgico-ritual" efetiva capaz de expulsar essas entidades. O
aconselhamento moral feito sobre os prprios espritos malficos:
as entidades de luz pedem que se regenerem, que abandonem suas
vitimas para que possam assim evoluir espiritualmente. A causa do
Mal situa-se, portanto, nessa perspectiva, na "inteno agressiva do
outro", seja ele um individuo ou um esprito. E essa inteno que
deve ser, pois, conjurada e controlada; a "reforma" da conduta
individual assume nesse contexto um papel secundrio tornando-se
conseqncia e no objeto da ao ritual. Mas, se no sobre o
sujeito enquanto pessoa que a prtica ritual incide, o sujeito en-
quanto "corpo individual" seu alvo primordial. Com efeito, o
corpo preenche um papel estratgico para a possibilidade de atua -
o sobre a ordem do mundo: ele o suporte sobre o qual as
contradies e conflitos podem ser escritos e vertidos numa
linguagem espiritual. Nesse processo podemos perceber dois movimentos
complementares: por um lado, a desordem enquanto categoria geral e
abstrata se concretiza e personifica num corpo; por outro lado, a
desordem assim individualizada projetada para fora (e "algum
que me quer mar) e se generaliza novamente (os homens esto
constantemente ameaados pelas agresses do mundo e dos
espritos). O corpo individual configura-se portanto como o ponto
de interseo onde se cruzam acontecimentos do mundo e as
explicaes religiosas. Ele se torna o suporte objetivo do encontro
entre a generalidade catica que o mundo e a totalidade sistmica
em que o transforma o discurso religioso.
Vejamos agora, de maneira mais detalhada, como se da essa
sutil articulao entre os diferentes nveis.
173
3.
DA FRAQUEZA DO CORPO
A FORA DOS ESPRITOS
AS ANALISES FEITAS nas pginas anteriores levam-nos a
delimitar duas noes-chave que organizam as representaes do
grupo estudado com relao a sua percepo dos fen6menos
mrbidos: a noo de mediunidade e a idia de fraqueza. Vimos
nos captulos anteriores como a percepo do estado m6rbido
aparece associada a sensao de fraqueza fsica, associao esta
correlativa de um modus vivendi que exige do corpo um use
fundamentalmente instrumental. A "doena", enquanto supresso
da fora fsica "Fraqueza nas pernas", "Moleza", "Eu era
forte", so algumas das expresses utilizadas para expressar esse
estado torna o corpo intil para a ao. Ora, essa suspenso das
tarefas cotidianas a que a "doena" obriga ao mesmo tempo causa
e expresso de uma desordem mais ampla: a desorganizao do
grupo familiar como um todo, tanto do ponto de vista de sua
sobrevivncia econmica quanto de sua estruturao a nvel das
relaes afetivas que o definem. Assim, se as sensaes so
percebidas como mrbidas na medida em que suspendem a
cadencia do ritmo cotidiano, engendrando uma situao-problema,
esse momento da "doena" ao mesmo tempo a expresso
cristalizada no corpo de uma desorganizao que lhe anterior.
A pessoa faz mal pra gente, a gente sente, porque a gente
comea a ficar nervoso, desentende dentro de casa. Bom, isso
dai uma parte do que a gente sente. A gente sente tambm
que o corpo da gente no ta normal, a gente tambm no normal na
mente da gente direito (atabaqueiro pedreiro).
174
Nesse depoimento dois nveis de fenmenos aparecem associados:
o universo da pessoa (o corpo e a mente) e o universo das
relaes interpessoais (as relaes familiares). A desorganizao
em um nvel se espelha e repercute na desorganizao do outro,
que por sua vez agrava a situao do primeiro, e assim por diante.
Vejamos por exemplo este outro depoimento, de uma freqentadora que
sofria de desmaios freqentes:
Eu tomava isso, tomava banho de descarrego, meu pai
cada vez pior comigo. Porque ele achava que aquilo era doi -
dura, ele achava que era manha. Minha me brigava comigo.
Meu pai teve um caminho e perdeu. Gastou milhes com
aquilo, nessa poca nos chegamos at a passar fome. Tudo por
causa de mim ( ...). Nos comeamos a perder tudo. Dinhei -
ro... porque tudo que entrava dentro de casa era para cuidar
de mim. Meu pai chegou a gastar uma grana mesmo com aquilo
(freqentadora dom6stica).
No relato desta freqentadora, a "doena" aparece como causa-
dora da desorganizao familiar: os pais ficam nervosos, o dinheiro
acaba, instala-se um clima de tenso e penuria. Mas ao mesmo tempo a
"doena" a expresso inscrita na estrutura do corpo de
problemas que ela j sentia anteriormente ("Eu era a ovelha negra da
famlia'', "Eu detestava meu pai").
Numa tentativa de reproduzir, de maneira mais visual, a lgica
que orienta as relaes entre os diferentes elementos que aparecem
nos relatos de "doena", obtivemos o seguinte diagrama:
mal-estar tonteiras
medo quedas
desmaios
vises
dores insnias
inapetncia
imobilidade fsica
F R A Q U E Z A
desorganizao da
vida social:
relaes interpessoais
trabalho
175
O estado mrbido solapa a fora fsica, qualidade fundamental
de que depende a continuidade das tarefas cotidianas. Essa suspen-
so do ritmo de atividades esfacela os pilares sobre os quais se
organiza a vida familiar (o econmico e o afetivo), mas se constitui, ao
mesmo tempo, no momento critico em que uma desorganizao em
estado latente se atualiza com toda sua crueza e pungncia. A
noo de fraqueza deixa portanto de caracterizar apenas o estado de
um corpo e passa a definir uma situao social de anomia.* O
individuo deixa de estar fraco para perceber-se como um ser
* Embora os dados de nossa pesquisa no nos permi tam
caminhar mui to nessa direo, parece-nos interessante essa extenso da
noo de fraqueza para caracterizar e qualificar a posi o social subalterna
que estes grupos ocupam no sistema das relaes sociai s. O trabalho da
antropl oga Ruth Cardoso sobre as reapresentaes de certos grupos de
favelados paulistas, com relao a organizao social e poltica de nossa
sociedade, pareceu-nos muito sugestivo. Segundo a autora, ao perceberem a
sociedade como estando dividida entre ricos e pobres, esses grupos lanam
mo da oposio forte/ fraco para qualificar riqueza, poder, autonomia e
prestigio, por um lado, e a supresso de todas essas qualidades, por outro. A
pobreza a portanto apenas uma das dimenses da fraqueza e no pode por si s
caracterizar a situao de inferioridade social. Mas o que nos parece mais
interessante, e que tem a ver mais estreitamente com a questo que aqui nos
preocupa, a que, Segundo Ruth Cardoso, o mundo dos fracos (assim como o
dos f ortes) tem gradaes: nem todos so pobres da mesma maneira. E aqui a
noo de trabalho, a condio de trabal hador, que vai aparecer como
fundamental para estabel ecer di f erenas: " A condi o de trabal hador, em
que se i ncl uem os entrevistados, estabelece um corte que os distingue dos
vagabundos ou doentes, que so vistos como mais miserveis. Estes a que so
vistos como marginais e como excludos da sociedade" (grifo meu). A
capacidade de trabalho aparece assim como um atri buto f undamental das
di ferenas na posi o social. "A verdadeira misria e a do no-trabalhador
que no tem f uturo possvel ."
33
As observaes da autora, embora surgidas
a partir de preocupaes distintas das nossas, enriquecem, a meu ver, a
compreenso da associao acima indicada, entre fraqueza fsica e fraqueza
social. A noo de trabalho aparece como fundamental para definir uma
posio de maior ou menor fraqueza social. Ora, o doente, aquele que no
tem fora para o trabalho (aquele que fsica ou mentalmente fraco o que
da no mesmo), o mai s f raco dos f racos. E pel o t rabal ho que a pobreza
se di st i ngue da misria: ser capaz de agir no mundo, pelo trabalho, e o que
restitui ao individuo sua verdadeira condio humana diferenciando-o dos
"h-toa", que vi vem sem casa nem f am l i a e que l he da a esperana da
superao de sua prpri a situao. No caso do i ndivi duo doente, sua
fraqueza fsica se refl ete e contribui para a manuteno e/ou exacerbao
de sua fraqueza social.
176
fraco: "( ...) que a gente que fraco", "Tem pessoa fraca", "Ela
no tem fora".
Mas a oposio fraqueza/fora esta ainda impregnada de uma
terceira dimenso, que tem a ver com o piano moral e espiritual
dos indivduos, com o mundo sobrenatural e portanto com a me-
diunidade. O individuo fraco aquele que no tem a proteo dos
espritos, aquele que "se conduz mal" e que se recusa a desenvolver
sua "mediunidade", no sentido do estreitamento das relaes entre
homens e deuses. Na hierarquia de valores que a cosmoviso umban-
dista define, os seres so, mais ou menos perfeitos em funo de
sua maior ou menor proximidade com o mundo dos deuses. A per-
feio absoluta esta nos seres divinos, que no mais voltam a
encarnar-se no mundo dos homens: seres como Oxal, Oxossi, Ians
o Iemanj tornaram-se foras celestiais das quais todos os outros
seres, sobrenaturais e humanos, participam com maior ou menor
intensidade. Assim a qualidade do ser depende dessa proximidade.
Os seres so, mais ou menos ser, em funo de sua participao
com este principio da perfeio. O desenvolvimento medinico
tem portanto o sentido de promover, cada vez mais profundamente,
essa participao dos "seres-homens" a natureza e fora dos "seres
divinos". Quanto mais intima for essa relao, mais o homem
estar protegido, maior ser sua prosperidade, melhor sua sorte e
sua sade, mais tranqilo seu amor. Assim, se o homem fraco
quando no tem, quando esta desprovido de posses, bens, status ou
privilgios, ele forte quando ele , quer dizer, quando sua
participao intima com os deuses aumenta a qualidade de seu ser. O
mal significa nesse contexto uma perda de ser: o mal enfraquece o corpo e
o faz vulnervel, desencaminha a fortuna, torna a existncia mais
difcil.* Vejamos por exemplo o depoimento de um
preciso no confundir as foras consideradas malficas
pela umbanda eguns (almas desencarnadas a procura de um corpo),
obsessores, maus fluidos com a entidade espiritual Exu e seu correlativo
feminino Pomba gira. Estes guias, embora sejam considerados "espritos das
trevas", trabalham para o Bem quando conhecidos e controlados pelo
ritual. Mesmo ocupando os ltimos degraus da hierarquia espiritual, esses
guias so superiores aos homens em fora e espiritualidade, j que as
privaes por que passaram em sua vida pregressa (na Terra) lhes
conferiram o privilegio de dar, depois da morte, os primeiros passos rumo
a perfeio. De qualquer maneira a atuao desses deuses, quando se da no
interior do quadro das prescries rituais e da disciplina mais ou menos
rigorosa de cada terreiro, considerada sempre benfica.
177
adepto que acaba sucumbindo a ao deletria das foras malficas as
num momento em que se encontrava vulnervel e fraco:
Eu morei com um mulher, essa mulher me enrolou todi -
nho. Foi na poca que tinha largado meu emprego, que eu
tava comeando a aprender a desenvolver e e a dona Xica foi e fechou
o terreiro. Foi nesse entanto, nesse vai e vem, essa minina, ela veio,
e eu fui. Fui morar com ela. Mas fui enfeitiado. Ela fez uma
enrola comigo, gastou mais de dois mil cruzeiros pra poder fazer
um punhado de troo ( ...). Percebi que ela fez porque quando eu fui 16
nesse outro terreiro, depois que eu tinha largado ela, eles falaram
comigo que ela tinha feito. Fez comigo mas no pegou muita
coisa, porque a proteo que eu tenho com eles (os guias), eles
me protegem, eu tenho muita f com eles, ele me protegem.
Mas se eu sou protegido como que pegou ni mim? Eu acho
assim: a pessoa sempre tem que apanhar pra aprender. Ento
eles, as vezes, mandam assim pra pessoa, logo num momento
que a pessoa est desligada de tudo, desesperada. Ento
aproveita a confuso e. .. porque o pont o fraco da pessoa o
esprito ( ...). Isso ai foi o seguinte, foi na poca que tinha fechado o
centro eu tava ao deus-dar, no tava em lugar nenhum, porque
quando a gente ta no centro tem proteo, quando no tem .
Quando a pessoa ta no sufoco, igual eu tava, porque anterior-
mente eu bebia, bebia bastante, farreava, tocava num bar.
Agora eu parei com isso, parei com tudo, acabou (atabaqueiro
pedreiro).
Neste depoimento podemos perceber como esses trs planos
o da pessoa (confusa, desesperada = fraqueza moral), o da vida
social (desemprego, ruptura de uma ao amorosa difcil) e o da
vida sobrenatural (ao de seres malficos) esto
estreitamente associados. O mundo dos homens um reflexo do
mundo dos deuses: do destino de uns (da fora dos deuses) depende
o destino dos outros (a fora dos homens). O homem perde sua
fora vital quando negligencia seus deveres para com as entidades
espirituais, deixando de estreitar seu comercio com elas. A qualidade
do ser do homem aumenta na medida de sua participao com as
foras divinas: a suspenso dessa relao significa para o individuo
fraqueza moral ("bebia, farreava") e vulnerabilidade ("tava ao
deus-dar"). E na comunho ntima com os espritos, pela possesso
178
religiosa, que o ser do homem aumenta e se fortalece; e como
qualquer fora, para permanecer, tem que ser constantemente ali -
mentada.
interessante nos reportarmos aqui a noo de ax nos
candombls africanos tradicionais que, embora mais rica e
complexa do que a idia de fora aqui apresentada, ' he.
bastante aparentada. O ax nos cultos nags estudados por
Juana Elbein, o princpio que torna possvel o processo vital.
Enquanto fora, ele transmissvel, acumulvel; mas s pode ser
adquirido por introjeo ou contato. Cada terreiro deve pois receber
ax, acumula-lo, mant-lo e desenvolve-lo. O ax de um terreiro se
expande e fortifica pela combinao das qualidades e significaes
dos elementos que o compem:
a) O ax de cada orix fixado nos peji, realimentado pelas
oferendas e pela ao ritual, transmitido pela iniciao e ativado
pela conduta individual e ritual;
b) O ax de cada membro do terreiro que se soma ao ax
de seu ores, recebido no decorrer da iniciao, e ao ax herdado de
seus prprios antepassados;
c) O ax dos antepassados do terreiro, cujo poder acumulado e
mantido nos "assentos".
E a observao escrupulosa dos deveres e obrigaes de cada
detentor de ax, para consigo mesmo, para com o grupo de olorix6s a
que pertence e para com o terreiro, que manchem e expande essa
fora. O desenvolvimento do ax individual e o de cada grupo
impulsiona o ax do terreiro; por outro lado, quanto mais antigo e
ativo e o terreiro, mais poderoso seu ax.
34
A idia de fora
utilizada pelos umbandistas, embora no se constitua com a mesma
riqueza de representaes e rituais, tem, a nosso ver, um sentido
semelhante. A fora das entidades espirituais esta na qualidade
de seu ser (j sofreram muito neste mundo e agora estariam mais
perto da perfeio) e a fora do homem se efetiva na comunho
intima com suas entidades. Os rituais (oferendas, sesso de desen-
volvimento medinico, o prpio culto a "gira") e o comporta-
mento individual agem como facilitadores e/ou propulsores dessa
unido; a negligencia ritual ou comportamental debilita o individuo
porque o afasta dos deuses. Mas no caso do pensamento umbandis ta,
a idia de fora adquire uma conotao prtica que inexiste na
categoria africana de ax. Justamente porque o culto umbandista um
culto inteiramente voltado para a "soluo de casos concretos" (o
que no acontece com o candombl em que a "vida" do
179
terreiro e de seus elementos absorve grande parte da atividade
religiosa), o poder de interveno das entidades no mundo se torna
algo muito importante. Assim, a esse sentido tradicionalmente
africano de fora, que se confunde com a qualidade do ser
existente, sobrepoe-se, no caso da umbanda, um sentido novo,
que tem a ver com as possibilidades do fazer, isto , "ter fora
(energia, vontade) para conseguir
"
. Ora, "ter fora para conseguir"
significa "poder" num sentido mais estritamente poltico, isto ,
ser capaz de atuar no sentido desejado apesar da correlao de
foras desfavorveis na ordem das relaes sociais (poder agir
apesar da falta de dinheiro, de autonomia, etc.). Deixaremos para
o capitulo que se refere a demanda a anlise mais detalhada sobre
a natureza da interveno mgica no mundo, e as representaes
que ela coloca em ao. Por ora gostaramos apenas de ressaltar as
mltiplas conotaes que esto associadas a categoria de "fora"
utilizada pelos umbandistas: a idia de "fora = qualidade do ser"
sobrepoe-se a noo de "fora = poder fazer"; este "poder fazer"
significa, nos casos de "doena" que aqui nos interessa, reverter
uma situao-problema que pela sua natureza no encontra soluo
nas instancias que detm o monoplio das solues legtimas: as
instituies hospitalares e a prtica medica. A noo de "fora"
adquire nesse contexto uma conotao mais poltica (no sentido
abrangente do conceito) ao significar a possibilidade de uma
atuao, mais ou menos prpria, no campo da teraputica, que de
maneiras varias se ope, resiste e assimila a prtica
hegemnica, e que tende a mostrar-se, de qualquer modo, mais
adequada as necessidades de compreenso, expresso e superao dos
conflitos prprios aos grupos sociais estudados. Vejamos no
depoimento de Sandra, onde essa categoria aparece com maior
freqncia, como se entrelaam suas diversas significaes.
Referindo-se as qualidades medinicas que possui, esta entre-
vistada observa com respeito a uma amiga que ficara paraltica:
"( ..) igual eles falam (l no centro): ' El a no tem fora.' E eu
tinha." Aqui a categoria "fora" aparece para significar diferenas
entre um ser que capaz de "receber os guias" e outro que no .
O suj eito se torna "mais forte", is to "mai s ser", quando tem
mediunidade.
As entidades espirituais so "mais fortes" posto que mais
perfeitas que o ser humano. Este, porque esta mais longe da supre-
ma perfeio, um ente fraco, que precisa de proteo diante dos
males deste mundo:
180
Mariazinha (esprito de criana) conversou comigo muito,
l no hospi tal. Falou comi go que no is demorar sair do
hospital, assim, me deu muita fora, o tempo que estive l,
me deu muita fora. Assim, eu no tive medo.
As entidades espirituais pela qualidade de seu ser elas so
mais fortes porque mais perfeitas podem fazer:
Eu no tenho poder pra nada ( ...). Com exu, eu mesma
no sei de nada, ele f az o que ele quiser, o que ele achar
melhor. Todo mundo tem f no meu exu. Eu mesma no sei
de nada. Todo mundo me conta que conversa com meu exu,
num tem que agradece eu no ( ...).
Toda fora do homem advm dessa comunho com a natureza
dos espritos:
"Porque eu tenho fora, assim.. . meu exu"; "Ento na-
quela hora eu mostrei pra eles (mdicos), tido eu, meu guia
mostrou pra eles que eu tinha fora."
Essa fora dos deuses, da qual o mdium participa, confere a
este ltimo um poder de interveno na ordem do mundo.
Porque a gente que mdium e tem aquela fora, a gente
tido pode ter medo, os guias tido aquela fora pra gente (...).
Falei: "Mariazinha, voc vai me dar fora agora, voc vai
fazer com que chegue agora um mdico perto de mim e me
de alta que eu quero ir embora agora." Ai eu entrei pro meu
quarto e j fui arrumar minhas coisas. E passou 15 minutos
e o mdico falou pra mim: "Voc t de alta, pode ir embora."
A categoria "fora", assim perpassada de mltiplas significa-
es, capaz de reconstituir uma totalidade em que as diferentes
esferas o individual, o social e o sobrenatural aparecem
interligadas. Podemos portanto acrescer ao diagrama anterior um
terceiro nvel, que o complementa e lhe da a dimenso de sua
abrangncia: o nvel do sobrenatural. Teramos, portanto, que a
associao anteriormente enunciada desordem individual/desordem
social se assenta numa desordem muito mais fundamental, que a
desordem sobrenatural. Tanto a doena (desordem do corpo) quan-
181
to a desorganizao da vida social s podem ser explicadas pela
ao perversa de entidades espirituais de pouca luz, tais como obses-
sores e eguns. A ordem espiritual se torna portanto o fundamento
dos outros dois niveis operando a passagem de um para o outro.
O relato que nos fez uma me-de-santo num terreiro paulista
pe em evidencia a correspondncia c o equilbrio sutil que as
representaes religiosas estabelecem entre esses trs nveis. Conta--
nos ela que a dona de um terreiro vizinho lhe pediu uma ajuda
para reorganizar sua casa de culto, pois ela mesma no se sentia
capaz de faze-1o:
Essa mulher era fantica pelo espiritismo. Ela recebia seu
guia de manh e ficava incorporada at a noite. E seus guias
gostavam de lcool, eles bebiam cachaa. Ela comeou assim a
ficar fraca e aconteceu o inevitvel: ela no conseguia mais
concentrar direito, ela s conseguia atravs do lcool. Eu
conhecia bem essa dona. Sua situao era lamentvel; na
casa dela era uma baguna danada: ela tinha um "cong"
(altar onde ficam as imagens dos santos) onde todos os santos
estavam quebrados, as roupas de santo estavam jogadas no
cho. Ento eu fui na casa dela para limpar tudo: para fazer
uma limpeza espiritual, jogar fora todas as suas coisas e des -
carregar a casa, porque ela no se entendia mais com o marido, o
marido no se entendia mais com ela, as crianas no se
entendiam mais com o pai. Era uma baguna total, porque
num terreiro assim: se os guias no trabalham para o Bem,
ento eles comeam a trabalhar para o Mal.
Vemos neste depoimento como os trs nveis se associam:
quando o mundo sobrenatural se desorganiza (os guias passam a
= fraqueza
do corpo
fraqueza
social
desorganizao da ordem
individual
Desorganizao da ordem
sobrenatural
fraqueza espiritual desorganizao da ordem
social
182
trabalhar para o Mal), a pessoa se desorganiza (abuso do lcool,
fraqueza fsica), e seu mundo social se desorganiza (desentendimen-
to familiar). A fraqueza do corpo esta portanto associada ao enfra-
quecimento das forcas espirituais, que no so mais alimentadas
nem preservadas. Por outro lado, a desordem do mundo sobre -
natural retratada no estado decadente do "conga" e no descuido
dos objetos rituais faz a passagem da esfera do individuo para
a esfera das relaes sociais. Em sua tentativa de ajudar a amiga
a restabelecer a "ordem na casa", D. Maria passa a operar direta -
mente na esfera religiosa faz uma limpeza espiritual, joga fora
as imagens quebradas; dessa restaurao da ordem ritual espera-se
a reorganizao no nvel individual e, social. A categoria religiosa
que produz essa passagem de um piano para o outro a categoria
de "mediunidade". o desenvolvimento da capacidade medinica,
isto , capacidade de comunicao com os deuses, que transforma,
como vimos, os fracos em fortes. Tambm a desorganizao da vida
familiar e de trabalho esta associada aos poderes medinicos: quan-
do mal-utilizados ou quando o individuo se recusa a desenvolve-los
(transformar as foras annimas e malficas em forcas conhecidas e
benficas), os poderes medinicos acarretam conseqncias que
podem ser nefastas para todos. O conceito de mediunidade
portanto o mediador que organiza todos os element os num
sistema orgnico e corrente. As sensaes mrbidas que surgem a
nvel da pessoa mal-estares, vises, depresses aparecem
quando o individuo se furta ao comercio ritual com os espritos; a
vida familiar se desorganiza quando ele, enfraquecido e
desprotegido, se v tomado pela teia de maus fluidos e agentes
malficos que cada vez mais aprofundam as suas tenses e
conflitos. No caso da amiga de D. Maria, esse canal de
comunicao com os deuses que se desregula com o lcool: "Ela
no conseguia mais concentrar direito", diz ela a ligao entre
deuses e homens se rompeu.
Mas pela fraqueza do corpo (pela doena) que essa desordem
csmica pode ser percebida e suprimida. A doena-desordem nada
mais do que a objetivao, no corpo individual, dessa desordem
transcendente. Ora, tendo em vista que os trs planos individual,
social e espiritual constituem um todo orgnico em que seus
elementos se encontram estreitamente associados, qualquer altera-
o numa esfera se reflete imediatamente nas outras duas. Por outro
lado, e como conseqncia dessa mesma lgica, qualquer interveno
"teraputica" que se faa em um dos nveis promove efeitos
"teraputicos" do mesmo teor nas outras esferas. A atuao mgico-
183
teraputica ter portanto como suporte de sua prtica essa viso
globalizante: se o corpo doente nada mais do que a desordem
transcendente objetivada, a ao ritual que o visa se torna a pea
chave da possibilidade de ao na ordem espiritual e, por seu
intermdio, na ordem social. E
.
portanto no atravs do corpo
doente que a ao mgica umbandista busca ser eficaz na produo
de uma transformao a nvel do social. A profilaxia mgica ganha
assim um sentido muito mais abrangente ao associar duas esferas
que o pensamento profano tende a separar: a esfera das solues
teraputicas, que convergem para uma ao sobre o individuo
isolado de seu contexto social, e a esfera das solues "polticas",
que convergem para uma atuao sobre o mundo exterior.
35
A
possibilidade de expressar os males do mundo atravs da linguagem
do "corpo doente" significa para o umbandista poder compreender
e dominar a desordem do mundo. Por outro lado, porque e possvel
manipular a dor, os desmaios e os tremores, porque possvel atirai
para si a boa vontade dos espritos ou expulsar aqueles que nos
fazem mal, possvel desfazer as malhas da rede de conflitos que
se tecem em torno da vida de cada um. Nesse sentido podemos
afirmar, com Marcel Mauss, que "os atos mgicos so eminente-
mente eficazes, eles so criadores, eles fazem".36
Para realizar sua ao o mdium dispe de vrios personagens
mticos que ele passa a encarar em funo dos problemas que
precisa resolver: recebe os caboclos, nos casos dos rituais de inicia-
o; os pretos-velhos, preferencialmente para curas; os exus, nos
casos das demandas. Vejamos portanto, agora, de que maneira esse
processo mgico-teraputico possibilita uma ao eficaz sobre o
mundo, ao colocar em andamento, ao operar, com as representaes
simblicas constitutivas desses personagens mticos.
184
NOTAS
1. DUARTE, Luiz Fernando, "Doena de Nervos: um estudo de
representao e viso de mundo de um grupo de trabalhadores", mimeo,
So Paulo, 1979.
2. Depoimento recolhido por J. G. Magnani em seu estudo "Doena e Cura
na Religio Umbandista", mimeo, 1980.
3. Ver a respeito dessa relao doena-negatividade o interessante estudo
de Jean Pouillon sobre a teraputica dos Dengaleat na Republica do Tchad,
"Malade et Medecin: le meme et/ou l'autre", in Fetiches sans Fetichisme,
Paris, Maspero, 1975.
4. Idem.
5. FELIX, C., Cartilha de umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Eco, 1965.
6. OLIVEIRA, Nelson Franca, in Umbanda transcendental de Jorge de Oli-
veira, Rio de Janeiro, 1971.
7. FELIX, C., op. cit., p. 33.
8. MAGNO, O., Umbanda e seus complexos, Rio de Janeiro, Ed. Espiritua-
lista, 1961, 4.
a
ed.
9. TORRES, B., Camba de umbanda, Ed. Aurora, 2.
a
ed., p. 69.
10. GUEDES, S., Umbanda e loucura, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista.
11. TEIXEIRA, A. Alves, Umbanda dos pretos-velhos, Rio de Janeiro, Ed.
Eco, 2.
a
ed.
12. FELIX, C., op. cit., p. 24.
13. FIGUEIRA, B. V., op. cit., p. 19.
14. HEUSCH, Luc de, Pourquoi l'Epouser?, Paris, Gallimard, 1971.
15. FELIX, C., op. cit., p. 51.
16. MACIEL, S. P., Umbanda mista, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista,
p. 22.
17. DOUGLAS, M., Pureza e perigo, So Paulo, Ed. Perspectiva, 1966,
p. 50.
18. Ver BASTIDE, Roger, "Cavalos-dos-Santos", in Estudos afro-brasileiros,
So Paulo, Ed. Perspectiva, 1973.
19. Para uma analise mais detalhada da maneira como o ritual religioso
codifica, do ponto de vista espao-tempo e do ponto de vista gestual, a
descida das entidades espirituais sobre o corpo dos mdiuns, ver Montero,
18
5
Paula, "La Possession Religieuse dans le Culte Umbandiste", cap. III, mimeo,
Paris, 1974.
20. METRAUX, A., Le Vaudou Haitien, Paris, Gallimard, 1958, p. 120.
21. BASTIDE, R., Le Candombl de Bahia, Paris, Mouton, 1958, p. 225.
22. DEVEREUX, G., "Normal et Anormal", in Etudes d'Ethnopsychiatrie
Generale, Paris, Gallimard, 1970, p. 15.
23. Idem.
24. In "La Comedie Rituelle de la Possession' , de Metraux, Al fred,
Diogene, n. 11.
25. Ver, a esse respeito:
HERSKOVITS, "Pesquisas Etnolgicas na Bahia", Salvador, 1943;
"The contribution of afroamerican studies to Africanist Research", Ame-
rican Anthropologist, n. 50, 1948.
METRAUX, A., Le Vaudou Haitien, Paris, 1958;
"L Comecei Retocele de la Possession", Diogene, n. 11.
BASTIDE, R., Candombls da Bahia: rito nag, Paris, 1938;
Cavalos-de-santo, So Paulo, 1973.
HEUSCH, Luc de, Pourquoi l'Epouser?, Paris, 1971.
MARS, Louis, "Crise de Possession: Nouvelle Contribution a 1'Etude de la
Crise de Possession", Psyche 60.
RIBEIRO, R., "Cultos Afro-brasileiros do Recife: um estudo de ajustamento
social", Boletim do Instituto Joaquim Nabuco, Recife, 1950.
RODRIGUES, Nina, L'Animisme Fetichiste des Negres de Bahia, 1980.
RAMOS, A., O negro brasileiro, 1940.
26. DEVEREUX, G., op. cit.
27. Para uma analise das relaes sociais que sustentam toda e qualquer
relao teraputica, ver Bastide, Roger, "Le Fou et la Societe", in Socio-
logie des Maladies Mentales, Paris, Flammarion, 1965.
28. Jos G. Magnani chega a concluses semelhantes em seu estudo sobre
a cura umbandista em So Paulo. Ver Doena e cura na religi8o umbandista,
1980. Ver tambm, a esse respeito Pouillon, J., Fetiches sans Fetichisme,
Paris, 1975.
29. ZEMPLINI, A., "La Dimension Lherapeutique du Culte des Rab", in
Psychiatric Africaine, 1966, II, p. 33.
30. Ver tambm "Magie et Religion", Temps Modernes, 1949.
31. STRAUSS, L., "L'Efficacite Symbolique", in Anthopologie Structurale,
Paris, Plon.
32. MONFOUGA, J., Ambivalence et Cultes de Possession, Paris, Anthropus,
1972.
33. CARDOSO, R., "Sociedade e Poder. As Representaes dos Favelados
de So Paulo", in Ensaios de Opinuio, n. 2-4, 1978, pp. 38-44.
34. ELBEIN, Juana, Os nage, e a morte, Rio de Janeiro, Vozes, 1976.
35. ALVES, R., "Religiao e Enfermidade", in Construo social da enfer-
midade, So Paulo, Cortez e Morais, 1978, p. 32.
36. MAUSS, M., "Esquisse d'une Lheorie Generale de la Mage", in Sociolo-
gic et Anthropologic, Paris, PUF, 1968, p. 11.
1 75
IV
AS REPRESENTAES
SIMBLICAS DOS DEUSES E
O PROCESSO DA DEMANDA
VIMOS NOS CAPITULOS ANTERIORES como a noo
medica de doena, por se situar, na representao de nossos entre-
vistados, nos estreitos limites dos acontecimentos puramente fisio-
lgicos, se revela uma noo demasiadamente estreita, incapaz de
dar conta da multiplicidade de dimenses encerradas na
"experincia da morbidez". No caso das "doenas mentais", por
exemplo que como vimos representam para nossos
entrevistados uma "doena material" - destinada, como outras,
aos cuidados mdicos temos que a experincia psiquitrica,
almda dolorosa vivencia institucional que implica (a coisificao
do paciente, a usurpao de suas sensaes, a submisso as normas de
disciplina e autoridade, etc.), empobrece e atomiza a percepo que
o individuo tem de si prpio. A experincia religiosa, ao contrario,
permite uma articulao mais abrangente ao associar, pela
mediao do sobrenatural, a esfera das sensaes a esfera das
relaes pessoais e sociais, isto , ao relacionar pessoa e situao. O
discurso religioso possibilita pois ao individuo expressar e viver sua
pessoa como um todo (no fragmentado em rgos ou partes
doentes), e ao mesmo tempo localizar este "eu" na causalidade
que preside a organizao do mundo social: ele pode se
compreender enquanto um "eu-no-mundo", atuante, e capaz de dar
sentido as tenses a que vive subme-
188
tido. A partir dai a ao profilatica deixa de ser uma si mples
interveno tecnica sobre o corpo a fim de eliminar sintomas e
suas causas organicas: a ao mgica, embora vise ritualmente o
corpo, se prope, atravs dele, atingir e reorientar a causalidade
do mundo no sentido de suprimir as foras maleficas causadoras
de desordem.
No capitulo anterior descrevemos os rituais terapeuticos e
procuramos compreender de que maneira eles buscam atua r de
maneira eficaz sobre a desordem, identificando e controlando as
entidades maleficas. No entanto toda manipulao ritual, atravs de
seus gestos e preceitos, revive e coloca em ao todo um universo
mitico, povoado de simbolos, que ainda noabordamos de maneira
mais sistematica. Para compreendermos o sentido da ao mgica
preciso compreender de que maneira ela opera com as representa-
es simblicas que estao contidas nesse universo. O controle da
desordem ou as manipulaes no sentido da cura se fazem atravs de
entidades espirituais diversas pretos-velhos, pretas-velhas, ca-
boclos e caboclas, exus e pombas-giras, que encerram, cada uma
delas, um feixe caracterstico de representaes simblicas. Uma
anlise detalhada dessas representaes nos permitir perceber de
que maneira a simbologia mtica retraduz, numa linguagem religiosa,
os conflitos e tenses presentes no jogo das relaes sociais mais
abrangentes. Parece-nos que as oposies simblicas que pretende-
mos analisar branco/negro, masculino/feminino no se refe-
rem apenas ao universo mtico ou moral mas correspondem a situa-
es, valores e conflitos reais, presentes na sociedade. Assim, a
atualizao na prtica ritual dessa simbologia comporta, para os
adeptos, aspectos intelectivos da ordenao social que os determinam
em suas experincia s pessoais. O adepto que se dirige a um preto--
velho ou a um exu, por exemplo, pedindo-lhe cura, ou que desen-
volve sua mediunidade recebendo esta ou aquela entidade, atualiza
naquele momento as ambigidades, tenses, valores inscritos na
prpria constituio simblica da divindade. Assim, a anlise do
feixe de significaes que as oposies acima enunciadas encerram
nos permite perceber de que maneira a simbologia religiosa organiza
intelectivamente para o sujeito problemas que dizem respeito ao
seu pr6prio "eu", ao tipo de organizao social em que esta inscrito e
a articulao entre essas duas instancias. j havamos visto, no
capitulo anterior, de que maneira a noo de "desordem" articulava
estruturalmente essas duas dimenses (sensaes individuais,
experincia social). Mas a analise dos personagens mticos, com todos
18
9
os aspectos contradit rios que encerram, traz a tona o "texto",
atravs do qual os diversos "campus de tenso", vivenciados de
maneira caotica e obscura pelo individuo, so retraduzidos e organi-
zados no mbito do universo religioso. Nesse sentido, parece-nos
que atravs da assumpo desse universo o sujeito adquire um
discurso capaz de arranca-lo de sua Pura subjetividade, um instru-
mento cognitivo que lhe permite apreender e expressar sua prpria
condio de existncia. E isto se torna tanto mais verdadeiro quando
se considera que os umbandistas, por pertencerem em sua grande
maioria aos grupos sociais mais desfavorecidos, esto habitualmente
submetidos, pela sua prpria posio social, ao use de um discurso
fragmentado em inmeras fontes de criao. Por outro lado, pre-
ciso considerar ainda que um discurso produzido a partir desse
ponto de vista a viso de mundo dos grupos desfavorecidos
reflete em sua constituio as pr6prias condies em que foi produ-
zido: "Qualquer discurso produzido por um grupo social determina-
do, no um discurso `neutro', mas traduz", como diz Levi -Strauss,
"certas modalidades histricas e locais das relaes homem/mun-
do."
t
Escapa ao mbito de nosso trabalho tentar compreender de
que maneira a religio umbandista, em sua construo histrica,
reflete as contradic6es inerentes a prpria formao da sociedade
brasileira moderna.* Mas gostaramos apenas de ressaltar que, ao
dividir o universo em deuses brancos e negros, masculinos e femi -
ninos, superiores e inferiores, o universo simblico organiza hierar-
quicamente o mundo incorporando, por um lado, a ordem de valo-
res prevalecente na sociedade inclusiva, introduzindo, por outro, a
possibilidade de neutralizao e at mesmo de inverso desses valo-
res. Dessa maneira o universo religioso equaciona ideologicamente o
vivido, indicando ao sujeito pontos de incidncia para a ao:
suprimir a dor ou controlar a "doena" se torna, portanto, para o
individuo, uma maneira de intervir seletivamente na (des)ordem do
mundo.
* * *
* O trabalho desenvolvido por Renato Ortiz a respeito do
nascimento da religio umbandista no Brasil nos mostra de que maneira
ela Integra os elementos da histria brasileira e de que maneira ela se torna
um universo ideolgico capaz de reinterpretar os valores da "moderna sociedade
brasileira dentro do campo semntico religioso".2
190
Mas h um segundo momento dessa anlise que nos parece
ainda importante abordar: a passagem da organizao simblica
dos personagens mticos para a operacionalizao desses smbolos
na prtica cotidiana dos terreiros. Se verdade que o universo
religioso, com suas divindades hierarquicamente dispostas e sua geo-
grafia do Bem e do Mal finamente desenhada, oferece ao adepto
uma verso mtica da ordenao social do mundo, tambm ver -
dade que, no momento de sua atualizao pelo rito, este texto e
reinterpretado, e de certo modo reescrito por mdiuns e clientes.
Esse processo se da em vrios nveis:
a) a n vel da i nterpret ao pessoal que cada mdi um faz das
entidades que recebe posto que no se recebe pretos-velhos
ou caboclos "em geral", mas Pai Joaquim ou Cabocla Jurema,
por exemplo, que tiveram esta ou aquela hist6ria pessoal, cuja
ordenao e seleo de elementos deixada a livre fantasia dos
adeptos;
b) a nvel da hierarquia concreta das entidades, que nas atividades
semanais do terreiro nem sempre corresponde a hierarquia pro-
posta pela ordenao "teolgica" mais geral;
c) a nvel da prpria relao entidade espiritual-consulente, em
que a "experincia mrbida" deste se confronta com o compor-
tamento especifico de uma entidade que lhe familiar (sua
capacidade de oferecer solues, sua capacidade de compreen-
so, etc.), sobre a qual o adepto projeta uma serie de expectati-
vas pessoais.
Evidentemente que esses vrios nveis se encontram, na
pratica, estreitamente associados, posto que, muitas vezes, a boa relao
entidade-consulente depende da verossimilhana que o mdium
conseguiu atribuir a interpretao pessoal de seu papel, que por
sua vez lhe acarreta, por via de conseqncia, um maior prestigio
entre o conjunto de entidades que trabalham naquele centro. De
qualquer maneira, parece-nos que somente a anlise de como os
adeptos operam com os smbolos religiosos que lhes so propostos
nos permitira compreender de que modo a experincia vivida
do "doente" ou daquele que vem aos terreiros em busca de
um auxilio revive ou reencena os conflitos tematizados no
modelo mtico.
Com efeito, parece-nos que, se a ordenao simblica j deli-
neou de antemo as caractersticas gerais de cada entidade o
19
1
comportamento ou ao de cada esprito, o que " permitido" que
ele faca ou no ,.a ao ritual abre a possibilidade, para mdiuns e
consulentes, de manipular aceitar, recusar, modificar o
jogo de representaes sociais implicito nessa construo. Por isso o
sentido desse mundo simblico deve ser redimensionado em
funo de sua atualizao em comportamentos concretos. A analise
de terreiros concretos, de clientes concretos, fazendo demandas
concretas, nos permite perceber o verdadeiro sentido e o alcance
da doutrina religiosa; somente no momento do "agir" dos fieis,
isto , no momento em que eles conversam com suas entidades
preferidas e que essas lhes oferecem interpretaes e "solues
rituais" para seus problemas que os smbolos religiosos podem
adquirir aquele sentido de "travestimento" ou inverso dos valores
socialmente aceitos como dominantes que havamos apontado nos
captulos anteriores. essa possibilidade de "interveno", de re-
elaborao sistemtica das representaes simblicas subjacentes as
polaridades acima mencionadas (branco/negro e masculino/femi -
nino), que procuraremos analisar na parte IV.3, "O processo da
demanda".
192
1.
O ESPECTRO DAS CORES
E O JOGO DAS FORAS:
O BRANCO E O NEGRO
INTERESSA-NOS neste momento voltar nossa analise para
a descrio que fazem os autores umbandistas da organizao das
entidades em sistemas de linhas ou vibraes. Se quisermos dar con-
ta da natureza das representaes que esto em jogo na relao que
se estabelece entre os "clientes" e cada entidade em particular,
preciso compreender como as diferentes categorias de espritos se
distribuem no espao csmico.
A partir de uma leitura sistemtica de um vasto conjunto de
autores umbandistas, duas constataes iniciais podem ser feitas:
1.
a
) As entidades, tomadas em sua diferenciao tipolgica,
se organizam hierarquicamente, isto , no se equivalmem fora
e desenvolvimento espiritual;
2.
a
) As diferentes categorias de espritos, caboclos, pretos-
velhos, exus e crianas ocupam lugares heterogneos na hierarquia
espiritual, o que de certo modo define para cada um deles diferentes
competncias.
Vejamos portanto como isso se da de maneira mais detalhada.
A estratificao do universo religioso
Tomando-se o conjunto das divindades umbandistas em sua
estruturao mais formal sua organizao csmica em linhas,
falanges e legies * podemos perceber que do ponto de vista
* Uma serie de autores umbandistas organizam as entidades
numa hierarquia piramidal da seguinte natureza: em seu ponto mais elevado do
desen-
19
3
estritamente quantitativo o esprito de caboclo o esprito mais
importante.* Isto porque, das sete linhas que compem a cosmo-
logia religiosa (Oxal, Iemanj, Xang, Oxossi, Ogum, Pretos -
Velhos e Iori**) cinco so destinadas ao trabalho dos caboclos,
enquanto que as duas restantes dividem-se entre os espritos dos
pretos-velhos e os das crianas. Somente para ilustrar essa dispari -
dade, interessante objetiv-la numericamente: uma das inmeras
obras que tentam organizar a doutrina umbandista, o livro Umbanda
magia branca,
5
de Marcos Scliar, traz uma descrio detalhada do
nmero de entidades que operam na "magia branca". Em sua
matemtica c6smica, este autor calcula a existncia de 2.015.797
entidades, assim distribudas: cada linha compe-se de sete graus
evolutivos, cada um subdividindo-se em sete outros. Esse arranjo
piramidal que multiplica por sete o nmero de espritos quando se
passa de um grau evolutivo para outro, resulta num total de
335.932 entidades para cada linha. Levando-se em conta o fato de
que os caboclos trabalham em cinco linhas, pode-se calcular a
multido de entidades que compem essa categoria de espritos.
Os pretos-velhos e as crianas constituem nessa distribuio
numrica franca minoria. Por outro lado, preciso considerar ainda
que as cinco linhas nas quais os caboclos trabalham so
hierarquicamente superiores as dos pretos-velhos e crianas. A linha
de Oxal, deus supremo do panteo africano, paira acima de todas
as outras, enquanto que a linha africana dos pretos-velhos geralmente
encerra a escala de evoluo espiritual. Assim, levando-se em
conta a hierarquia horizontal das linhas e a vertical das falanges e
subfalan-
volvimento espiritual esto os orixs maiores que comandam as sete
linhas; cada linha se subdivide em sete falanges, cada falange em sete subfalanges,
que por sua vez se subdividem, cada uma, em sete legi es, e assim sucessivamente, at
completar, para certos autores, um total de sete nveis hierrquicos distintos.3
* Excetuam-se dessa anlise os exus, que pertencem ao mundo catico das trevas,
embora, para alguns autores, ele tambm se organize em sete linhas, todas compostas de
exus.
** Existem algumas variaes segundo os autores quanto a ordem e a designao
dessas sete linhas. Para alguns a linha do Oriente ocupa o lugar da linha das
Crianas ou Iori.
4
Por out ro lado exist em duas outras linhas ainda em processo
de formao que raramente so mencionadas na literatura mas que j descem e
trabalham em certos terreiros, as linhas de mari nheiros e boiadeiros. Entretanto
essas duas linhas parecem estar mais prximas dos exus do que do "mundo das luzes".
194
ges, temos que os caboclos que se situam nos graus evolutivos
menos desenvolvidos de cada linha so, ainda, quando considerados
na hierarquia das linhas (horizontal), superiores aos pretos-velhos
que trabalham na linha africana.
Nessa tentativa de sistemat izao racional dos espritos por
parte dos autores umbandistas, algumas constataes podem ser
feitas:
e os deuses pertencentes a tradio africana Oxal, Iemanj,
Oxossi, Ogum foram (pelo menos nominalmente) conservados pelo
culto, ocupando o topo da hierarquia espiritual emprestando seu nome as
linhas mais evoludas;
os caboclos, heris brasileiros, no tem uma linha prpria,
trabalham nas linhas ou "vibraes" desses orixs superiores;
os pretos-velhos trabalham em uma linha prpria mas que se
situa nos limites da escala de desenvolvimento espiritual, nas
fronteiras que separam o Bem e o Mal;
os exus, entidades legadas tambm pela tradio africana, so
confinados ao "mundo das trevas".
Nesse jogo de cores e posies, onde a tradio negra parece
predominar, uma curiosa inverso se observa:
o num pri meiro momento, o elemento negro valorizado na
medida em que constitui o fermento simblico inicial a partir
do qual vo se organizar as novas idias religiosas. Roger
Bastide retrata, em seu artigo sobre a macumba paulista, as
vicissitudes sofridas pelas tradies africanas em seu confronto
com a herana cultural dos migrantes europeus, com o
espiritismo e o catolicismo de origem rural. "Em So Paulo",
observa ele, "devido ao seu nmero e a condensao em ilhotas
ecolgicas, o preto no teve bases materiais sobre as quais a
macumba poderia ter-se organizado triunfalmente."
6
Diante
da agonia das crenas africanas, o espiritismo aparece, para
Bastide, como uma maneira de manter viva parte dessas tradies,
ainda que o preo a pagar fosse a aceitao parcial da superioridade
do branco. Apesar da imposio do culto catlico e das influencias
espritas, a macumba consegue, segundo Bastide, manter o
essencial: o espiritismo, &diva dos brancos, permitiu uma reva-
lorizao dos espritos africanos, permitiu as almas dos ante-
passados ordenarem-se numa hierarquia sagrada que iguala o
esprito dos pretos ao dos brancos. Nesse sentido o espiritismo
constituiu, por um lado, uma espcie de "ninho simblico",
onde certos valores negros puderam se perpetuar, e a "nuana
195
africana" ofereceu, por outro, os efeitos culturais sobre os quais o
pensamento esprita pode trabalhar;7
num Segundo momento, o elemento negro incorporado ao espi-
ritismo "neutralizado", e por assim dizer "depurado" de suas
conotaes negras, na medida em que a religio umbandista vai
se defrontando com os problemas da legitimidade e do reconhe-
cimento social de suas crenas. Renato Ortiz, em sua analise
sobre o processo histrico-social de formao desse culto, mos-
tra com clareza como os valores africanos tradicionais so man-
tidos dentro da umbanda somente na medida em que so reinter-
pretados de acordo com os cnones de uma sociedade onde a
ideologia branca dominante.
8
A revalorizao do elemento
negro, ainda que depurada, importa no somente aos negros,
que pelo seu passado histrico sempre se viram culturalmente
desprezados, como a certos grupos sociais brancos que, como
os imigrantes, no conseguiram de imediato se enquadrar na
nova sociedade urbana que se inicia na dcada de 30 e que
passam consequentemente a ocupar com o negro posies mais
ou menos marginais.
Para certos autores, como o negro Byron Torres de Freitas, a
umbanda significa o triunfo dos valores negros sobre os brancos:
Quando dois povos de civilizao diferente passam a co-
existir, verificam-se certos fenmenos denominados "intera-
o". Quer dizer, um age sobre o outro e vice-versa, de modo
a possibilitar a vida em conjunto. Nem sempre o que parece
vencedor o que impe suas regras. Muitas vezes o vencido
que faz prevalecer seus hbitos e costumes . interessante
saber que especialmente no setor religioso os africanos leva -
ram a melhor, tal a fora das religies naturais.9
Mas a legitimao dos valores negros "puros" impossvel
numa sociedade em que as regras do jogo so dadas pelos brancos. A
preservao de certos traos da cultura negra dentro da umbanda se
d justamente porque esses elementos africanos constituram a "matria-
prima" sobre a qual o pensamento esprita trabalhou para engendrar
essa sntese original que constitui o "espiritismo de umbanda". Mas
por outro lado, para que essa nova religio fosse socialmente aceita,
ela no poderia deixar-se simplesmente confundir com "coisas de
negros, ignorantes e b6rbaros".
10
Os autores umbandistas vo
portanto trabalhar no sentido de "domesticar" a negritude presente
na religio, exorcizar os elementos negros que do ponto de
164
vista do branco exibem mais claramente o que essa rata "tem de
inferior e de selvagem".
I
esse processo de busca de legitimidade
social que Renato Ortiz retrata ao analisar o discurso moralizante
dos dirigentes umbandistas (geral mente pertencentes as classes me-
dias) e suas tentativas de normalizar a religio.
Mas independentemente da defini o de normas de conduta
socialmente aceitveis veiculadas pela literatura umbandista e pelo
discurso dos dirigentes das federaes, o pr6prio modelo
hierrquico em que se organizam as diferentes entidades (modelo
mais ou menos aceito por todos os terreiros) apontam na mesma direo.
Vimos que os orixs africanos (com exceo de exu) ocupam na
hierarquia espiritual os lugares de "mais alto desenvolvimento". No
entanto essa hiperespiritualizao dos orixs concorre, na verdade,
para afasta-los do seu convvio com os homens. Dado o grau de
perfeio por eles alcanado, essas divindades escapam a "Lei do
Retorno" e das reencarnaes sucessivas que presidem a necessidade de
incorporao dos fieis durante as sesses religiosas. Com efeito, os
deuses africanos na umbanda no tomam mais, como no candombl, a
cabea de suas filhas, nem falam mais atravs de suas bocas. Assim,
ao perderem a possibilidade de comungarem com os homens, vo cada
vez mais se distanciando do mundo e se transformando pouco a
pouco em foras annimas e sem histria, "vibraes" nominais
que apenas persistem enquanto substrato da mem6ria negra, em
nome da qual se realiza o trabalho espiritual dos caboclos.
interessante observar ainda que as divindades africanas
emprestam seu nome as linhas em que trabalham o exercito dos
caboclos mas no a linha em que trabalham os pretos, como se os ndios,
pela cor de sua pel e, pela sua "recusa" da escravido,
estivessem mais bem colocados do que os negros para trabalhar em
linhas mais espiritualizadas. Essa estranha contradi o ilustra, a
nosso ver, a tendncia subjacente ao pensamento umbandista em
isolar esses elementos culturais negros, dissociando-os de sua origem
africana para que eles possam ser mais bem "digeridos" pela nova
religio.
O canto, afirma Cavalcanti Bandeira, no a imagem, nem
a histria de sua vida ou de seus milagres, um foco irradiando
foras espirituais em circunstancias determinadas ou espe-
radas, conforme o campo em que possa atuar, um plano de
vibraes na escala da espiritualidade, socorrendo os crentes
na dupla busca do aperfeioamento
11
(grifo nosso).
197
Os orixs africanos so assim transformados em "vibraes"
ou "foras eletromagnticas", cientficamente observveis, como que
numa tentativa, nem sempre bem-sucedida, de adequar crenas so-
cialmente "suspeitas" (porque pr6ximas da ignorncia e da
superstio) aos padres racionais e legtimos que orientam os
valores de nossa sociedade.
Sendo Xang uma vibrao de elevao espiritual, escreve
Jorge de Oliveira, convm ao umbandista procurar um inter-
cambio de palavras com os espritos atuantes na citada linha
(caboclos), a fim de que tenhamos condi es de colocarmos
nossos destinos em sintonia real e verdadeira com o piano
espiritual, procurando nos desvincular das ide as preconcebidas
que alteram sensivelmente o use e a aplicao da lgica e da
razo.12
Se o elemento negro da tradi o africana os orixs
reinterpretado em termos de uma lgica "racionalista" e neutrali -
zante, o elemento negro verdadeiramente original e atuante os pretos-
velhos relegado a posies mais subalternas do plano
espiritual. Esses espritos, se foram alados a condio de divin-
dade em funo dos sofrimentos a que foram submetidos no sistema
de opresso do passado (e aqui vemos, segundo Bastide, o elemento
negro tomar sua revanche sobre o branco a "voz do oprimido"
sendo sacralizada), sua prpria condio de negro ainda imper-
feito, cheio de vcios, apegado a matria o mantm no ponto
mais baixo da hierarquia espiritual ainda voltada para o Bem.
E aqui podemos perceber como as representaes religiosas
que se tecem em torno da cor negra dicotomizam a figura negra
em dois plos antiteticos:
o "negro fundamentalmente bom", que trabalha na umbanda,
divinizado em razo dos sofrimentos a que foi submetido em seu
passado de escravo; negro que tira sua sabedoria das injustias
sofridas, que tira sua fora da capacidade de compreenso huma-
na e de aceitao da adversidade. "O negro bom, personificado
em Pai Joo, representa o escravo conformado, submisso, ou,
como se diz nos Estados Unidos, o negro que, em vez de reivi n-
dicar, conhece o seu Lugar, como um animal domestico. Pai Joo
o velho africano, de cabelos que j embranqueceram, que
conta histria 'do tempo em que os animais falavam', que canta
para os filhos do senhor branco canes dolentes, que leva
198
surras mas retribui o mal com o bem, devotado, sempre pronto
aos maiores sacrifcios." 13
Essas falanges de pretos-velhos incumbem-se do tratamento
dos filhos de umbanda, no tocante as preces, passes e curas
por meio de ervas medicinais ( . . .). Entretanto difcil um
preto-velho envolver-se em demandas espirituais, pelo fato de
que apenas pregam a bondade, a pacincia e a resignao.
Suas predicas so de humildade e amor ao prximo ( . . .).
Pelo seu esprito de mxima compreenso e grande abnegao
aos preceitos de procurar o bem-estar dos filhos da Terra,
so por esse motivo os pretos-velhos as entidades mais pro-
curadas da lei de umbanda."
o "negro fundamentalmente mau", que trabalha na quimbanda,
que s vem ao mundo para trazer doenas, desgraas e dis-
crdias; negro "marginal" que pela sua natureza ameaa o
equilbrio social e a ordem do universo.
E por todos sabido que a qui mbanda teve o seu prin-
cipio no Brasil com o advento da escravatura, pois os antigos
colonizadores portugueses, trazendo das suas possesses na
frica os escravos negros, estes traziam dentro do corao a
magoa, o dio e o rancor pelos homens de raa Branca que
os escravizaram, e assim procuravam por todos os meios tra-
balhar com entidades diablicas, contra o seus senhores.15
Mas se as representaes religiosas dicotomizam assim a ima-
gem do negro colocando-o ora do lado da luz (quando domesticado),
ora do lado das trevas (quando pe em risco a ordem), cada um
destes plos no no entanto homogneo. Tanto os pretos-velhos
(os pretos bons) quanto os exus (os pretos maus) so personagens
que se compem de duas dimenses num certo sentido contradit6-
rias: os pretos-velhos so exaltados em sua negritude na medida
em que esta domesticada e submissa, e ao mesmo tempo so
desvalorizados (colocados no ltimo escalo do desenvolvimento
espiritual) em fogo desta mesma cor negra. Os exus, num pro-
cesso homologo mas inverso, so desvalorizados (colocados fora
do mundo das luzes) pela sua negritude rebelde, e ao mesmo tempo
exaltados em funo do poder que essa posio "impura" (no sentido
que Mary Douglas empresta ao termo) lhes confere.
199
O depoimento de D. Conceio recolhido no momento em que
estava possuda por Vov Catarina ilustra bem a ambivalncia que
caracteriza as personagens que compem a categoria dos pretos
velhos:
Vov Catarina morreu tem muitos anos. Nega via j no
aguenta mais trabaia. Ai sinh fal: que qui que faz com
isso a, que no trabaia mais. Pe num giqui e joga no rio os
peixe que comeu Nega via. Quando jogava os outros
escravos no podia tir. Nos pretos veio, sofria demais no
cativeiro. Era na roda de navalha, era roda de chicote. Com
esta desencarnao que Nega via teve. Nega vela pegou luz.
Todos os preto vio divide os sofrimentos e ganha luz. O
sinh, o sinhozinho mais sinhazinha no tem luz no dia de
hoje e nem vai t. Por isso vs mec deve rez muito pra
Princesa Isabel. Foi ela quem deu a liberdade para todos
os pretos vio, que acabou com o cativeiro (me-de-santo
operaria).
No mito a violncia histrica do branco contra o preto
simbolicamente "castigada": "nega via pegou luz" pelo sofrimento
enquanto que "sinhozinho no tem luz hoje em dia nem vai t"
--tudo se passa como se aqui o negro tomasse sua revanche
contra o branco. E no entanto quem concedeu a liberdade ao negro
foi o mesmo branco que o escravizou a liberdade nesse sentido
no foi conqui st ada pelo homem de cor , no r esul t ou de um
enfrentamento violento ou de uma subverso da hierarquia das
cores, a liberdade alcanada pelo negro resultou na verdade de uma
concesso do homem branco: "Foi ela (Princesa Isabel) quem deu
a liberdade para todos os pretos vio, que acabou com o cativeiro."
Aparece nesse momento a ambivalncia dos sentimentos do negro
com relao aos seus senhores brancos: " "sinh no tem luz
"
, porque
foi mau; "deve rez pra Princesa Isabel", porque foi boa. E essa
constatao contraditria que traduz como veremos adiante contra-
dies presentes na insero scio-econmica do negro na sociedade
mais abrangente, que da fora e verossimilhana aos personagens
dos pretos-velhos (e dos exus). As intervenes que os pretos-velhos
realizam no mundo, ajudando aqueles que os procuram, espelham
bem essa ambivalncia. Por um lado, seu poder reconhecido e
afirmado na medida em que orienta com sabedoria homens, inde-
pendente de sua raa ou condio social, e os ajuda em caso de
200
necessidade: muitos homens ricos e brancos se ajoelham aos ps
de pobres pretos-velhos, encarnados muitas vezes em adeptos de
cor e de baixa condio social, e imploram sua interveno.* Por
outro lado, sua inferioridade tambm aceita e reafirmada na
medida em que o negro representa uma raa despojada de
privilgios, socialmente desprezada e estigmatizada. O negro
sucumbe ao branco na medida em que carrega o estigma de sua
cor. O autor umbandista Lourenco Braga, por exemplo, nega com
veem8ncia a inferioridade dos pretos-velhos enquanto espritos, mas
parece compartilhar das "evidencia" largamente difundidas no senso
comum, que apontam para a inferioridade do negro enquanto raa:
Mas eu pergunto: ter virtudes privilegio de uma s
raa?... Os africanos podem ter evoludo moralmente,
atravs de seus sofrimentos, e terem se tornado virtuosos. E
necessrio no confundir luz intelectual com a luz que
provem da evoluo espiritual, bem diferentes uma da outra.'
Por que se o negro inferior pela sua raa, j a alma, ela tido
tem cor; as qualidades do esprito ou as virtudes do corao podem
ser democraticamente distribudas entre todos os homens.
O trecho supracitado ilustra, a nosso ver, de maneira exemplar
as contradies inerentes a uma religio que oscila permanente-
mente entre o desejo de reconhecimento social que implica num
branqueamento de valores e a necessidade de afirmao dos
valores que dizem respeito a grupos sociais subalternos. Os estere-
tipos que a sociedade abrangente criou para o negro um ente
preguioso, beberro, sensual ou ladro
17
-
acaba enredando o
homem de cor nas malhas de uma cilada sutil: querendo responder
as criticas lanadas contra sua rata, o negro se v obrigado a
demonstrar sua capacidade de assimilao a civilizaro ocidental em
detrimento dos lagos de lealdade que o ligam a sua tradio
* Vrios relatos de chefes de terreiro ilustram esse
aspecto. Temos por exemplo o caso do seu Jos, um mulato forte,
motorista de profisso, que recebe o preto-velho Tio Antonio. Seu Jos
conta que uma vez um rico fazendeiro do interior de Minas Gerais "danou a
perder", por uma serie de coincidncias nefastas, todas as suas colheitas.
Desesperado, pediu a interveno de Tio Antonio. Em pouco tempo
recuperou completamente seus haveres, e eternamente grato, fez uma
vultosa doao ao centro. At hoje, conta ainda seu Jos, ele volta l para levar
presente.
201
ancestral. Na verdade o negro no pode afirmar-se enquanto negro
e ser socialmente aceito. Para ser aceito o negro precisa ascender
socialmente, e o nico caminho que o leva nessa direo o caminho
da honorabilidade e da instruo. E nesse sentido, parece-nos, que as
afirmaes de Lourenco Braga devem ser compreendidas: quando
diz que o negro pode evoluir moralmente, o autor esta reiterando
a veracidade do esteretipo negro = ladro; quando distingue luz
intelectual e luz espiritual, esta corroborando a inferioridade racial
do negro e apontando como nico caminho de sua redeno (a
elevao espiritual) a negao de sua cultura e de sua cor, condies
sine qua non da virtude.
O umbandista A. Fontenelle, mulato que empenhou grande
parte de sua vida na valorizao e no reconhecimento social de sua
religio, deixa entrever em seus livros essa mesma ambivalncia:
Apesar de ter um principio africano, cuja principal sede
foi o Estado da Bahia, devido a grande influncia dos negros,
foge a umbanda em grande parte de seu ritmo africano para
dedicar-se nica e exclusivamente a prtica do Bem, procuran-
do no aperfeioamento melhores desgnios.18
No muito difcil perceber como esse jogo oscilante entre a
aceitao e a rejeio que caracteriza as relaes dos plos branco/
negro encontra suas razes no processo social recente da integrao
do negro, enquanto trabalhador e intelectual, na estrutura de classes
do capitalismo brasileiro emergente. Roger Bastei, ao analisar a
imprensa dos homens de cor e os movimentos polticos por eles
desencadeados nos anos 30, chama a ateno para a existncia nesses
movimentos das mesmas ambivalncias e contradies que pudemos
observar nas representaes simblicas religiosas.* Na verdade as
formas msticas traduzem numa linguagem religiosa os mesmos
conflitos que se expressam na linguagem poltica quando se tenta
aliar o protesto de uma raa ao seu reconhecimento social.
No processo econmico e poltico que leva o Brasil de um
sistema colonial para uma sociedade capitalista cada vez mais
urbanizada e industrializada, a insero do negro nessa sociedade
* A mesma ambivalncia pode ser reencontrada na poesia
negra. Ver BASTIDE, R., "A Poesia Afro-Brasileira", in "Estudos Afro-
Brasileiros", Perspectiva, 1973, p. 182.
202
em mudana surge para ele como um problema de difcil equao.
A vida nas cidades, a escolarizao, a integrao na fora de tra-
balho fabril, tem sobre o negro um efeito duplo: por um lado o
integra, ainda que marginalmente, ao resto da populao do pais,
e por outro o faz tomar conscincia de sua miservel condio
social, da distancia entre as possibilidades tericas de ascenso e
seu baixo status de semiproletariado, agravado pela existncia de
discriminaes raciais que o aniquilam.
I9
Mas os movimentos
polticos negros tem histria recente. Somente na dcada de 30
os movimentos negros abandonam seus contornos de associaes
recreativas e tomam cores mais polticas: as reivindicaes e o
protesto racial aliam-se nesse momento a uma participao cada
vez mais ativa dos homens de cor na formao do Estado
Novo. Nesse perodo nasce a "Frente Negra", movimento que tem
como objetivos a luta contra os preconceitos de cor e a criao
de um partido poltico negro.2
A imprensa de cor nasce como uma tribuna de protesto contra
as discriminaes raciais de que o negro vitima. "Guardando no
fundo de sua alma a lembrana amarga de sculos de escravido",
observa Bastide, "o preto levado a sentir numa palavra ou num
gesto o tom de superioridade ou de desprezo com relao a ele." 21
E ela revela, nas representaes que o preto faz de sua pr6pria cor,
a mesma ambivalncia que observamos no universo religioso: o mes-
mo processo de exaltao e dissimulao da cor preta que
havamos percebido na organizao do universo religioso
umbandista esta presente, como mostra Bastide, nas colunas dos
jornais. Por um lado, o negro aceita o j uzo desfavorvel que
o branco fez de sua honorabilidade e retido nesse sentido
ele mesmo passa a construir um discurso puritano e moral que
tenta dissimular sua ancestralidade africana e que desemboca num
repdio das antigas tradies. Por outro lado, ao perceber que o
servilismo no torna igual ao branco, volta a afirmao e a
exaltao de sua negritude, tentando pelo enfrentamento e
autoconfiana conquistar o lugar social que julga merecer. 8
interessante nesse sentido perceber a homologia existente entre
opinies e artigos veiculados pelo jornal negro A Voz da Raa e,
por exemplo, pela revista umbandista Mironga, editada sob a
responsabilidade do negro Tata Tancredo da Silva Pinto:
preciso acabar com os ajuntamentos de don-juans sem escrpulos
de rodinhas de incomportados. E necessrio extin-
203
guir esses focos de obscenidades que provocam as cenas mais
escandalosas; esse misturar de homens e mulheres sem a
mnima sombra de pudor, sem nenhuma compostura. l
urgente acabar com esse relaxamento que depae contra os
nossos foros de rata progressista. E imprescindvel uma
reforma nos costumes, gestos.22
Recentemente tive conhecimento de que num terreiro
ocorreu o fato de uma mulher haver recebido uma pomba -
gira (mistificada), ficando completamente despida no interior
do terreiro,, proferindo os piores palavres. Talvez se tratasse
de toxicmanos, e preciso alertar os dirigentes dos terreiros
para que enxergam rigorosa fiscalizao no recinto dos
trabalhos. O que necessitamos que as pessoas zelem pelo
culto e pela moral nos terreiros, no permitindo acessos de
elementos estranhos e nocivos a coletividade, a fim de evitar
distrbios e suas conseqncias.23
Ou ainda sobre o problema do lcool e dos atabaques:
Em maio de 1933 protestamos contra o costume dos fes -
teiros de institurem o samba e o batuque a porta das igrejas.
Hoje registramos, com prazer, que as festas de So Benedito,
em Sorocaba, decorrem com grande brilho e animado, sem
samba, batuque e cachaa.24
Um chefe de terreiro, em eptese alguma, para que de
fato como tal possa ser considerado, dever ser individuo
que no seja nem possa ser encontrado bebericando em bote-
quins ou tendinhas, tresandando a cachaa.25
Outro elemento interessante presente nas representaes de si
mesmo que o negro elabora na imprensa negra o fenmeno do
mulatismo. O mulato um ser ambivalente por natureza: ao
mesmo tempo branco e negro. Enquanto tal, ele coloca um problema
espinhoso para o negro: o da mistura de sangues. O mulato, pela sua
existncia, corrobora pelo menos a verossimilhana da teoria do
embranqueci mento:* ele permite pensar que o movimento de amal-
* A teoria do "branqueamento" aceita pela mai or parte da
elite brasil eira nos anos que vo de 1889 a 1914, baseava-se na suposio da
superioridade
204
gamao das trs raas seja uma soluo original para o conflito
racial o mulato a "prova viva" de que possvel diluir o
sangue negro nas veias da nao e construir a "democracia racial"
pela mistura das raas.
27
Os pr6prios negros e mulatos interiorizam
a ideologia do embranqueci mento e procuram casamentos
inter-raciais com o intuito de "limpar a raa".
28
No entanto
torna-se evidente que essa poltica de embranqueci mento se da
em detrimento do pr pio negro, tanto do ponto de vista econmico
quanto do ponto de vista cultural. O processo de arianizao do
pais se fez no Brasil pelo apelo aos estrangeiros e pelo
conseqente abandono da gente de cor.
29
A poltica do
mulatismo portanto uma poltica suicida para o negro.
Articulistas como Arlindo dos Santos, por exemplo, chamam a
ateno para esse fato afirmando que o caminho da afirmao da
raa negra s pode ser o da afirmao e da preservao da cultura
tradicional.3
Vemos portanto que a raa e os valores negros constituem o
fulcro de um movimento pendular ora tendendo para a exaltao
da raa e a preservao dos valores, ora tendendo na direo da
assimilao, da mistura dos sangues e das culturas, no caminho
inverso da formao de uma conscincia de cor.
31
Parece-nos que o
elemento negro presente na simbologia umbandista retoma numa
linguagem religiosa esse duplo movimento contraditrio.
Este pequeno detour pelas colunas de imprensa de cor dos
anos 30 nos permite perceber o quo vivos e atuais esto esses
temas nas representaes religiosas umbandistas. Sabemos que, de
certa forma, a umbanda se constitui como uma nova forma de afir -
mao, numa sociedade em processo de modernizao, das tradies
negras.* Mas por outro lado uma religio cada vez mais assumida
pelos brancos que, provenientes de camadas medias da populao,
tendem a "purific-la", reinterpretando-a segundo seus prprios
cnones: "A umbanda a valorizao da macumba atravs do
espiritismo", observa O. Magno.
33
Nesse sentido podemos afirmar
da raa branca sobre a negra, por um lado, e por outro na
crena de que a miscigenao levaria "naturalmente" a um Brasil mais
branco, "em parte porque o nen branco era mai s f orte e em part e
porque as pessoas procurassem parceiros mais claros do que eles".26
* Ver o art i go de R. Bast i de sobre a " Macumba Paul i st a" onde o aut or
mostra como as tradies africanas, em seu processo de metamorfose, acabam
engendrando o "baixo espiritismo" ou o "espiritismo de umbanda".32
205
que o universo das representaes religiosas traduz as mesmas
ambivalncias e contradies que esto presentes nas imagens pro-
duzidas pela imprensa de cor; mas h aqui uma pequena diferena:
enquanto a negritude da pele indelvel, a negritude da alma
apenas um momento transitrio da evoluo espiritual. Se a ideo-
logia do embranqueci mento "falhou" em sua tentativa de instaurar
a democracia racial, o universo religioso reconstri, no mito, a igual-
dade entre as raas. Tudo se passa como se a nvel da simbologia
religiosa o impasse no qual desembocavam as lutas polticas dos
negros pudesse ser superado. E no entanto as mesmas contradies
prevalecem, a mesma oscilao entre a igualdade racial e a supre-
macia do branco, entre a valorizao do negro e as tendncias para
a assimilao. Vejamos de maneira mais detalhada como isso se da
a nvel da organizao dos smbolos religiosas.
A lgica que preside a organizao do universo religioso umban-
dista a lgica da ascenso espiritual. No entanto, ainda que teori -
camente todas as entidades possam evoluir, a l gica da ascenso
espiritual no pode ser absoluta. E isso porque a evoluo espiritual
de todas as entidades, sobretudo dos exus, suprimiria a hierarquia
espiritual existente e, consequentemente, poria em risco a ordem do
universo. A existncia do "mundo das trevas", do mundo dos exus
e das pombas-giras, fundamental para a existncia do "mundo
das luzes". Se esses dois universos se opem pela sua natureza, eles
permanecem intimamente ligados, uma vez que um existe em funo
do outro: o Bem s o na medida em que tem como meta combater
o Mal; este, por sua vez, s ganha sentido sendo a inver so de
uma ordem definida enquanto Bem.
Alm de uma organizao hierarquizada das raas onde o
branco ocupa o lugar mais elevado da evoluo espiritual (pelo
menos na medida em que o caboclo mais prximo do branco
hierarquicamente superior ao negro, e na medida em que
Oxal, deus supremo negro, progressivamente "embranquecido" pela sua
associao com Jesus Cristo) e o negro (pretos-velhos)*
e R. Bastide chama a ateno para o fato de que, durante o
perodo colonial, os portugueses brancos procuraram muitas vezes cana
1
izar
a agressividade do negro contra o ndio. "O Quilombo de Palmares, refugio
dos negros marros de Alagoas, s pde ser vencido com a chegada macia dos
ndios e dos mamelucos de Domingos Jorge Velho e, a partir dessa vit ria,
um espetculo folclrico, sempre representado na regio, mostra os negros
206
os limites inferiores dessa escala, a oscilao entre a tendncia L
valorizao do elemento negro e a assimilao deste pelo branco
pode ser observada de maneira mais evidente na caracterizao do
esteretipo dos exus.
Exu na verdade a nica entidade oriunda do panteo africano
tradicional ainda cultuada na umbanda que conserva mais ou menos
suas caractersticas originais. "Exu o que resta de negro, de afro-
brasileiro, de `tradicional' na `moderna' sociedade brasileira", obser -
va R. Ortiz.
36
No nos cabe analisar aqui o porque dessas
permanncia nem como ela se da. historicamente.
37
O que nos
parece no entanto importante observar a esse respeito que a
recuperao desse orix africano pelo universo religioso umbandista se
faz numa perspectiva de dupla subordinao:
o elemento negro conservado enquanto tal mas ao mesmo
tempo e colocado em posi o de subordinao ao elemento
branco, no ponto mais baixo da escala de evoluo espiritual,
ou at mesmo marginal a ela;
o elemento negro tradicional recuperado e reinterpretado na
medida em que refora e se mantm em continuidade com os
estereotipos e as representaes do homem negro presente de
maneira mais ou menos difusa na sociedade mais abrangente.
As representaes coletivas embutidas na construo da perso-
nagem dos exus dizem respeito a imagem social de um negro que
no se conformou em seu passado com a ordem escravocrata instau-
r ada pelo br anco. Exu, o "negro mau", a i magem do negr o
insubmisso, do negro criminoso e ladro (quando visto do ponto
de vista dos esteretipos do branco mas tambm assumidos pelos
prprios negros); e justamente porque insubmisso, exu representa o
negro livre, negro quilombola, no-domesticado, que Babe tirar pro-
veito das situaes mesmo quando elas lhe so desfavorveis. E
aqui se faz a associao de exu com o esteretipo do "malandro",
aprisionados pelos ndios e vendidos aos brancos."
34
Por
outro lado o mito do ndio corajoso e livre criado pelo romantismo
brasileiro expandiu-se rapidamente por todas as camadas da populao,
tornando-se um "bem nacional" comum a toda sociedade. "Trazer no
sangue uma gota de sangue amerndio", observa Bastide, "tornou-se titulo
de gloria, enquanto possuir um pouquinho de sangue negro era um titulo de
infmia." Os prprios mulatos procuravam ento fazer-se passar por
descendentes de ndios. Na oposio caboclo/negro, este ltimo ocupava uma
posio de inferioridade.35
207
tipo social que se caracteriza pela ast6cia com que utiliza, em
proveito pr6prio, artimanhas mais ou menos ilcitas. Vejamos por
exemplo como essa associao se da no depoimento de um infor-
mante:
Z Pelintra (exu) era um pernambucano, era de Recife.
Z Pelintra nascido em Recife . . . ento ele comeou a rou-
bar muito, furtar e tudo, ele era malandro, n. Uns tempos
ele foi pro Rio, morou em favela, roubava muito, n . Ento
ele um certo dia . . . assim eles conta . . . que ele is muito em
cabar: tava num cabar danando, uma mulher que ele gos-
tava dela viu ele dana com a outra, matou ele por trs das
costas. Assassinou ele (mdium garom).
No se pode deixar de observar que o adepto fala de seu exu
aqui com grande respeito e admirao. Se ele "mau" porque
rouba e mata, so essas mesmas caractersticas que fazem dele um
valente, um homem que merece respeito na medida em que capaz
de enfrentar, por sua prpria conta e risco, condies que lhe so
adversas a necessidade da migrao, a pobreza, a vida na favela
e, no limite, a prpria morte.
A relao existente entre essas representaes de exu e a
natureza da insero social das camadas populares e particularmen-
te dos negros bastante evidente. As analises de Florestan Fernan-
des, por exemplo, mostram como no processo de desintegrao da
ordem escravocrata o negro liberto encontra obstculos
intransponveis que impedem sua integrao imediata na sociedade
competitiva emergente. A vinda de imigrantes europeus que
rapidamente ocupam as possibilidades existentes num mercado de
trabalho ainda incipiente, o processo de urbanizao crescente que
leva as famlias e seus descendentes pobres para as cidades, a
relativa estagnao econmica de regies como o Norte e o Nordeste,
que obriga a migrao, so fatores que contribuem para converter
negros e mulatos num setor marginal da populao urbana e num
subproletariado parcialmente excludo do fluxo vital do
crescimento econmico.38 Portanto a opo com que se depara o
negro que se concentra nas cidades a opo do desemprego, do
parasitismo social, da vida nas favelas. "Eliminando o 'escravo'
pela mudana social, o 'negro' se converteu num resduo social.
Perdeu a condio social que adquirira no regime de escravido e
foi relegado, como 'negro', a categoria mais baixa da populao
pobre, no momento exato em que
208
alguns de seus setores partilhavam das oportunidades franqueadas
pelo trabalho livre e pela constituio de uma classe operaria
assalariada."
39
E evidentemente essa situao de classe que esta
na base do esteretipo "negro bbado, violento ou vagabundo".
Os homens de cor expulsos das profisses mais consideradas tem
de sujeitar-se aos "servios de negro". O que prevalece para eles
a instabilidade do emprego e a necessidade de se viver "de expe -
dientes".
4
Nesse sentido, aqueles que no queriam sujeitar -se a
humilhao e ao lento suplicio dos "servios de negro" tinham
diante de si como nica opo possvel a "necessidade" de trilhar
os caminhos do "vicio" ou do crime. O "negro ordeiro", trabalha -
dor paciente e conformado, escolhe para si um triste destino e no
tem como transform-lo. J o "vagabundo", a prostituta ou o ladro
podem, subvertendo as regras do jogo social, alcanar rapidamente
uma posio comparativamente melhor.
41
"O vagabundo contumaz
que explorasse uma, duas ou mais amantes e praticasse r oubos
ocasionais e, principalmente, o ladro professional levavam `vida
de macho', tinham sempre dinheiro no bolso e conseguiam, num
`golpe de sorte', o que os companheiros `ordeiros' mas `trouxas' no
ganhavam durante anos de trabalho afrontoso e, as vezes, at no
decorrer de uma vida de rduas privaes."
42
Assim, afrontar o
c6digo tico da sociedade inclusiva constitui -se para o negro numa
maneira de superar o cerco invisvel que lhe imposto ao ter que
responder a necessidade contraditria de, por um lado, romper com a
herana scio-cultural da senzala para ser aceito, e, por outro,
reagir as barreiras que se opem as possibilidades de integrao na
vida urbana. Nesse jogo de cartas marcadas o 'marginal' e o `crimi-
noso' aparecem como `gente de sucesso', com destino prpio se
no como autnticos heris, pelo menos como algum, como
pessoa que escapa, por seus mritos individuais, a mediocridade
arrasadora da sina comum." 43
Exu inegavelmente a reconstruo mitolgica desse her6i.
Por isso, quando passamos do discurso "teolgico", que o associa
ao demnio, para as representaes dos fieis, exu no se caracteriza
como sendo nem bom nem mau: ao mesmo tempo que prejudica,
sabe ajudar. Os adeptos o percebem, pois, como uma entidade ambi-
valente que para fazer o bem toma muitas vezes os atalhos do mal:
Meu exu meio caboclo, certo? Ele metade, metade.
Mais ou menos: ele no nem caboclo com muita luz, nem
exu com pouca luz (mdium tcnico).
209
No, exu no mau. Meu exu bom. Porque muito
difcil trabalhar com eles. S trabalha com eles quando vai
fazer uma coisa ruim que to feita pros outros, n? (mdium
domstica).
(Exu) um esprito atrasado. Esprito de pessoas
miserveis ... ele nunca foi bom, mas tambm nunca foi
mau. Exu ajuda e protege a gente."
A verdadeira fora de exu reside portanto no fato de que
somente ele capaz de lutar contra o mal com as mesmas armas e
dentro de seu prpio campo. Os espritos de luz no podem
"manchar as mos" em aes duvidosas nem praticar atos que
"maculem a perfeio de suas almas".45
Toda vez que precisa realizar um trabalho, que vai pre-
cisar entrar em certos lugares nao muito convenientes, bares ..
. o caboclo no vai entra, n, numa zona de meretrcio!
Ento as entidades trazem exu, comandado, dirigido por
elas, pra fazer aquilo (freqentadora dona-de-casa).
Os espritos de luz precisam de mandatrios; precisam de enti-
dades que saibam utilizar os mesmos princpios que combatem;
precisam de "feitores" que aceitem fazer o "servio de negro".46
Essa colocao nos permite perceber como a noo de Mal na
verdade contraditria e vaga. Por um lado os exus combatem o mal
assim definido pelos adeptos que lhe trazem os pedidos: nesse
sentido o mal se constitui nos obstculos que se antepem a satis-
fao das necessidades cotidianas assim definidas pelos demandan-
tes. Somente uma entidade que trabalha, digamos, de maneira "tor-
tuosa", capaz de resolver problemas advindos da prpria lgica
do funcionamento social: somente o malandro capaz de entender
e "dar um jeito", ainda que simblico, para sanar problemas de
desemprego ou questes amorosas. Estamos aqui diante do mes-
mo problema que se colocava para o negro egresso do sistema de
escravido. O mal aqui esta portanto inscrito na pr6pria lgica do
funcionamento social. Mas a causa explicativa desses obstculos,
desse mal, so as foras malignas que povoam o universo, os maus
fluidos, os obsessores, os exus "pagos". So eles que introduzem
o caos na organizao do universo, so eles que "atrapalham" a
vida das pessoas, uma vez que para fazer o bem exu "acerta a
210
vida de um e entorta a de outro". A defi ni o de mal desliza
portanto da noo de obstculo para a noo de desordem. Nesse
sentido, para combater os obstculos que afligem a vida dos fieis
os exus tem que lutar contra si mesmos ou pelo menos contra foras
equivalentes. Mas para que essa luta sem quartel no acabe pondo
em questo a prpria ordem das coisas e no desemboque no caos
generalizado, os exus devem subjugar-se a autoridade das foras de
luz: eles devem ser "batizados" e trabalhar para o bem. E aqui
o circulo fecha-se novamente, uma vez que "trabalhar para o bem"
significa ao mesmo tempo manter a lgica que preside a organizao
social e subverter as suas leis para que os problemas que se colocam
para cada um em particular possam ser sanados.
A fora dos exus reside portanto na possibilidade, sempre
presente, que essas entidades tem de agir no sentido da "subvers o
da ordem natural das coisas", propondo solues para os proble-
mas cotidianos nem sempre condizentes com a tica e os valores
da sociedade inclusiva. Porque pertencem ao escalo mais baixo do
desenvolvimento espiritual e sobretudo porque as vias de ascens o
social esto para eles de antemo bloqueadas, os exus podem permi -
tir-se trilhar atalhos que levem ao xito com maior eficcia do que
aqueles pautados na l gica da "caridade" do "conformismo" e
da "humildade." *
No foi portanto por acaso que a mitologia umbandista conservou
Exu em seu panteo. Melhor do qualquer outra entidade africana,
exu foi capaz de cristalizar as contradi es que caracterizam as
relaes de cor e de classe em nossa sociedade. Sendo um deus
oriundo da tradio africana, representa a preservao
Segundo Roger Bastide, a divindade africana Exu ou
Legba est ligada, tanto na Nigeria quando no Daom, ao culto divinatrio
de Ifa. Ele a um deus do destino, individual e comum, pertencendo
portanto ao sacerdcio mais elevado: o dos babalas. Esse aspecto
divinatrio de Exu permaneceu nos candombls baianos sendo revivido nos
jogos de bzios. Um segundo aspecto do Exu africano que permaneceu no
Brasil foi seu carter flico
e malicioso. Esses traos facilitaram sua aproximao posterior com o demnio
catlico, embora o Exu seja na frica uma divindade amoral. Exu,
apesar de ser considerado irmo dos outros orixs, Ogum, Xang, Oxossi,
todos sados do ventre incestuoso de Iemanj, no um orix como os
outros e desempenha no panteo africano funes muito especificas: ele
ao mesmo tempo mensageiro dos deuses, o guardio das passagens e regu-
lador do cosmo.47
211
e a aceitao da cultura negra pelo branco. Mas justamente por
ser um deus negro ele ocupa na hierarquia espiritual o mesmo
lugar que lhe toca na organizao social. A linha de cor se confunde
aqui com a linha de classe; nesse sentido o esteretipo de exu
cristaliza todas as representaes contraditrias que os adeptos tem
de si prprios. E al reside justamente a importncia que essa enti-
dade adquire no culto: por ser imperfeita e impura, pela sua proxi -
midade com o mundo dos homens, os exus so, na verdade a encar-
nao mtica desses grupos sociais abandonados pela sorte e margi -
nalizados pela sociedade.
O Exu pretinho que se manifesta em mim conta uma
informante, num depoimento recolhido por L. Trindade
era um menino pretinho, que foi criana deixada pela me,
foi criado assim, um dia com uma pessoa cuidando, outro dia
com outra. Igual eu mesmo, minha vida foi assim.48
A identificao do fiel com o prpio personagem aqui evi-
dente. Exu portanto a projeo espiritual do que eles mesmos
so, de suas dificuldades, do que desejam e no podem obter, do
que vivem e sofrem no seu dia-a-dia de trabalhadores ou desem-
pregados. Nas conversas com nossos entrevistados, inmeras vezes
surgiram referncias as "condies miserveis" em que eles viviam
antes de morrer, as injustias que sofreram, ao seu carter "revol-
tado" que procura no lcool um desafogo momentneo. E por tudo
isso os exus tornaram-se, quando na vida, arruaceiros, bandidos e
ladres, o que os levou invariavelmente a ter sua curta e atribulada
existncia interrompida por uma morte violenta e precoce.
A condio de classe e de cor so caracteristicas freqentes
nos depoimentos:
Maria Padilha foi mulher, dona de cabar. Era mulher
muito elegante, procurada por doutores da alta sociedade. Era
muito ma tambm, muito ruim. Brigadeira. A casa dela pegou
fogo, morreu queimada (mdium garom).
A entidade que eu gosto, mesmo, que a mais forte, do
exu Tranca-Ruas. Assim... ele homem, um homem mes -
mo. S que ele e preto, preto. Os olhos pretinho e vermelho
(mdium domstica).
212
Liana Trindade obrem depoimentos muito semelhantes nos
terreiros de So Paulo:
"Exus foram bbados, doentes, com fome . .." "Exu foi
uma espcie de 26' ou ' Silva' na Terra." "Exu no evolui,
como uma camada social que temos aqui, exu sempre exu." 49
Esses depoimentos tornam evidente o fato de que os exus
constituem uma espcie de "retrato", de "descri o condensada"
das condies de vida das populaes mais desfavorecidas da socie-
dade inclusiva. Esse o mundo caracterizado como "Mal" pelo
pensamento dominante (leigo ou religioso), esse
.
o mundo de
onde pode advir a desordem e o caos. O "Bem" nada mais por-
tanto do que o controle e a domesticao desses "setores marginais".
Vemos portanto que o discurso "teolgico" umbandista trabalha
no sentido de associar a dicotomia branco/negro a polaridade
correspondente bem/mal. O mundo do branco o mundo do Bem,
da ordem, da luz, e o mundo do negro fica relegado a esfera do
Mal, da desordem, da escurido e das trevas. Essas associaes
entre as linhas de cor e de classe e a dicotomia bem/mal aparecem
de maneira bem evidente no texto de Fontenelle:
A umbanda, que no meu entender a religio que mais
benefcios tem prestado a coletividade, uma vez que, sendo
ela mais procurada, no s por elementos das mais altas cama-
das sociais como tambm pela plebe em geral, como seus pra-
ticantes, na sua maioria, pertencentes a classe media, tem estes
procurado soergue-la e eleva-la no conceito de todos, tendo
em vista o elevado grau de adiantamento e o progresso cada
vez mais crescente que vem se notando nessa seita, atravs
dos anos ( . ) . Sendo a umbanda pr ofessada hoj e em di a
por indivduos de uma certa cultura, o mesmo no se passa
na quimbanda, pois os seus crentes e professantes, na maioria
de raa negra, procuram nos seus rituais interpretar as danas
e prticas outrora criadas pelos povos africanos ( . ..). A
grande diferena entre as duas que a umbanda s prtica o
Bem e a quimbanda visa a prtica do Ma1.5
Mas esses dois domnios, a umbanda e a quimbanda, no so,
no seu interior, homogneos. No mundo hierarquizado do Bem,
temos as cinco linhas superiores onde trabalham os espritos de
213
caboclos, a sexta linha onde trabalham as crianas e a stima linha,
menos desenvolvida a linha africana onde trabalham os pre-
tos-velhos, seres bons, mas humildes e inferiores, que pela sua pro-
ximidade com o mundo subalterno das trevas muitas vezes se con-
fundem com ele. Essa subalternidade do elemento negro no interior
do prpio domnio do bem pode ser ilustrada atravs de comparao
que o umbandista Antonio Teixeira estabelece entre a hierarquia
espiritual e as hierarquias sociais:
Em uma firma comercial diz ele existem, como
sabemos, alm do dono ou donos, os chefes das diferentes
sees, e, em cada uma dessas, empregados diversos com
funes diversas. No ser admissvel, claro, possa o
contador da firma agir como servente, e desta forma
incumbir-se da limpeza ou varredura das diferentes
dependncias da firma. Por outro lado, tambm o inverso ser
inaceitvel. Do mesmo modo, podemos dizer, se processam em
um terreiro os diferentes trabalhos: aos caboclos cabe
propriamente dita a responsabilidade maior. Representam eles
a energia. Aos pretos-velhos, por seu turno, compete a firmeza ou
a segurana necessria e indispensvel a realizao dos trabalhos.
So eles, esses humildes pretos-velhos, que com sua modstia e
simplicidade firmam o terreiro, e com suas mandingas, suas
cachimbadas, seus resmungos, seus palavres, que
conseguem cumprir sua obrigao.51
Neste exemplo, cada ser ocupa um lugar determinado na hie-
rarquia das funes, relativo ao seu desenvolvimento "cultural" (ou
superioridade de classe no caso da firma) ou ao seu desenvolvi-
mento "espiritual" (no caso do campo religioso). Os caboclos situam
se nessa hierarquia nos lugares de maior desenvolvimento espiritual,
de maior responsabilidade, enquanto que os pretos -velhos, "com
seus resmungos e palavres", esto muito pr6ximos da espirituali-
dade mais baixa (dos exus), tornando-se guardadores indispensveis
das passagens entre esses dois mundos.
Tampouco no mundo desordenado e catico do mal os exus
ocupam, todos, os mesmos nveis de espiritualidade (ou no-espiri-
tualidade). Muitos autores procuram organizar para a quimbanda
uma hierarquia homloga e inversa a da umbanda, classificando a
multido dos exus em sete grandes linhas. Encontram-se, de modo
geral, no topo dessa hierarquia, os exus mais pr6ximos do Bem,
isto , aqueles que aceitam submeter-se as leis que organizam o
214
mundo da luz, trabalhando como "servidores dos orixs" so
esses os que alguns autores chamam de "exus batizados." *
Omulu o chefe espiritual da linha das almas afirma
Berzelius fazendo parte unicamente da quimbanda, pois a
ele pertence integralmente a Linha das Almas. No entanto, em
certos casos, convidado a tomar parte em trabalhos de magia
na l ei de umbanda. I st o no quer di zer que Omul u, que
comanda uma legio de maus espritos, seja tamb6m mau.
Pelo contrario, essa entidade considerada como um dos mais
fortes orixs dos diversos pianos espirituais. Podemos compa-
rar seu trabalho no comando da Linha das Almas ao trabalho
de um diretor de presdio que, no sendo em absoluto um
criminoso, dirige, orienta e recupera aqueles que o so.54
Nesse texto pode-se perceber que, embora relegados as esferas inferiores
da espiritualidade, os exus so na verdade seres extremamente
ambivalentes, pois retiram sua fora de sua proximidade com a
desordem. Quando se passa do discurso teol gico para o que
acontece no dia-a-dia dos terreiros, essa ambigidade assume contor-
nos mais ntidos, desarrumando essa hierarquia espiritual to bem
montada. Justamente na medida em que os exus encarnam mitica-
mente a possibilidade de rebelio, de inverso da ordem do mundo,
eles so muitssimo valorizados e queridos pelos adeptos (o que
no acontece com os autores citados, ou pelo menos de maneira
mais discreta, uma vez que eles procuram adequar a "necessidade
do trabalho com os exus" para o rito religioso aos valores da
sociedade abrangente). O universo dos smbolos religiosos, ao des-
crever a constituio contraditria da organizao social, ao reela-
borar em termos mticos a hierarquia social, a dominao de classe e
de cor, os conflitos de valores, oferece ao adepto uma linguagem
* R. Hortas pe em evidncia, ao descrever o movimento
gradativo de expulso de Exu para o mundo das trevas, da quimbanda,
esse processo de "neutralizao da revolta negra" pela subdiviso do reino
do mal em dois antitticos: o mundo dos exus pagos e o dos exus
batizados.52 Os exus pagos compem a regio "marginal da
espiritualidade, trabalhando na magia do mal e para o mal". Os exus
batizados trabalham dentro do reino das trevas, mas para o bem. "Os
exus batizados trabalham para o bem por serem foras que ainda se
ajustam ao meio, nele podendo intervir, como um policial que penetra nos
antros da marginalidade." 53
215
cognitiva da organizao social desse mundo. Mas no momento em
que ele opera, pela celebrao ritual, essas contradies, a partir
de seus problemas pessoais, o adepto "reconstri" essa ordenao
a partir de pertinncias tais como sua histria de vida, suas
preferncias, a natureza de seus problemas, etc., e refaz o texto
mtico de maneira a adequ-lo a suas necessidades pessoais. E
nesse momento que se abre a possibilidade de uma inverso dos
valores socialmente aceitos. So essas questes que procuraremos
desenvolver mais adiante no texto referente ao processo da demanda.
Passemos agora a anlise de uma segunda polaridade impor -
tante, que tambm permeia todo o texto do universo religioso, tradu-
zindo tenses presentes no jogo das relaes sociais: o masculino e
o feminino.
216
2.
O MASCULINO E O FEMININO
A COSMOLOGIA UMBANDISTA encontra na dualidade
masculino/feminino um segundo fulcro dinmico importante para
a reinterpretao das relaes sociais. As diferentes categorias
mitolgicas caboclos, pretos-velhos, exus e crianas se
definem e se organizam em torno dessa dualidade. Cada um desses
quadros de entidades se distribuem em elementos masculinos e
femininos que variam em importncia e significao. No entanto
pode-se dizer que, de um modo geral, as divindades femininas
ocupam, no interior do panteo religioso, um lugar subalterno
quando comparadas a seus equivalentes masculinos, retraduzindo
simbolicamente no piano espiritual a hierarquia que, no piano social,
organiza a relao entre os sexos.
Se tomarmos em seu conjunto as figuras femi ninas retratadas
no universo simblico religioso veremos delinear-se, em funo de
cada categoria de esprito, quatro esteretipos bem diferenciados:
o estere6tico da jovem virgem representado pelas caboclas;
o esteretipo da me representado por Iemanj;
o esteretipo da me preta representado pelas pretas-velhas;
o esteretipo da prostituta representado pelas pombas-giras.*
* Deixaremos de lado nesta analise a figura das
"crianas" posto que, apesar de tambm comportarem a dualidade
masculino/feminino, ela no adquire a mesma importncia que os esteretipos
representativos das outras entidades. As crianas so seres "assexuados", no
sentido de que no esto ainda inteiramente socializadas para ocuparem as
posies sociais que se destinam a cada sexo. Elas permanecem pois
"aqum" dessas contradies, no interessando portanto diretamente a nossa
analise.
217
A categoria dos caboclos em sua imagem feminina as cabo-
clas retrata a imagem da mulher jovem, bela, desejvel, mas pura.
Ainda que ela seja representada como uma jovem ndia, vivendo na
liberdade das florestas, as caboclas nada tem de "selvagens", nem
sua sexualidade de mulher jovem deixada livre, ao sabor das
necessidades naturais. Ao contrari o, as imagens que a descrevem
reeditam nos terreiros a figura lendria de Iracema "a virgem
dos lbios de mel" criada por Jos de Alencar. A beleza e a
pureza fazem parte essencial de seus atributos. Os pontos canta -
dos * em sua homenagem ressaltam seus traos caractersticos:
Ponto da Cabocla Jacira
Na fonte da gua cristalina,
Uma bela cabocla se mira
dos cabelos correm perolas douradas
T na gira a cabocla Jacira.
Ponto da Cabocla Jupira
Acaba de chegar a linda cabocla menina
Mas ela tem a beleza que encanta
O olhar de uma Santa
Que nos encanta,
Jupira, linda cabocla menina
E portadora de uma mensagem divina
Ela , ela , ela
A menina dos olhos do cacique Aimor.
Jurema, alm de ser o nome mais comum que recebem as
caboclas, tambm representa a prpria floresta (a mata virgem),
habitat natural e sagrado onde vivem os caboclos:
Ponto do Caboclo Arranca Toco
Seu Arranca Toco coroou
Seu Tupi l na jurema
* Os exemplos aqui utilizados foram obtidos a partir de
um conjunto de mais ou menos 4.000 pontos cantados compilados por vrios
umbandistas, reproduzindo os cantos utilizados em inmeras lendas de
umbanda no Rio de Janeiro, So Paulo e outros Estados.55
218
Neste dia l nas matas
Foi um grande dia de festa
Todos os caboclos se enfeitaram
Com as folhas da jurema.
Ponto do Caboclo Mata Virgem
Mata Virgem caboclo
E tem penas
Mora na jurema
Sarav o cong.
Mas o que nos parece importante ressaltar que as caboclas
ocupam um lugar extremamente secundrio no culto quando compa-
radas a seus equivalentes masculinos. Em primeiro lugar, a elas esta
destinada apenas uma linha, a linha de Iemanj, enquanto que os
caboclos trabalham em quatro linhas. Isto se reflete na pouca quanti-
dade e diversidade de cantos em que so, homenageadas: no
conjunto dos pontos de caboclos registrados pelos umbandistas,
as caboclas contam com menos de um quarto de cantos, e quase
todas levam o nome de Jurema, enquanto que os cantos de
caboclo so, riqussimos em variedade, podendo-se distinguir um sem-
nmero de personagens distintos Caboclo Ubirajara, Jupiara,
Rei da Mata, Ventania, Mata Virgem, Samacutara, Flexeiro, etc.
Em segundo lugar, as caboclas, embora representadas no planto
mtico, quase no descem nos terreiros para
.
encarnar no corpo
dos fieis. Tanto os mdiuns do sexo masculino quanto do sexo
feminino recebem "caboclos homens". Assim o que valorizado
pelos fieis nas entidades dos caboclos so seus atributos masculinos:
sua coragem (so entidades guerreiras), sua fora, sua hombridade.
Algumas vezes essas caractersticas so saudadas nas prprias caboclas:
Ponto da Cabocla Jupira
Jupira
E uma cabocla valente
Salve a sentinela de umbanda, Jupira,
Deixa os caboclos brincarem, Jupira.
Ponto da Cabocla Jurema
Chegou a Jurema,
Ela veio das matas virgens
219
Ela caadora.
Chegou das matas virgens
Ela caadora.
Mas interessante observar que na maior parte dos pontos
destinados a homenagem das caboclas o elemento masculino aparece
como ponto de referencia do feminino: as caboclas aparecem quase
sempre referidas a um pai, a um irmo ou filho, ou a um deus
supremo, que as comandam, referncias estas que esto ausentes
nos cantos dos caboclos:
Ponto da Cabocla Jurema
Venha cabocla Jurema,
Sua banda est toda em flor
Cabocla de pena vai chegar
Tupinamb j lhe ordenou
Ela vem, e vem beirando o mar.
Ponto da Cabocla Jurema
Jurema,
Com seu saiote de penas
Da sua cabana suprema
Sai e vem trabalhar
Jurema filha de Tupinamb.
Cabocla Jurema
Eu estava nas matas
Quando vi passar
Uma cabocla de pena
O seu cong aqui, Jurema,
Foi Oxal quem lhe deu
Seu Sete-Estrelo mano seu, Jurema.
Ponto da Jurema
Que mata essa, que o leo bradou
Que pau esse, que o machado no cortou
220
Que pedra essa, que o corisco iluminou
Que terra essa, essa terra de Jurema
Filho meu,
E tudo isso de Xang.
Um outro trao distintivo das caboclas, e que vai de encontro
as qualidades que lhe so essenciais sua beleza e castidade ,
diz respeito a sua identidade com a gua. A antropologia traz
uma multiplicidade de exemplos que mostram a importncia desse
elemento enquanto smbolo de purificao. No pr pio batismo
cristo, a gua desempenha esse papel ao limpar a alma do
pecado original. Nos candombls baianos e cariocas o banho
um dos momentos importantes no processo de iniciao das
jovens ias, que devem permanecer limpas e puras para receber
seus orixs, e vimos a importncia dos banhos, nos rituais
teraputicos umbandistas, que nada mais so do que rituais
purificadores:
Ponto das Caboclas do Mar
Quem viver sobre a terra
Quem viver sobre o mar
Sou a cabocl a Jur ema
Sou a sereia do mar.
Ponto da Cabocla Jandira
Eu venho beirando a areia
Eu venho beirando o mar
Eu cabocla Jandira
Eu venho do ter reiro
Da me Iemanj.
Mas a gua, ao mesmo tempo que evoca nos rituais a idia de
pureza ou de purificao, um smbolo extremamente forte do
feminino, ao representar as funes maternas e criadoras da mulher.
Na verdade todo rito de iniciao tambm um rito de criao,
na medida em que, pela passagem de um compartimento da vida
social ou religiosa para outro, est sendo criado um novo ser: pelo
batismo nos tornamos filhos de Deus, pela camarinha as ias se
221
tornam esposas dos orixs,* pelo batismo de suas entidades o adepto
umbandista se torna mdium.** Mas apesar de identificadas com a
gua, que simboliza sua pureza, as caboclas no participam dos
atributos maternos associados a esse smbolo. Talvez pela sua raa,
talvez pela sua juventude, talvez pela sua "incivilidade", talvez por
todas essas razes juntas e mais algumas que no pudemos desven-
dar, o certo que o universo simblico religioso deslocou a repre-
sentao materna para a figura de Iemanj (associada com a Virgem
Maria), fora que comanda a Linha das Caboclas, mas que se dife-
rencia delas pela sua natureza e posio na hierarquia espiritual.
Cantigas de Iemanj
Me-d'agua, rainha das ondas, sereia do mar,
Me-d'agua, seu canto bonito quando tem luar
Oh, Iemanj, rainha das ondas, sereia do mar.
Ponto de Iemanj
Salve a me sereia
Que todo mal vai levar.
Salve a conchinha de prata
Salve a estrela-do-mar
Salve a me sereia
Rainha Iemanj.
Ponto de Iemanj
A estrela brilhou
L no alto do mar
Quem vem nos salvar
nossa me Iemanj.
* Roger Bastide analisa os diferentes momentos desse ritual
em seu livro Os candombls da Bahia, mostrando como ele a efetivamente
um processo de recriao da personalidade dos jovens iniciantes. "E por
isso", diz ele, "que toda essa parte da iniciao (do momento da lavagem
das contas at o confinamento na camarinha) est colocada sob o signo
de Oxal, deus da criao." 56
** O processo de desenvolvimento umbandista bastante longo, dura grande
parte da vida do mdium, geralmente at o momento em que ele decide abrir
seu prpio centro.
222
Venerada nas grandes festas pblicas feitas em sua homenagem,
em que os devotos lanam ao mar os presentes que lhe so destina-
dos, Iemanj representa, com efeito, um smbolo materno importante
na cosmoviso umbandista. No entanto, na medida em que Iemanj
(como todos os outros orixs de origem africana, a exceo de Exu)
no desce ao mundo dos homens e no comunga com eles nos
terreiros, ela permanece um principio abstrato e longnquo que,
embora aceito, no revive encarnado na experincia ritual dos adeptos.
Paradoxalmente, a encarnao ritual da figura materna se f az
atravs das pretas-velhas.
As preto-velhas representam o ideal de me compreensiva e
submissa, dotada de um total desprendimento que a t orna capaz
de qualquer sacrifico necessrio ao bem-estar de sua prole. Enquanto
tal, essas entidades representam a prpria afirmao do papel
social da mulher, que encontra no casamento e sobretudo na mater -
nidade o lugar a que ela est secularmente destinada.
Por outro lado, o fato dessa me ser representada por uma
mulher de idade j avanada retira do elemento feminino seus
atributos sexuais e recupera ao mesmo tempo o "lado bom" da
mulher: sua fertilidade. A mulher jovem supe uma vitalidade
sexual que, embora desejvel, precisa ser controlada (pelo tabu da
virgindade), se se quer garantir o prpio substrato da ordem social
tradicional: a famlia que domstica a sexualidade para orient-la
no sentido da maternidade. E interessante comparar, sob este
ponto de vista, as pretas-velhas com as caboclas. Estas ltimas so,
contrariamente as primeiras, exaltadas em sua juventude e beleza.
No entanto elas permanecem submetidas ao principio masculino,
como se a sexualidade, quando no referida as necessidades masculi-
nas (de prazer e filiao), se tornasse um elemento indesejvel: a
descri o dos atributos das caboclas passa, muitas vezes, pela
referencia a posio que ocupam com relao ao elemento masculino
(filha de, irm de); a categoria dos caboclos , de uma maneira geral,
uma categoria predominantemente masculina, definida sobretudo por
caracteres do tipo valentia e fora fsica, que qualificam algumas
vezes, como vimos, at o elemento feminino. Submetidas ao
principio masculino ou assimilando seus atri butos, a simbologia das
caboclas no comporta o ideal da maternidade. Este e, portanto,
deslocado, simbolicamente, para a figura de Iemanj, e revivido
ritualmente pelas "pretas-velhas". As pretas-velhas revivem pela sua
cor as imagens de um passado recente em que a me preta alimen-
tava com seu leite os filhos de seu senhor e permanecia mais apega-
223
l a eles do que a sua prpria prole. Sua abnegao e bondade pre-
valecem como qualidades sobre seus atributos fsicos:
Ponto de Rosafl Baiana
Eu velha baiana
Eu vim pra lhe ajudar
Bate, bate corao!
A alegria vai chegar
Bate, bate corao
Ai a tristeza vai passar.
Ponto de Vov Luisa de Aruanda
Na Aruanda no tem guerra
Na Aruanda s tem paz
Vov Luisa quem sabe
S bondade ela faz.
Vov Lage
Esprito livre no espao
No tem sexo nem cor,
No preto, nem escravo,
No rico, nem senhor.
Via preta feia
Quando na Terra vem.
Mas l em cima, quem sabe
Preta via nem corpo tem.
Ponto de Tia Maria
Tia Maria
A boa velha no despreza quem lhe estima
Tia Maria
A boa velha sempre trouxe alegria.
Por outro lado, contrariamente as caboclas que ocupam um lu-
gar secundrio no culto quando comparadas a seu contraponto mas-
culino (os caboclos), as preto-velhas ocupam na celebrao do culto
um lugar equivalente e algumas vezes at superior ao dos pretos-velhos.
224
Muitssimo estimada pelos adeptos, as pretas-velhas so
homenageadas, como as entidades masculinas, com uma grande va-
riedade de cantos e de nomes. Mas ao mesmo tempo, justamente
pelo fato de sua cor negra, o atributo materno das pretas -velhas se
torna indesejvel, e deve ser simbolicamente escamoteado. Na ver-
dade, numa sociedade como a nossa, organizada em funo de
valores brancos e permeada pela ideologia do embranqueci mento, a
mulher negra no pode servir nem como smbolo de criao de
uma nao (a nao brasileira), j que ela esta irremediavelmente
estigmatizada pela sua condio de escrava, nem como smbolo
da maternidade universal, como "me-humanidade", j que a
descendncia do negro tem que ser "purificada" e embranquecida.
Com efeito, a ideologia do embranqueci mento que permeia
como um todo a sociedade brasileira desqualifica a mulher
negra como geradora de descendentes.
57
Os trabalhos de Roger
Bastide sobre as relaes inter-raciais no Brasil demonstraram que
mesmo o homem negro interiorizou esses valores ao buscar como
esposa uma mulher branca ou mulata clara ainda que de
origem social inferior a dele para "limpar o sangue". A
mulher negra, por sua vez, tambm intrometa essa ideologia, na
medida em que o embranqueci mento de seus filhos significa obter
para eles uma melhor condio social.58
Ao lado de seu estigma de cor, a me preta traz ainda a marca
de sua condio de classe de mulher de origem humilde des-
provida dos meios necessrios ao sustento dos seus o que de
certa maneira tambm a "desqualifica" enquanto smbolo para
representar o ideal de maternidade.
Ponto de Tia Maria
Tia Maria
Tem vintm, mamezinha?
No tem no, minha cafia (filha)
Olha tia Maria
Como vem sambando
Ponto de Vov Conga
Vov Conga tinha seus filhos
E todos sete queriam comer
Mas a panela era muito pequena
225
Ora parte reparte
Que ela quer ver.
As marcas da cor e a condio de classe tornam as qualidades
materiais da preta-velha extremamente ambivalentes: ao mesmo
tempo em que so afirmadas e valorizadas, so sutilmente escamo-
teadas. E a partir dessa perspectiva que se pode compreender o
fato de que, apesar de seus atributos maternais evidentes, o nome
das pretas-velhas raramente acompanhado do apelativo "Me".
Na maior parte das vezes so chamadas de "Vov" ou "Tia",
enquanto que os pretos-velhos so normalmente chamados de "Pai",
posto que a paternidade no aparece aqui como um valor ideal,
sendo at mesmo secundrio com relao a maternidade. Tudo se
passa como se a distancia das geraes ou as relaes familiares
indiretas como a fraternidade funcionassem como elementos media-
dores capazes de diluir simbolicamente a associao entre a figura
materna e seus determinantes de cor e de classe. Nesse jogo
simblico, parece-nos que Iemanj assume um papel
importante: ela encarna o prpio ideal da maternidade; e
enquanto "me universal", ela publicamente homenageada:
Ponto de Iemanj
Iemanj
Olha seus filhos na beira-mar
Iemanj
Olha seus filhos na beira-mar
E l na areia
Quando brilha o luar
Oh que noite to linda
De nossa me Iemanj.
Prece a Iemanj
Iemanj,
Me do mundo.
Fora que mantm a criao
Senhora de todos os bens,
Alento da pr6pria vida
Me magnnima de todas as mes.
O universo simblico religioso opera pois uma ruptura entre a
imagem ideal da me (representada por Iemanj ou pela Virgem
226
Maria em sua associao com o catolicismo) e a me "real", vivida,
que a me de cada um representada pelas pretas-velhas e encar-
nada na experincia ritual dos fieis: essa a me que nos ouve
e assiste, ela quem atende nossos chamados e participa de nossas
aflies no convvio cotidiano.
Finalmente, atravs da imagem feminina dos exus as
pombas-giras que a sensualidade, o erotismo e a malicia vo ser
exaltados na mulher, e particularmente na mulher negra.
Ponto de Pomba-gira Rum beira
Rumbeira tem malcias
Na cadeiras,
Rumbeira sua malcia
E uma fogueira
Pomba-gira Calunga
Dentro de uma calunga eu vi
Uma linda mulher gargalhar
Era pomba-gira Calunga
Que comeava a trabalhar.
Pomba-gira uma mulher jovem, bela, muitas vezes elegante, que se
comporta ostensivamente, quando desce nos terreiros, de maneira
lasciva e provocante. Embora nunca seja descrita como sendo uma
mulher negra (ao contrario dos exus, que so frequentemente
representados dessa maneira, como vimos), a associao entre pomba-gira
e a tradio africana, por um lado,* e o fato de que ela representa o
correspondente feminino de exu e pertena, como ele, ao mundo
subterrneo das trevas, por outro, fazem com que essa entidade
esteja indiretamente referida a cor negra. O prpio nome que levam
algumas pombas-giras, tais como Pomba-gira Mulata, Calunga, **
Maria Quitria, Rosa de Maio, que alude a data da libertao dos
escravos, constituem um exemplo dessa associao.
* Pomba-gira: corruptela de Bombonjira = deus congo,
correspondente ao exu ioruba.
** Calunga: deusa banto do mar e da morte; tamb6m nome da boneca
levada no cortejo carnavalesco do maracatu.
227
Em alguns pontos cantados que homenageiam as pombas-giras
tambm aparecem referncias a um passado de cativeiro nas minas
de ouro e nas fazendas:
Ponto de Maria Padilha
De onde que Maria Padilha vem
Acende que Maria Padilha mora
Ela mora na mina de ouro
Onde o galo preto canta
Onde a criana no chora.
Ponto de Maria Padilha dos Sete Cruzeiros
Sou Mar i a Padi l ha
Dos s e t e c r uz e i r os .
Tenho fora das almas
Dos velhos do cativeiro.
Pomba-gira encarna, quando desce nos terreiros, os gestos e a
fala que caracterizam o esteretipo da prostituta: gargalha com
deboche, requebra maliciosamente as cadeiras, levanta as saias das
mulheres e a sua prpria, pontua sua fala com palavras grosseiras.
Nos centros mais freqentados pela classe media, essas
caractersticas so atenuadas: suas maneiras so mais elegantes,
algumas vezes troca a cachaa pela cidra espumante, mas de
qualquer maneira conserva sempre suas maneiras sensuais e sedutoras.
Pomba-gira normalmente conhecida na umbanda como mulher
dos sete exus. Enquanto "mulher sem dono", amante,
companheira de vrios homens, ela representa exatamente o
reverso das imagens virginais e maternas de caboclas e pretas-velhas.
Pomba-gira Calunga
Pomba-gira Calunga
No mulher de ningum
Quando entra na demanda
S sai por sete vintns.
Pomba-gira Rainha da Encruzilhada
Ela mulher de sete exu
Ela pomba-gira rainha
228
Ela rainha da encruzilhada
Ela mulher de sete exu.
Mas evidentemente essas "qualidades" fazem de pomba-gira
uma mulher extremamente perigosa, j que o desejo feminino no -
domesticado, no-voltado para a maternidade, contraria as necessi -
dades da organizao familiar patriarcal em que a mulher deve estar
submetida a autoridade masculina. No por acaso que ela perma-
nece, na organizao hierarquizada do panteo mtico, relegada ao
mundo das trevas e do mal. Mas mesmo no interior do universo
maligno ela associada ao negativo por oposio ao masculino,
considerado positivo. "Pomba-gira", observa o umbandista Molina,
" uma entidade que faz parte do lado oposto, pois exu-mulher,
sendo desta forma o plo negativo, visto ser mulher, o contrrio
do homem, que positivo."
59
Embora no caso da pomba-gira essa
associao mulher-negatividade aparea de maneira mais evidente
pelas suas caractersticas marcadamente sexualizadas, ela qualifica o
feminino em todas as categorias de espritos: "O espiritismo",
diz Antonio Alves Teixeira, "sob qualquer uma de suas modalida-
des, umbanda e quimbanda, nada mais e, outrossim, que magia.
Se magia o que lgico , s produzira resultados reais se,
em seus trabalhos, agirem conjuntamente os dois sexos, isto 6, os
dois p6los, que so: Positivo (o Homem) e Negativo (a Mulher).""
8 interessante observar como essa associao entre o feminino e o
negativo uma constante no pensamento mtico de varias culturas.
"8 do elemento feminino", diz um provrbio Maori, "que vem todas
os males, a misria, a morte."
61
A ameaa da vida social, a morte,
esto do lado feminino, sobretudo se este no esta submetido ao
controle do masculino, enquanto que a ordem, a preservao da vida,
da cultura, enfim, esto sob o signo da masculinidade. Dieterlin,
estudando os mitos bambara da frica malinesa, observa que o
dualismo sexualizado o paradigma atravs do qual o pensamento
bambara interpreta a ordem das coisas e dos homens. Para eles,
os desacordos e as rixas entre os sexos so a fonte de toda desor -
dem csmica e social. A perfeita harmonia s existe em Faro,
entidade andrgena que assegura em si a unio dos princpios macho e
fmea. Quando a sexualizao do mundo leva a separao entre
homens e mulheres, somente a cooperao entre os sexos (o casa -
mento) capaz de evitar a instalao do caos. Entretanto essa unio,
pela sua prpria natureza, extremamente vulnervel e instvel
229
nesse tipo de acordo entre os sexos existe sempre a pressuposi o
da ruptura; a desordem ameaa pois reaparecer a todo instante.62
No caso que aqui nos interessa, o cosmo umbandista, a figura
feminina geradora de caos e desordem quando aparece associada
a liberao das pulses sexuais. No por acaso, como dissemos,
que pomba-gira habita o "mundo das trevas", e que sua imagem
evoca seu poder feiticeiro, sua cumplicidade com tudo o que
sinuoso e impuro, com as atividades que se acobertam dentro da
noite.
Ponto de Maria Quitria
Existe um exu mulher,
Que quando no passeia a toa
Quando passa na encr uza
Ela no faz coisa boa.
Ponto de Maria Padilha
Meu melhor vestido,
Quero ofertar,
Para o inimigo
Cor da menga pra sangrar.
O preto de minha roupa,
Vou presentear,
Ao inimigo que na escurido
Vai ficar.
Mas a associao do feminino com o lado "esquerdo" da vida
extrapola o mundo marginal dos exus e reaparece tambm na esfera
dos pretos-velhos. A preta-velha, sobretudo pela sua cor, aparece
como habilitada a exercer suas mandingas. Sua herana africana e
escrava j vem marcada pelo terror que os brancos tinham das
"artes diablicas" praticadas pelos negros.63
Ponto Vov Catarina das Almas
Chegou, chegou, chegou,
Chegou no terreiro,
Chegou, chegou, chegou,
A vov Catarina feiticeira.
230
Vov Catarina de Aruanda
Catarina de Aruanda
uma velha feiticeira
Com guine e com arruda
E rosrio na algibeira.
J a pomba-gira, tanto pela sua associao com a cor negra,
quanto pelo fato de que ela representa uma mulher cuja sexualidade
no esta a servio da "cooperao" entre os sexos (do casamento),
aparece como duplamente habilitada aos trabalhos de magia negra.
No entanto, contrariamente ao que se poderia supor, a irrupo
pblica e livre de compromisso matrimonial da sexualidade das
pombas-giras no lhes permite assumir, enquanto mulher, uma posi -
o de igualdade e autonomia com relao ao seu contraponto
masculino, os exus. Caracterizada como prostituta, o que faz del a
um ser socialmente estigmatizado, a pomba-gira s pode afirmar
publicamente sua sexualidade na medida em que esta serve de
objeto de prazer para o homem. Nesse sentido, a representao
simblica que da forma a personagem das pombas-giras recupera o
mesmo antagonismo que define a relao entre os sexos na socie-
dade abrangente: na sociedade patriarcal brasileira, a existncia da mulher-
prostituta permite a expanso da lubricidade masculina, sem
comprometer os fundamentos da organizao familiar, isto , se m
colocar em risco a virgindade das jovens destinadas ao papel de
esposas e mes. Mas recupera tambm, em segunda instancia, as
contradies histricas inerentes ao papel social da mulher negra
que, pelo seu sexo e pela sua cor, viu-se duplamente submetida aos
estere6tipos que faziam de sua sensualidade um objeto de proprie-
dade do homem. Os trabalhos de Roger Bastide sobre as relaes
inter-raciais no Brasil moderno chamam a ateno para o fato de
que ainda hoje a aproximao entre os sexos, quando se faz entre
raas distintas, reproduzem as mesmas contradi es histricas do
sistema escravocrata, que permitia por um lado, ao senhor branco,
"satisfazer impunemente seus impulsos sexuais com as escravas que
desejasse", e que, por outro, fazia do erotismo o nico canal possvel
de ascenso social para a mulher negra. "Debaixo dessa ideologia
da 'Vnus Negra' se escondem os preconceitos de uma sociedade
que reduz a mulher ao esteretipo da prostituta para melhor pre-
servar a dignidade das mulheres brancas." 64
231
De qualquer maneira branca ou negra , a mulher que os
smbolos religiosos representam tem sua sexualidade duplamente
controlada. Por um lado, porque o universo religioso relega o
exerccio da sexualidade para o mundo obscuro das trevas,
para o domnio do negativo, do moralmente censurvel, que o
domnio dos exus. Por outro lado porque, no interior do pr6prio
domnio do mal, a sexualidade s pode se manifestar a servio
do homem, permanecendo um objeto de sua propriedade. O livre
exerccio da sexualidade feminina, que num primeiro momento
aparece como "subversiva", ao inverter os valores ideais do reino
da luz, novamente amordaado pelo estigma da marginalidade social e
pela sua "coisificao" por parte do elemento masculino. A
ordenao do universo simblico religioso garante portanto a
subordinao do feminino ao masculino. Por um lado a dicotomia
luz/trevas coloca do lado do bem e da ordem a mulher -me (e a
virgem), e do lado do mal, da desordem, a mulher -amante. Por
outro lado, suprime a autonomia e dignidade da mulher -amante
tornando-a prostituta, isto , novamente submetendo-a aos
princpios masculinos reguladores das relaes entre os sexos.
Mas embora controlada, no se pode deixar de perceber que a
simples presena no panteo mtico da figura das pombas-giras e
o devotamento que os fieis lhes destinam explicita a presena
do conflito, deixando sempre alerta a possibilidade de uma
subverso, sem o que a umbanda seria uma simples exaltao da
abnegao feminina. Veremos a seguir que essa possibilidade
ser amplamente explorada na prtica cotidiana dos fieis em suas
casas de culto.
Retornando agora a analise do masculino e do feminino de
maneira mais global (sem nos referirmos mais a polaridade interna a
cada categoria de esprito), veremos que, alm desta dualidade que
caracteriza o modo de aparecer de cada tipo, o prpio universo religioso
se organiza em torno dessa dicotomia. Uma analise mais fina das
caractersticas de cada entidade nos permite perceber que os
atributos que definem a categoria geral dos caboclos a aproxi mam
do plo masculino, enquanto que os atributos de categoria dos
pretos-velhos a aproximam do plo feminino. Com efeito, en-
quanto os caboclos (tanto as entidades femininas as caboclas
quanto as entidades masculinas os caboclos) representam as
atividades sociais e produtivas que se executam fora da esfera
domstica, os pretos-velhos representam as atividades caseiras,
restritas as necessidades do lar. Os caboclos pertencem as matas (a
jurema), aos caminhos, aos rios e as montanhas. So donos dos segredos
232
das florestas; eternos viajantes, cmplices da natureza, voam nas
asas dos ventos, dormem nos bravos da noite, vivem pelos
caminhos, no p das estradas.
Caboclo Mata Virgem
Mata Virgem caboclo
E tem penas
Mora na jurema
Sarav o cong.
Caboclo Vira-Mundo
Quando ele vem l do Oriente
Ele vem com ordem de Oxal
Oi sarav seu Vira-Mundo
Ele o nosso chefe e dono deste jacut.
Nada mais distante da morna tranqilidade da casa materna
representada pelos pretos-velhos. O espao domestico avesso
irrupo do desconhecido, do outro, do estrangeiro, que pe em
perigo a ritmada cadencia de sua rotina cotidiana. O espao social
que os pretos-velhos ocupam, o espao interno, do lar, da famlia.
Eles veiculam a imagem do aconchego e da intimidade, so os
agentes da boa palavra, sempre pronta a compreender e orientar.
"Preto-Velho ouve mais as vozes dos outros", observa uma de
nossas informantes, "ele mais calmo"; "A vibrao dos pretos -
velhos lenta", observa outra, "pretos-velhos so escravos, ento
so gente muito humilde, muito tranqila, ento so os conse -
lheiros."
J os caboclos so arrogantes, fortes e viris. So o inverso da
passividade e da tolerncia. Pelo seu temperamento, chegam at a
intimidar aqueles que os procuram. Uma de nossas entrevistadas
por exemplo confessa que "no conversa com caboclos de jeito
nenhum. Essas entidades, porque so mais fortes, so mais fechadas
e no gostam tanto de conversar". Leal de Souza, comparando os
caboclos aos pretos-velhos, observa:
O caboclo autentico, vindo da floresta, depois de um
aprendizado no espao, e transportando-se para a tenda, tem o
entusiasmo intolerante do cristo recentemente convertido;
233
intransigente como um monge, atira-nos na cara nossos defei-
tos e chega at a criticar nossas atitudes. Escutando as queixas
daqueles que sofrem amarguras da vida, responde, irado, que
o espiritismo no feito para ajudar as pessoas em sua vida
material, e atribui nossos sofrimentos a erros e faltas que
devemos pagar ( . . . ). O negro, que gemeu na lavoura sob o
ltego do feitor, no pode ver lagrimas sem chorar, e antes
mesmo que lhe pecam, afasta os obstculos do nosso caminho.65
A polaridade exterior/interior que define a relao entre cabo-
clos e pretos-velhos (e tambm exus e pretos-velhos como veremos
mais adiante), reatualiza portanto a oposio j clssica entre a
casa e a rua, proposta inicialmente por Gilberto Freyre em Sobrados
e mocambos e retomada por Roberto da Matta em sua analise do
carnaval brasileiro. "A oposio entre rua e casa bsica", observa
da Matta, "podendo servir como instrumento poderoso na analise
do mundo social brasileiro." 66
Vemos, portanto, que pelos traos que definem seu carter
a passividade, a compreenso, a generosidade e disponibilidade de
ouvir e dar conselhos, nicas qualidades que os fracos podem opor
a fora bruta e a surdez dos mais fortes os pretos-velhos, enquan-
to categoria, se aproximam do lado feminino do universo religioso.
Mas no o feminino em suas mltiplas representaes. No duplo
papel que a sociedade atribui a mulher no interior do ncleo fami-
liar: o da reproduo biolgica e o da reproduo dos valores
morais, os pretos-velhos encarnam apenas este ltimo aspecto. Vimos
que os condicionantes de classe e sobretudo os de cor tendiam a
atenuar a associao entre as pretas-velhas e o ideal da "me univer-
sal". No entanto essa ruptura se da somente sob o aspecto da
procriao. A dimenso do papel da me na formao do carter
da criana, na sua descoberta dos sentimentos e emoes, a
retomada pelos pretos-velhos, tambm em sua polaridade
masculina. A "boa me" feita de bondade e compaixo; so
essas tambm as qualidades que vo definir o comportamento dos
pretos-velhos no atendimento de seus fieis adeptos.
Na categoria dos caboclos prevalecem, ao contrario, as quali -
dades nitidamente masculinas a valentia, a fora fsica e a auto-
nomia. As qualidades femininas das caboclas a beleza e a pureza
so secundarias com relao as do caboclo, e no servem para
delimitar os parmetros de comportamento dessa categoria de
espritos, nem lhes define um carter mais geral. "A gira de preto-
234
velho", observa, "requer tranqilidade e concentrao, para que se
realize uma sesso eficiente, onde as entidades possam permanecer, e
exercer a prtica de conselhos, orientao, admoestao e tudo o
mais que resulte em beneficio dos filhos de f. A gira de caboclos
tem como condio primacial uma atmosfera ativa e ruidosa. A
movimentao se faz com grande intensidade ao lado de
saudaes, brados, assovios e tudo o mais que caract eriza uma vida
na taba indgena." Vemos neste comentrio de que maneira as
representaes que definem cada categoria de entidades a
tranqilidade e compreenso dos pretos-velhos e a atividade dos
caboclos determinam o comportamento ritual prescrito para cada
uma delas.67
Por outro lado, enquanto os caboclos representam, em sua
mobilidade e instabilidade geogrficas, em suas atividades guerreiras
e caadoras, o mundo exterior a esfera domstica (o prpio nome de
algumas entidades denotam esse nomadismo caracterstico do cabo-
clo, como por exemplo "Caboclo Vira-Mundo", "Caboclo Sete
Encruzilhadas", etc.), os pretos-velhos representam a continuidade
repetitiva e ininterrupta das tarefas do lar, a estabilidade exigida
pelas funes familiares. Pode-se observar, com efeito, que todas
as entidades dessa categoria tem seus nomes precedidos de apela-
tivos familiares "Vov Maria Conga", "Tia Margarida", "Me
Joana", "Pai Tomas", etc.; e evidentemente de maneira "mater -
nal" que essas entidades recebem e orientam seus adeptos.
Mas, contrariamente ao que se poderia esperar, a dualidade
do mundo exterior/mundo interior que caracteriza a relao cabo-
clos/pretos-velhos no corresponde a oposio trabalho produtivo/
trabalho domestico. Ao contrario, a vida familiar e caseira que os
pretos-velhos representam, os caboclos opem uma vida aventureira e
nmade, muito distante da sedentariedade necessria exigida por
um trabalho produtivo numa sociedade como a nossa. Os caboclos
no so, homens feitos para o trabalho; alias, pela sua prpria
histria, enquanto almas divinizadas dos indgenas do passado,
os caboclos revivem a lenda da rebeldia a vida de trabalho e o
gosto pela vida errante. Ao contrario dos pretos -velhos, que tra-
balharam penosamente como escravos nas antigas fazendas de caf
e de Cana-de-acar, so, representados como entidades naturalmente
infensas ao trabalho sedentrio e escravo. A figura do ndio caador,
valente guerreiro que se expe aos perigos de uma vida de aventu-
ras sempre renovadas, poderia ficar incompreendida quando consi -
derada a luz das necessidades socioeconmicas do estilo de vida
235
urbano se no se tenta perceber os novos significados de que se
revestiu esse elemento indgena. Com efeito, as atividades produti -
vas do ndio, a caca, a pesca, etc., se consideradas nelas mesmas,
no tem em nossa sociedade nenhum espao de insero. O que o
pensamento religioso ret6m desses atividades seu significado
simblico. A imagem do ndio caador e guerreiro simboliza quali-
dades tipicamente masculinas em nossa sociedade, tais como a fora,
a coragem e a astcia. justamente atravs desses atributos que
os caboclos revivem a epopia do "heri civilizador" que nos pri -
m6rdios de nossa histria se aliam aos brancos, dominam a natureza e
fundam a nao brasileira. A natureza que os caboclos representam
portanto a natureza domesticada, a natureza tornada cultura.
Nesse ponto interessante fazer intervir a categoria dos exus,
porque justamente sobre eles que vai recair o nus do desem-
penho de um trabalho assalariado que se realiza, para os grupos
sociais mais desfavorecidos, em condies de vida bastante adversas.
Nas histrias narradas por alguns de nossos entrevistados, as
referncias feitas as "origens" dos exus que eles recebem so
muitas vezes pontuadas pela "vida profissional" pregressa dessa entidade:
(Exu Caveira) era um advogado, quando aparece chega as
vezes a contar sobre seus cdigos, leis, onde trabalhou, etc.
Exu Anastcio foi mineiro na poca dos irmos Naves.
Era um esprito revoltado, foi acusado injustamente de fazer
contrabando de arroz. Ele e sua mulher foram mortos na priso.
Em vida Maria Padilha era professora, tinha conhecimen-
tos, pessoa elegante.
Fora essas referncias a atividades profissionais, os exus apa-
recem muitas vezes como desempregados ou como migrantes nor -
destinos (baianos, pernambucanos, cearenses, etc.).
Pelo fato de representar a esfera das atividades produtivas
exteriores ao domnio do lar, e tambm pelas caractersticas de seu
comportamento, pode-se dizer que a categoria dos exus se aproxima,
como os caboclos, do plo da masculinidade. Como estes, os exus
representam o mundo da natureza, das montanhas e dos caminhos.
Muitas vezes so designados com nomes semelhantes aos que so
dados aos caboclos. Temos por exemplo o exu e o caboclo "Sete
236
Encruzilhada Toco", o caboclo "Sete Estrelas" e o exu "Cruzeiro", o
exu e o caboclo "Sete Encruzilhadas", "Exu da Praia" e o "Caboclo
Cachoeira", "Exu Mangueira" e o "Caboclo Palmeira", etc. Por
outro lado, o mesmo nomadismo que caracteriza os caboclos
reaparece na categoria dos exus. Como aqueles, os exus representam a
vida fora de casa, o exterior. Entretanto, enquanto os caboclos
simbolizam a exterioridade pela encarnao dos atributos da natu-
reza (florestas, caminhos, rios, etc.), a exterioridade dos exus adquire
em muitos casos contornos mais urbanos ao representar a rua ("Exu
Tranca-Rua", "Exu Trs Ruas, "Exu das Sete Portas"), atividades
de lazer, externas a esfera domstica, mas tipicamente citadinas
("Exu Arruaa", "Exu As de Ouro", "Exu Trapaceiro", "Exu Mi-
rongueiro"). Tambm nas figuras femininas os exus representam a
rua: as pombas-giras so "mulheres da rua", j que prostitutas e
libertinas ("Pomba-Gira Devassa", "Pomba-Gira Sete Alcovas",
"Pomba-Gira Libertina"), ou mulheres errantes, sem casa, sem vida
domstica ("Pomba-Gira Cigana", "Pomba-Gira Molambo",
pomba-gira Vagabunda"). E ainda, pelo seu carter, os exus
representam o plo masculino: como os caboclos, so valentes,
fortes e viris:
Ponto de Seu Tranca-Rua das Almas
Meu nome Tranca-Rua das Almas
Trago a fora de um general,
L na cal unga eu sou um r ei ,
Junto com os setenta mil diabos.
Com as almas eu sou cruzado
Pois trago as foras dos velhos feiticeiros.
Exu Pemba
Exu Pemba homem forte
Promete pra no faltar
Quando corre na encruza
Nossa demanda vem buscar.
Essas mesmas caractersticas vo aparecer nos cantos em ho-
menagem as pombas-giras; tambm elas so valentes, fortes e at
mesmo violentas:
237
Maria Padilha dos Sete Cruzeiros
Nos sete cruzeiros uma rainha
Tem a fora de Omulu
o brao forte de Ogum
o raio de luz de Ians
Ela coroada de fora Ela
coroada de luz.
Pomba-gira Sete Encruzilhadas
Meu cami nho de fogo
No meio da encruzilhada
Quem quiser me demandar
Cuspo e vou lhe pisar
Quanto inimigo na Terra
Querendo desafiar
Sou pomba-gira formosa
Formosa pra lhe quebrar.
Essas consideraes nos permitem concluir que a polaridade
masculino/feminino retraduz, em termos simblicos, os mesmos
valores que organizam, na sociedade abrangente, as relaes entre
os sexos, ora exaltando a imagem materna, ora subordinando a
figura feminina ao ponto de vista masculino. No caso dos cabo-
clos, as figuras femininas, embora exaltadas em sua beleza, perma-
necem secundarias com relao as figuras masculinas: mais nume -
rosas, so estas ltimas que descem nos terreiros a procura dos
fieis que neles vem buscar a prpria encarnao da fora fsica,
da valentia e do esprito guerreiro. Por outro lado, o aspecto mais
essencial do feminino exaltado no nas figuras das caboclas: a
maternidade, enquanto principio universal deslocada dessas enti -
dades e passa a ser exaltada na figura majestosa de Iemanj. Nem
as caboclas nem as pretas-velhas encarnam esse tipo ideal. Estas
ltimas, embora exaltadas em suas qualidades maternais, represen-
tam mais os aspectos morais da maternidade (a educao moral, o
aconselhamento e a compreenso dos filhos, os sentimentos e a
emoo) do que propriamente o aspecto da procriao. Tudo se
passa como se mais uma vez, agora a nvel simblico, a mulher
negra se visse destinada ao papel histrico de alimentar e despender
cuidados a uma prole que no sua, mas de seu senhor branco.
238
De qualquer maneira, nem ndias, nem negras se constituem em
smbolos apropriados para representar o ideal da maternidade numa
sociedade como a nossa. Por outro lado, as pretas-velhas, por repre-
sentarem, ainda que em seu aspecto moral, a maternidade, se vem
necessariamente destitudas dos atributos que, em alguma,medida,
podem colocar em questo a ordem da famlia: uma atividade sexual
livre e autnoma, uma atividade produtiva exterior a esfera
domstica.
No que diz respeito a esse ltimo aspecto, Eunice Durhan
observa, em seu estudo sobre a organizao familiar de grupos
migrantes que se instalaram em So Paulo, que a atividade assala-
riada fora de casa por parte das jovens solteiras tende a provocar
freqentes conflitos familiares entre pais e filhas e entre irmos e
irms. "Nesse caso", observa Eunice Durhan, "a independncia
econmica da jovem que trabalha, ganhando muitas vezes tanto
ou mais do que o pai e os irmos, se ope aos padres tradicionais
que atribuem a mulher uma posio sempre secundaria e
dependente." A autonomia do feminino s pode realizar-se no
interior da esfera domstica, atravs do casamento. Com relao a este
ponto a autora ainda observa que "a posio de me de famlia a
que menos se altera na situao urbana. O cuidado com os filhos
continua a ser a funo principal da me de famlia, e sua
contribuio econmica, aqui, como na zona rural, dada quando
indispensvel".
68
No por acaso, pois, que as pretas-velhas se
vem privadas desses atributos (atividade produtiva e sexualidade
livre). Na verdade eles sero deslocados para as figuras mticas que
representam a prpria negao da ordem social: as pombas-giras. Neste
caso, afirmao de autonomia do feminino frente ao masculino
neutralizada pela assuno, por parte dos elementos femininos, do
ponto de vista masculino: a pomba-gira, quando exerce sua
sexualidade, o faz em funo de necessidades que so masculinas
(o prazer do homem); por outro lado, ao faze-lo ela se torna
prostituta, isto e, ser desqualificado enquanto pessoa e tornado
objeto por aquele que dele se utiliza. Finalmente, as pombas-giras,
enquanto entidades femininas, esto aprisionadas numa contradio
semelhante aquela que pudemos observar, com respeito a oposio
branco/negro. O negro, para ser social mente aceito, se v
obrigado a negar sua prpria cor, tornando-se um "preto de alma
branca", que significa abrir mo de sua cultura africana,
embranquecer seus atributos fsicos, seus valores, etc. Do mesmo
modo pomba-gira, para fazer-se respeitar enquanto entidade feminina e
poderosa, se v obrigada a
239
assumir as qualidades de seu opositor, o exu: como ele, pomba-
gira violenta, valente, devassa, viril. Temos portanto que a nica
categoria verdadeiramente exaltada pelos seus atributos femininos
a dos pretos-velhos. As outras duas, embora sejam tambm
constitudas por entidades femininas, se definem fundamentalmente pelas
qualidades masculinas de seus personagens.
* * *
Evidentemente essas representaes do masculino e do feminino
que a mitologia religiosa contem e veicula esto profundamente
enraizadas nos valores atribudos a cada sexo pela sociedade inclu-
siva e na funo social que ela lhe destina. As entidades religiosas,
suas caractersticas e atribuies traduzem simbolicamente a hetero-
geneidade das posies sociais que definem em nossa sociedade a
relao entre os sexos. Com efeito, essa multiplicidade de facetas
que compe as representaes das figuras masculinas e femininas
do cosmo religioso reaparece, de maneira mais vaga e confusa, nas
representaes que as mulheres de nossa sociedade tem de si mesmas e
do lugar social que ocupam. Isto pode ser evidenciado atravs
do trabalho de Araoy Martins, que aborda o terra da
percepo que as mulheres de operrios industriais da Grande So
Paulo tem de si mesmas e a viso de mundo que as caracteriza.
O trabalho de Aracky, que diz respeito mais ou menos a mesma
populao freqentadora de centros espritas e umbandistas, nos
permite perceber de que maneira as representaes religiosas
reinterpretam os sentimentos, as vezes vagos e confusos, que esses
grupos sociais tem com relao a sua prpria situao. Vale a pena
retomar aqui algumas das observaes e analises elaboradas pela autora.
As condies de vida que caracterizam os grupos estudados
por Aracky, a ameaa constante de doena e de morte, a ausncia
de possibilidades de atuao dos indivduos enquanto membros de
um grupo mais amplo, a instabilidade econmica que pe em perigo
o alimento dirio, levam a uma forte dependncia mtua dos ele -
mentos de uma mesma famlia em decorrncia da importncia
econmica crescente que o grupo familiar adquire como ncleo
gerador de renda. Eunice Durhan faz observaes semelhantes num
estudo muito mais vasto, sobre a migrao de populaes rurais
para a cidade de So Paulo.
240
Na cidade observa a autora a famlia se reorganiza,
mas permanece como o grupo responsvel pelo bem-estar e a
segurana econmica dos seus membros e , por assim dizer, o
ponto de referencia e o ncleo de reelaborao dos padres de
comportamento e das representaes coletivas.69
Nesse contexto a famlia passa a assumir o importante papel
de interprete dos padres de comportamento e das necessidades da
vida urbana, tornando-se mediadora, na inexistncia de outras insti-
tuies, entre o individuo e a sociedade mais abrangente.
79
Esses
fatores levam a um tipo de organizao familiar em que os membros
do grupo so obrigados a manter entre si uma relao de estreita
simbiose e dependncia. Aracky, ao analisar as representaes subja-
centes a esse tipo de famlia, observa que nesse contexto o "grupo
tende a se dividir, para poder incluir o bem e o mal; geralmente
os homens representam o dio e a violncia e as mulheres o amor
e os sentimentos de proteo em relao aos dependentes"." Essa
atribuio diferencial de papas segundo o sexo passa a exigir a
existncia de mecanismos que garantam a complementaridade das
funes. Esses mecanismos, que a autora chama de "identificao
introjetiva", atomizam cada elemento da famlia ao torna-lo repre-
sentante de um, e apenas um sentimento e funo, projetando sobre
os outros as funes e sentimentos complementares: "Todo senti -
mento que estaria presente dentro de um individuo esta represen-
tado no grupo, mas em membros diferentes."
72
Esse jogo de polari-
zao dos afetos torna os "territrios" correspondentes a cada sexo
cada vez mais demarcados e polares as mulheres no podem
realizar seus aspectos `masculinos', tendendo portanto a projeta-los
no homem e vice-versa."
Do ponto de vista das representaes do trabalho acima cita-
das, essa polaridade se torna bastante ntida. Justamente porque
cabe ao homem, na distribuio das tarefas familiares, suportar o
nus do sustento do grupo, eles se sentem "muito mais donos de
seu prprio destino do que as mulheres". As mulheres, ao contra-
rio, sentem-se perifricas em relao ao mundo social que as cir-
cunda. Elas vem sua prpria histria acontecer fora delas, como
se independesse de sua interveno e fosse construda pelo outro.74
Tendo sido historicamente alocadas para o desempenho das tarefas
simblicas como proteo, carinho e educao dos filhos, no cabe as
mulheres se defrontarem diretamente com a realidade exterior ao
mundo domestico. Assim, observa Aracky, "tudo o que vem de fora
241
do lar sofre uma retraduo para termos femininos, principalmente
o dinheiro para o sustento que geralmente trazido pelo homem
o ethos feminino resultante dessas condies objetivas leva a
mulher, a nvel individual, a perceber qualquer dimenso do mundo
exterior atravs do marido". Finalmente, mesmo quando a mulher
se v obrigada, por contingncias econmicas, a adotar um tra -
balho remunerado, sua posio de "protetora" e "doadora" univer -
sal no se modifica. As entrevistas realizadas por Aracy e sua
equipe mostram como a mulher transpe para o mundo profissional
as categorias intradomesticas, pois ao "invs do trabalho modificar
os sentimentos de inferioridade e ilegitimidade incorporados pela
mulher ao longo de sua histria pessoal e social, esses que
constituem um padro, e ela leva o selo da ilegitimidade para o
mundo profissional".
75
Por outro lado, no entanto, enquanto
trabalhadora assalariada, a mulher tende a superar a polaridade
que alienava suas caractersticas masculinas a figura do homem,
uma vez que o trabalho remunerado fora do lar faz parte dos
atributos masculinos.
Se nos permitimos retomar de maneira to extensiva as conclu-
ses de Aracky, elaboradas a partir da analise de depoimentos de
alguns homens e mulheres de diferentes ramos industriais em So
Paulo, porque elas nos parecem apontar para um certo paralelismo
ou homologia entre essas representaes discursivas e as constru-
es simblicas religiosas anteriormente analisadas. E interessante
notar como a simbologia religiosa retoma e reinterpreta os mesmos
temas (ou conflitos) que aparecem nesses testemunhos. A polaridade
homem/mulher, sua necessria complementaridade, a dualidade de
atributos a mulher representando o amor, a proteo e o domes-
tico; o homem representando o dio, o sustento e o exterior, o
perigo de apropriao pela mulher dos atributos masculinos ,
o que implica numa androgenia inaceitvel para ambos os sexos,
etc. Essa aproximao das analises de Aracky com nossas prprias
reflexes sobre a simbologia religiosa nos permite perceber de que
maneira as representaes religiosas retraduzem, numa linguagem
prpria, conflitos e valores que so
'
mais ou menos comuns para
certas categorias sociais. E mais ainda, nos permite perceber que
os smbolos religiosos so uma maneira de ordenar essa heteroge -
neidade, atribuindo-lhes um sentido novo e que, ao "nomear" e
ordenar as fontes de tenso e conflito, a reconstruo religiosa
permite ao individuo uma atuao sobre o real. Com efeito, as
representaes religiosas, atravs de processos simblicos tais como
242
polarizao, contraposio, ou at mesmo complementao de valo-
res, organizam a reflexo e a compreenso das condies objetivas
de existncia desses grupos sociais. Mas no s isso. Parece-nos
que a prpria operacionalizao desses smbolos por parte daqueles
que so os reais protagonistas dos conflitos que o mundo simblico
descreve, isto , os fieis, interfere, com sua ao, no arranjo e na
dinmica dessa estrutura simblica. Tudo se passa como se as sim-
bologias religiosas "nomeassem" e ordenassem as zonas de tenso,
representando-as nas figuras das entidades e em seus atributos, e os
fieis imprimissem a esse universo, atravs de suas manipulaes
individuais orientadas pelas suas histrias privadas, uma dinmica
sempre renovada e original.
E por isso torna-se necessrio aqui passar da anlise da natu-
reza dos smbolos religiosos para a analise de sua manipulao
(ou operacionalizao). Retomaremos para tanto os depoimentos
dos adeptos umbandistas e atravs deles tentaremos perceber como
se da o que decidimos chamar de "processo da demanda".
243
3.
O PROCESSO DA DEMANDA
PARECE-NOS QUE NA DINMICA que se estabelece entre os
diferentes protagonistas mitol gicos a demanda do fiel tem um
papel fundamental. Com efeito, sabemos que no basta isolar
certos elementos-chave do universo de smbolos e estabelecer a
relao entre eles para caracterizar todo o sistema. A analise desen-
volvida nas paginas anteriores pretendeu "desmontar" as represen-
taes sociais embutidas nos esteretipos de cada entidade para
melhor compreender a dinmica que se estabelece nesse sistema a
partir do fator da demanda. Partindo das colocaes de C. Geertz
de que a analise da cultura enquanto sistema simblico no pode
deixar de lado a observao do comportamento, pensamos que
na ao social, isto , no comportamento do fiel frente a divindade
(que j uma entidade reinterpretada segundo as referncias pes-
soais do mdium que a recebe) que os diferentes elementos cultu-
rais encontram articulao.
76
No caso do universo umbandista
temos portanto dois nveis de interpretao dos personagens
mticos: a que chamamos anteriormente de "teolgica" e a que se f
az a nvel dos terreiros. Esta ltima se constri na interao entre
as verses pessoais de mdiuns e mes-de-santo das entidades que
as possuem e as reaes do pblico demandante que "escol he"
uma ou outra interpretao. De qualquer maneira, todas essas
elaboraes interferem mutuamente, cada adepto elaborando para si,
segundo sua prpria experincia, smbolos coletivos, e estes se
enriquecendo e complicando em funo dessas contribuies individuais.
O termo "demanda", utilizado pelos umbandistas, significa, de
maneira no muito explicita, os males que uma pessoa envia para
outra atravs de trabalhos malficos ou outros expedientes escusos.
Os umbandistas utilizam frequentemente a expresso "vencer de-
244
manda, que si gni fica o esforo desenvol vido pelas ent idades
espirituais caboclos, pretos-velhos e exus no sentido de
vencer as conseqncias nefastas que essas foras provocam na
vida do consulente. "A demanda so vibraes mentais", observa
um autor umbandista, "criadas por pessoas insatisfeitas. A demanda
e feita por pessoas ignorantes da lei de Deus, quando tem cimes,
inveja, ambio, vaidade."
77
A "demanda" no se restringe pois
aos "trabalhos de quimbanda" feitos contra algum, mas abrange
toda espcie de obstculos que os males deste mundo so capazes
de provocar na vida de um individuo. Neste capitulo propomo-nos
a reutilizar o termo umbandista que nos parece bastante suges-
tivo mas suprimindo seu aspecto "projetivo", isto , chamaremos
de demanda aquilo que o prprio consulente deseja pedir em sua
consulta (e no o que desejam ou fazem contra ele), supresso
que no nos parece subverter o sentido essencial do termo umban-
dista posto que, "vencer a demanda", isto , vencer o desejo de
algum ou de algo contra si, nada mais do que fazer prevalecer
o prpio desejo: o mal que se abate contra o individuo a "deman-
da" que ele visa suprimir com sua demanda. Assim, chamaremos
de demanda neste capitulo simplesmente o move! que leva os
indivduos a procurar os terreiros e a consultar as entidades de
sua preferncia.
Considerada a partir dessa perspectiva, temos que a demanda
fundamental da maior parte dos freqentadores, pelo menos a mais
freqente, a "demanda de cura": vimos no capitulo "O Campo da
Sade e o Poder de Classe" que, de um modo geral, o tipo de proble-
ma que leva o individuo a freqentar os centros so os distrbios
somticos (ou psicossomticos) e os desequilbrios afetivos e com-
portamentais. Por outro lado, os textos ulteriores mostraram que
a "doena" se transforma, no interior do universo religioso, num
fenmeno muito mais abrangente do que a disfuno puramente
orgnica: os distrbios percebidos se tornam significantes de desor-
dens a nvel das relaes familiares e afetivas e a nvel das condi-
es financeiras, por um lado, e remetem a desordem a nvel das
foras sobrenaturais, por outro. Nesse contexto, "a demanda de
cura" significa a busca, por parte do individuo, da superao conco-
mitante dos sinais fsicos da desordem e dos conflitos interpessoais
mais abrangentes, de que os primeiros nada mais so do que a
objetivao impressa na superfcie concreta do corpo.
A demanda o ponto de partida para o funcionamento
dinmico de todo o sistema religioso. I a partir da demanda dos fiis
245
que as entidades podem justificar sua atuao junto aos homens:
por outro lado, no momento da demanda, ou no processo que
se desencadeia atravs dela, que os fieis podem aceitar, recusar ou
modificar a simbologia religiosa encarnada em cada entidade mtica.
Assim, a partir do "processo da demanda" inicia-se um dialogo, que
se renova sem cessar, entre as experincia s "mrbidas" do sujeito
e as interpretaes simblicas contidas nos personagens mticos
encarnados nos mdiuns. No entanto este reviver de seu drama
individual junto a entidade por parte do demandante tambm
um reviver por parte do mdium, j que a entidade que ele repre-
senta foi construda, como veremos adiante, a partir de suas prprias
vencias individuais, reinterpretando, a seu modo, conflitos e ten-
ses presentes no grupo como um todo, e expressando, concomi -
tantemente, facetas de sua idiossincrasia.
A demanda, enquanto ela se constitui num pedido feito as
entidades, passa a significar tambm ao sobre a coisa que se quer
modificar. A demanda , portanto, ao mesmo tempo, a "coisa que
se pede" e a "ao sobre a coisa": responder a demanda dos fieis
(por exemplo, cur-los) significa "vencer a demanda", isto , vencer
os obstculos para que a demanda de cura se realize. A fora capaz
desta "ao sobre a coisa" ou sobre o mundo a fora mgica:
"Magia e o desejo, individual e coletivo, de vencer", diz Byron de
Freitas.
78
As entidades religiosas "vencem pois a demanda" atravs
da magia. Mas justamente em funo dos smbolos que representam,
cada categoria de esprito capaz de responder a apenas um ou
outro t ipo de demanda: nem os fi ei s pedem qualquer c oisa a
qualquer entidade, nem qualquer entidade capaz de qualquer
coisa. A cada categoria de esprito corresponde um tipo especifico
de demanda. Vejamos de maneira mais detalhada como se da. essa
diferenciao.
Do ponto de vista "teolgico", os caboclos so as entidades
mais poderosas, capazes de "vencer as demandas" mais complicadas
e difceis de serem resolvidas. "Os caboclos representam torrentes
de fora, pilares de firmeza dos trabalhos e das sesses", observa
Cavalcanti Bandeira.
79
Inmeros pontos cantados tambm se referem
a fora que qualifica os caboclos a "vencerem as demandas", lutan-
do sem descanso contra as foras do mal:
Ponto do Caboclo Rompe Mato
Eu sou Rompe Mato
Demandas hei de vencer
246
Para o caboclo Rompe Mato
No ha demandas a perder.
Ponto do Caboclo Sete Flechas
l vem vindo, e l vem s
l vem vindo uma fora maior
l vem vindo, e l vem s
Seu Sete Flechas uma fora maior.
A fora dos caboclos a fora que vence o mal, a desordem
do mundo, a atuao "diablica" dos espritos trevosos responsveis
pelos problemas
.
que afligem os fieis. Muitos cantos se referem ao
poder dos caboclos sobre o mal, sobre os feitios, sobre exu.
Ponto do Caboclo Sete Flechas
Ele caboclo
Ele flecheiro
Bumba na calunga
E matador de feiticeiro
Ponto do Caboclo Caador
Eu flecheiro
Caador de demanda Eu
flecheiro caador L
na jurema
No entanto, se do ponto de vista da organizao teolgica
racionalizante os caboclos ocupam posies hierrquicas superiores
aos pretos-velhos (e aos exus), na prtica, isto , ao nvel do
exerccio religioso, da soluo de problemas, aquelas entidades no
tem a mesma i mportncia que os espritos dos preto-velhos.
Com efeito, de um modo geral os adeptos preferem conversar mais
com estas entidades do que com os caboclos. "As sesses de caboclo
destinam-se em umbanda ao desenvolvimento medinico ou ento a
caridade e passes"," afirma Decelso em seu livro Umbanda de
caboclos; "Em sesso de passes no ha. os longos conselhos
mais comuns nas engiras de pretos-velhos; quando o assunto mais
247
complicado, manda que o nefito se dirija a engira de preto-velho.""
Tudo se passa como se os caboclos, embora mais numerosos e hierar-
quicamente superiores, considerados ao nvel do discurso como
sendo mais poderosos e mais fortes, estivessem por isso mesmo
mais distanciados do convvio com os fieis, impossibilitando na
ftica sua interveno ao nvel dos problemas cotidianos. Os
caboclos portanto no falam, So os pretos-velhos os detentores
da palavra com eles se conversa, eles ouvem e do conselhos.
"Preto-velho ouve a gente, mais calmo", afirma uma de nossas
informantes. "Preto-velho so os escravos, n. Ento gente muito
humilde, tranqila, ento so os conselheiros, So os curadores", diz
ainda uma outra. Os caboclos so fortes e viris: "Ogum macho,
salve Ogum militar, valente justiceiro que no sabe recuar", diz
um ponto cantado para um caboclo da linha de Ogum. "Todo
trabalho mais forte, tudo que mais trabalhoso, ento mais pra
caboclo", afirma uma de nossas entrevistadas. E no entanto a fora
atribuda aos caboclos no corresponde a importncia relativa de
sua atuao na resoluo dos problemas dos adeptos. Com efeito,
tem-se a impresso que a fora de que dispem os caboclos
vi r il , t pica das posi es de mando que ocupam no mui to
prpria para a resoluo de dificuldades que dependem mais da
capacidade de compreenso e da solidariedade do outro. A fora
atribuda aos caboclos significa na verdade a afirmao dos valores
hegemnicos presentes na sociedade abrangente a coragem, a
virilidade, a deciso, so qualidades exigidas para aqueles (homens e
brancos) que vo ocupar em nossa sociedade posies de autori-
dade. Por outro lado, o simples fato de que estes valores estejam
presentes no panteo umbandista significa que eles so percebidos e
localizados enquanto existentes na ordenao social do mundo:
sua ausncia nessa representao simblica do mundo social, que o
mito, tornaria a ideologia religiosa uma valorizao pura e simples da
submisso dos mais fracos a determinao dos mais fortes. Na
verdade a afirmao religiosa desses valores permanece no piano
puramente "descritivo", uma vez que significa apenas a constatao
da equivalncia entre posies dominantes e posies de fora. Os
caboclos constituem assim uma espcie de "garantia" (j que parti -
cipam da prpria fonte de poder) para a atuao dos pretos-velhos,
que, estes sim, trabalham com as poucas armas de que dispem os
humildes: a compreenso, o desprendimento, a solidariedade, por
um lado, mas tambm malicia, boicote, malandragem, por outro,
com no caso de exus e pombas-giras.
248
Essas consideraes nos permitem perceber j num primeiro
momento de que maneira se organiza diferencialmente, a nvel da
demanda, a hierarquia das representaes contidas em cada enti-
dade. A preferncia dada aos pretos-velhos (e tambm aos exus,
como veremos adiante) significa a revalorizao, a nvel da prtica,
dos valores atribudos a imagem do feminino, por um lado, e do
homem de cor, por outro. Nesse sentido, exatamente as represen-
taes que na sociedade abrangente fazem da mulher e do negro
seres inferiorizados e oprimidos tornam-se na prtica religiosa os
valores verdadeiramente atuantes.
A anlise das representaes e da posio de cada entidade no
cosmo religioso feita anteriormente nos parece ter mostrado que os
esteretipos espirituais constituem uma espcie de "descritor" dos
conflitos e tenses presentes na vida cotidiana dos adeptos. Cabo-
clos, por um lado, exus e pretos-velhos, por outro, reproduzem, a
nvel do simblico, as contradies e ambivalncias inerentes ao
processo de insero da mulher e do homem de cor na sociedade
brasileira. Com relao as dimenses do masculino e do feminino, as
representaes religiosas traduzem os valores tpicos de uma
sociedade que se organiza sob o mando da autoridade masculina;
e no entanto, a nvel da prtica ritual e da demanda, cria-se um
espao possvel de atuao do feminino. Vimos como a categoria
dos pretos-velhos, pelos traos de carter e pelos designativos fami -
liares que acompanham seus nomes, representam as relaes domes-
ticas, presididas pela figura da mulher maternal, conselheira afvel
e compreensiva. A relao que os freqentadores estabelecem com
esses guias so efetivamente o prolongamento das relaes familia-
res: os pretos-velhos assumem maternalmente o papel de ouvintes
e de conselheiros, atendendo pacientemente o problema de cada
um, recomendando resignao e obedincia, admoestando e orien-
tando. No mbito de suas atribuies "caseiras", essas entidades
funcionam como "mediadoras" nas desavenas familiares, no rela-
cionamento entre casais, nas brigas de amigos. Mas interessante
notar aqui o carter "rotineiro" de suas intervenes. Os problemas
que dizem respeito aos pretos-velhos so aqueles que fazem parte
da rotina da vida cotidiana; j os exus, no, eles intervm em
casos "no-naturais", que tem a ver com coincidncias nefastas,
com acidentes, etc.
Os pretos-velhos, ele te acalma, te da uma certa tranqilidade ele
ta ali de seu lado. E assim . . . pra coisas
249
de problemas rotineiros... O exu, no. E aquele por exemplo
que voc vai dentro do carro... tem um acidente.. . to pra
acontecer um acidente com voc ele to segura pra voc no
machucar. Se por exemplo... nessa quantidade de assalto.
aquele... ele se manifesta de uma tal maneira que quando
a pessoa corre perigo... (mdium secretaria.
Os pretos-velhos se ocupam portanto dos problemas familiares
(no duplo sentido da palavra "comum" e "de famlia") internos a
esfera domstica. 8 por essa razo que a maior parte dos casos
referentes a doenas geralmente encaminhada a essas entidades.
Pai Manoel o guia assim... um dos mais antigos do
centro E el e t em r eal ment e uma for a i ncr vel , t em um
poder mesmo de ajudar as pessoas doentes. Ento caso de
doena normalmente ele o mais procurado. Talvez assim, j pelo
tempo, e tambm o fato assim pel as prprias por exemplo
voc vai 16, voc toma um passe com Pai Manuel pra sade.
Voc achou bom, voc deu-se bem com ele, com o
tratamento, voc mesmo indica: "Vai no Centro Umbanda
Buscando Luz e procura o Pai Manuel"; mas assim todos os
guias assim so muito bons. Tem essa divi so: uns mais con-
selheiros, outros pra doenas, outras pretas-velhas que gostam
muito de parteiras, n... ajudam muito as mulheres grvidas,
out r a de cr i ana que aj uda mai s as cr i anas. Mas l no
centro o mais indicado Pai Manuel. O caso por exemplo de
desvio de coluna, o mais procurado Pai Jernimo. Cada um
na sua especialidade (freqentadora dona-de-casa).
Muitas entrevistadas fazem referencia as qualidades dos pretos-
velhos no trato das crianas e das mulheres grvidas.
Doenas? Ah, isso varias pessoas j falaram..... Varias
pessoas assim com doenas graves. Senhoras que chegam com
crianas e os mdicos eles vo ao mdico e diga: "Voc
no t em nada . . . " Ento eu benzo quando a moca vai l .
Vou fal com voc. Ai pega, j pega a criana, as criana
vem at aqui dentro da minha casa; bonitas, sabe, me agrade-
cem tudo, sabe... (me-de-santo dona-de-casa).
(Vov Catarina): s de papo amarrado, vem diversas
donas com papo amar r ado. O papo amar r ado assi m, a
dona, a dona to esperando um bebe. Tem uma inimiga. Vai
250
nesse centro . baixo sabe.. . e manda amarrar o papo dela.
Pra ela morrer com a criana. E ai ela procura um terreiro
bom, e ai o papo dela desamarrado. Tem muita cura de
criana, de adulto (me-de-santo operria).
Se a ptica subjacente a atuao dos pretos-velhos tem como
modelo o sistema das relaes domsticas, justamente na atualiza-
o desse modelo num contexto novo dentro de relaes sociais
de outra ordem, onde o que est em questo no mais a repro-
duo do mundo domstico, mas a compreenso e a atuao sobre os
problemas que se engendram nele e fora dele que o papel da
mulher ganha uma nova importncia e um novo sentido.
Essa transposio do modelo familiar para a caracterizao das
relaes entre freqentadores e entidades religiosas (no caso os
pretos-velhos) recupera os elementos definidores do feminino inver-
tendo-lhes o sentido: em primeiro lugar, temos o atributo da passivi -
dade que sempre definiu a mulher em sua relao com o mundo e
com o masculino. Neste espao religioso, a "capacidade de compre-
enso" e a "docilidade" so qualificativos do feminino, que vo
justamente permitir a atuao privilegiada da mulher, enquanto
mdium ou me-de-santo ou enquanto representaes do feminino
(pretos-velhos), no trato dos problemas que lhe trazem os
freqentadores. Em segundo lugar, o terreiro define um espao
religioso no interior do qual pode desenvolver -se o exerccio da
autoridade feminina.82
interessante comparar aqui esse processo de transposi o
das relaes domesticas para a prtica religiosa com as observaes
que f az Aracky sobre um fenmeno semelhante que ocorre na
esfera das relaes de trabalho: "As mulheres atuam em suas
relaes de trabalho muito em funo da dicotomia
homem/mulher, transpondo para os colegas, chefes e patres a
atribuio de papas dentro do grupo familiar."
83
Parece-nos que
no caso da prtica religiosa esse fenmeno adquire contornos de
natureza qualitativamente distintos a percebida nas relaes de
trabalho. Enquanto que na fabrica o fato das mulheres viverem
em relao ao patro a mesma constelao de fantasmas inconscientes
presentes no quadro familiar as torna abnegadas, passiveis e dceis
(e portanto duplamente exploradas, enquanto trabalhadoras e
enquanto mulheres), no terreiro essa mesma transposio encontra
um espao adequado para que o elemento feminino se tome
atuante e empreendedor. Tudo se passa como se ao colocar em
ao no espao religioso
251
os mesmos elementos que em outros contextos definem o quadro
da inferioridade da mulher, espao este em que o elemento feminino
polariza (em parte) a demanda e detm o poder da palavra, isto ,
da explicao integrativa de cada problema pessoal apresentado
este "espao privilegiado" transformasse a prpria natureza dos
elementos femininos invertendo suas posi es relativas de subor-
dinao ao masculino.
Uma analise semelhante pode ser feita com respeito as repre-
sentaes inerentes a dualidade branco/negro. Foi nisto que os exus,
pela sua origem africana e pelos atributos com que so definidos,
representam o elemento negro "rebelde" a domesticao cultural e
econmica exercida pelo branco. Embora relegados, a nvel do
discurso "teolgico", as profundezas marginais do mundo das trevas,
essas entidades tem entretanto um papel importante, eu diria mesmo
fundamental, ao nvel do funcionamento da religio. Em primeiro
lugar pela sua ambivalncia. Os exus "fazem o bem" lanando
mo de meios de atuao "ilcitos" e ilegtimos, o que lhes confere
amplo poder de atuao tornando-os consequentemente muitssimo
requisitados pelos fieis. O testemunho de Didi nesse sentido um
exemplo bastante ilustrativo. Mestre Didi, chefe do terreiro Tenda
Esprita Imaculada Conceio, nos confessou, numa conversa, que
no gosta muito de trabalhar com exu. Ele recebe o seu somente a
pedido de pessoas mais chegadas. Por isso ele pretendeu certa vez
diminuir em seu terreiro a afluncia das pessoas que vinham
consultar essas entidades nas sesses de sexta-feira. Para tanto,
resolveu instituir nesses dias consultas pagas. Essa iniciativa diminuiu
entretanto a afluncia dos consulentes, mesmo sem recursos, que,
para seu grande espanto, pareciam ter-se- multiplicado. No tendo
conseguido alcanar o resultado esperado, o de esvaziar as
sess6es de exu, mestre Didi resolve introduzir outra novidade: no
momento em que o pblico se preparava para conversar com os
exus, Didi chamava os caboclos mandando os exus embora e
devolvendo o dinheiro para a platia. E dizia: "Agora vocs podem
conversar de grata com as entidades." E assim foi feito durante
duas sextas-feiras seguidas, quando os consulentes, pegos de sur -
presa, dispuseram-se a consultar os caboclos. Mas na terceira vez,
quando ele quis repetir a ardilosa artimanha, no havia mais pblico
disposto a participar das consultas. Didi, para manter a casa cheia,
teve que conservar os to requisitados personagens.
Este exemplo ilustra a importncia dos exus a nvel do
exerccio da demanda. Se os caboclos so descritos como entidades
252
"fortes" porque ocupam as posies mais elevadas da hierarquia
espiritual, na prtica os exus se tornam mais importantes (ao lado
dos pretos-velhos e talvez at mais do que eles), posto que so
eles que efetivamente encarnam os conflitos existentes na vida
cotidiana de cada um; so eles os representantes da "arraia-mida"
dos "z-ningum" que para vencer na vida s lhes resta a fora de
expedientes muitas vezes ilegtimos e condenados. Assim, embora
representem simbolicamente os fracos, os exus so, mais do que.
qualquer outra entidade, capazes de trazer "solues" aos problemas
dos fieis. "Exu Z", diz uma entrevistada, "ele vence as coisas
longe, tem muita fora." Exu representa pois a fora dos fracos,
que se realiza a partir de expedientes situados a margem das solu-
es legais e moralmente aceitas. E interessante observar que sob
esse aspecto os exus se aproximam da figura do malandro, her i
popular nacional nascido nos anos do getulismo. "A malandragem",
observa Ruben Oliven, "se constitui simultaneamente em estratgia
de sobrevivncia e concepo de mundo, atravs das quais alguns
segmentos das classes subalternas se recusam a aceitar a disciplina e
a monotonia associadas ao universo do trabalho assalariado.
"
84
Essa capacidade do malandro de burlar em beneficio prpio as
regras de distino e sucesso que ordenam a sociedade urbano-in-
dustrial retomada na figura dos exus, muitas vezes assimilados
pelos umbandistas aqueles heris populares.
Ponta de Z Pelintra
Aqui no morro,
No morro no tem mosquito,
Criana chorando,
Malandro descia,
Mas a policia,
No morro, no subia.
Ponto de Exu Malandro
L na Gamb, l na Gamb
A policia passava,
Malandro corria,
Na frente da casa,
Do velho coroa.
253
Assim, embora nos pontos cantados e nos livros de umbanda
se reafirme constantemente a importncia e a fora dos caboclos,
na prtica concreta os exus so os verdadeiros "donos da magia",
nicos capazes de subverter com alguma eficcia as regras do jogo
que ordenam a geografia social.
Pode-se dizer portanto que, se por um lado o discurso religioso
espelha e incorpora a hierarquia de valores presentes na sociedade
inclusiva ao colocar o negro como figura marginal e subalterna de
seu sistema, por outro a prtica efetiva um certo espao de atuao
onde esses mesmos valores so rearranjados ganhando um sentido
que de certo modo se contrape ao primeiro. As explicaes que da
Matta e Silva da sobre exus e quiumbas, em seu livro Macumbas e
candombls na umbanda, ilustra bem esse aspecto da reproduo da
ordem inclusiva:
A quimbanda composta de legies de espritos elemen-
tares, isto , de espritos em evoluo Tudo isso opera, tra-
balha nos servios mais "terra a terra" ( . . .) e os espritos que
coordenam todo esse movimento de pianos e subplanos, so
realmente classificados como exus, em realidade uma espcie
de "policia de choque" para o baixo astral. Esses exus no
so espritos irresponsveis, maus, trevosos, etc. Os verdadei -
ros trevosos, maus, etc., so aqueles a quem eles arrebanham,
controlam e frenam ( . . . ). Dentro dessas condi es que eles
operam, prestam-se aos trabalhos de ordem inferior, podem
necessrios porque tudo tem seus paralelos e seus executo-
res ( . . . ). Os exus so arregimentados pelos orixs ou por
seus enviados (caboclos, pretos-velhos, etc.) e formam em
obedincia a seus escudos fludicos. ( . . . ) sendo esses exus
intermedirios a "policia de choque" do baixo astral, no lhe
cause surpresa eu revelar que eles empregam at a "fora"
bruta, quando necessitam de frenar ou de exercer uma funo
repressiva. h lutas tremendas no baixo mundo astral . . . Acon-
tecem os "corpo a corpo", pancadarias, etc. Existem tambm
"armas astrais" de ao contundente. Assim como voc pode,
encarnado que esta, bater em outro corpo humano, com uma
vara, uma espada, uma borracha, etc., no astral tambm esses
objetos podem existir, confeccionados de "matria astral", mais
rijos do que os grosseiros da Terra. ( . . . ) Os quiumbas (exus
no batizados) so, como salteadores, dentro da "noite astral".
Infiltram-se por toda parte, visando mais o ambiente dos encarnados,
254
dadas as emanaes materiais que eles tanto desejam,
enquanto no encarnam . . . Uns saem em busca de satisfazer
seus vcios, vendo e sugando do vicio dos encarnados suas
satisfaes; outros saem a fim de satisfazer a revolta ou a
vingana sobre os que deixaram ou esto na condio humana; e
mais outros ainda, perigosssimos, como "gnios do mal",
comandam as incurses daqueles.
Todavia, todos eles esto sob vigilncia. Ha. verdadeiras
batalhas, corridas, fugas, etc., quando so pilhados diretamente
em suas artes ou aoes nefastas. Sim, porque eles
tambm so sabidos, organizam-se. Muitos, quando assim
pilhados, vo para as escolas correcionais ou para as prises do
astral. Sim, porque certo, elas existem. Assim como existem
os hospitais, as escolas superiores e especializadas.85
A "maldade" dos exus e quiumbas ( no batizados) est aqui
representada em consonncia com o modelo de correlao de foras
dominantes na sociedade inclusiva: quiumbas so espritos vingati-
vos, revoltados e viciados a escria da "sociedade astral", que
precisa ser mantida sob estrita vigilncia:
os exus so espritos de mesma natureza, mas que foram "co-
optados" pelos orixs trabalham a seu servio como "policia
de choque", como executores de "servios" mais ou menos sujos;
quiumbas e exus se inclinam diante da autoridade dos orixs.
Mas como j vimos, esses mesmos "fatos" so reinterpretados
pelos adeptos a partir de uma ptica mais condizente com a realidade
social que os cerca. Se os exus so "espritos inferiores", se ocupam
posies marginais na escala espiritual, se so ladres e vagabundos,
porque esto inseridos numa ordem que no foi ditada por eles
nem para eles. E ento, se so viciados e vingativos, porque a
vida no foi generosa para eles; e justamente este aspecto que
torna os exus heris mticos: eles enfrentam o perigo e a misria;
embora pertencendo ao mundo dos fracos, sabem fazer-se respeitar,
sabem "viver" aproveitando-se das situaes aparentemente mais
difceis.
A analise do que chamamos de "processo da demanda" nos
permite, pois, ao apreender o universo mtico no memento de sua
255
operacionalizao ritual, redimensionar o significado das representaes
religiosas que esto em jogo no momento das consultas. O
"cliente" concreto, a partir de suas experincia s individuais, joga
com esse sistema simblico escolhendo as entidades de sua
preferncia, tecendo expectativas sobre o que ela pode ou no
realizar, aceitando ou recusando suas propostas. Mas nesse
confronto entre consulente e a ordenao mtica d preciso
considerar ainda o papel do mdium. Com efeito, o consulente Ir
participar diretamente das representaes simblicas contidas nos
personagens mticos, mas o faz, concretamente, pela mediao da
interpretao pessoal que o mdium faz das entidades que recebe. Essa
interpretao tem como referencial as prprias experincias vividas
do mdium, que transmite a seu personagem certos aspectos de sua
identidade, mas tambm a reao do publico: uma entidade d
poderosa na medida em que detm um certo poder de
convencimento, em que interpreta com verossimilhana os
problemas que dizem respeito aos consulentes que a procuram. As
entidades que descem nos terreiros no so portanto entidades em
geral pretos-velhos, caboclos, exus , mas sim este ou aquele
caboclo, que tem um nome, uma histeria-tragedia pessoal, uma
maneira de ser e de se comportar que o distingue de todas as
outras entidades da mesma categoria. Os freqentadores
conversam com Pai Tomas, ou Vov Maria Conga, recebidos por
um mdium determinado ou caracterstico de uma me-de-santo;
a partir do comportamento desse preto-velho nomeado que os
adeptos tecem suas demandas, ampliam ou diminuem o mbito de
suas expectativas, traam os limites e as possibilidades de atuao.
Pai Jac era escravo conta o mdium Tadeu. Tinha
os senhores dele, morava na senzala. Morreu na senzala.
Trabalhava muito no engenho. Quando ele ficou velho, velho,
velho, encostatam ele l na senzala. Construram uma senzala
pr a ele pra os ami gos del e. Com o passar do tempo, ele
morreu . deu ferida na perna dele, no teve jeito, teve que
cortar as duas pernas fora. Ai ele morreu. Dai ele vem agora,
se manifesta em mim para fazer o bem, benzees, ensinar as
pessoas a tomar remdios, banho de descarrego E um
preto-velho muito bom, de muita luz. E de Moambique
(mdium garom).
Tadeu, um rapaz negro que antes de tornar -se umbandista
sofrera muitos dissabores em hospitais psiquitricos, se identifica
256
que nesse momento ele "se solta" e da vazo, em nome de Z
com a triste histria de Pai Jac No entanto, quando lhe pergun-
tamos que entidade gostava mais de receber, ele respondeu:
Eu gosto de trabalhar com meu exu Z Pelintra, porque
eu acho ele mais bacana. O povo gosta muito dele, ento isso
pra mim um prazer. Gostam muito dele, ele muito procura-
do. Porque o povo j acostumou com ele, se da muito bem
com ele quando pede alguma coisa. Ele promete aquilo e da
muito certo. O povo traz bebida pra ele, cigarro, tudo o que
ele quer, eles calo.
Assim, o comportamento de cada entidade e o alcance de sua
atuao dependem em grande parte desse rearranjo privado que o
mdium realiza. Se, no caso de Tadeu, Z Pelintra era a entidade
mais popular, no caso de seu Jos, por exemplo, os exus ocupam
uma posio perifrica na preferncia dos fieis que procuram
intensamente o preto-velho Tio Antonio. Seu Jos, que durante o
dia trabalha como chofer na Secretaria de Sade de Belo Horizonte,
recebe, em seu terreiro, Tio Antonio, preto-velho capaz de resolver
todo tipo de problema. Enquanto as outras entidades ( tambm
preto-velhos) do passes e conversam ligeiramente com os
freqentadores, Tio Antonio permanece numa sala ao lado,
espcie de "consultrio", onde conversa longamente com grande
nmero de "clientes", distribuindo o remdios adequado para
desempregados, noivas abandonadas, fracassados de toda sorte,
doentes, etc. Nesse centro os caboclos ocupam uma posi o
perifrica e os exus raramente descem.
Essa reinterpretao pessoal da personagem mtica redefine no
somente o tipo de atuao que uma entidade "concreta" vai exercer,
mas tambm a natureza de seu carter: cada mdium, em funo
de sua prpria personalidade e de sua histria pessoal, vive o papel
mtico que lhe destinado de maneira particular. Tadeu, por exem-
plo, recebe o exu Z Pelintra no terreiro de D. Conceio; embora
tenha "sido feito" no candombl, freqenta o centro "pra ajuda", j
que segundo ele os mdiuns ali so, muito ruins, no sabendo
puxar os pontos e atravessando no ritmo. Quando recebe Z Pelin-
tra, Tadeu se transforma: veste um grande chapu de couro, tipo
cowboy, canta, briga, brinca, exerce amplamente sua autoridade
sobre os cambonos que o servem, exige cerveja, cigarros e outros
presentes, torna-se voluntarioso e irascvel. Tem-se a impresso de
257
Pelintra, a sentimentos que no contexto familiar ou da escola,
por exemplo, no so considerados legtimos.
No, nunca se dei bem com a famlia conta ele.
Por causa dos irmos. Porque sempre esse negcio de me
chamar de doido, doido; ento fui revoltando, brigando, ma-
chucava, batia neles mesmo. Ento eu nunca me dei bem com
el es ( el es achavam que eu er a doi do) por causa de. . .
problemas assim de escola, n. Negcio de leitura, de estudar,
eu no gostava de estudar. Do tipo assim. . . se eu ficasse
uma hora na sala de aula, era muito. Sala, pulava a janela e
is embora. Professora viesse me barra eu garrava a professora,
jogava a professora no cho... Esses problema todo. Conver -
sava muito sozinho tambm. Quando eu tava nervoso, con-
versava muito sozinho, xingava .. .
(...) Uma vez nos ms eu vou v eles (os pais). Gente
tem saudade, a famlia da gente, o sangue da gente, n...
apesar de t udo. . . mas, pr a vi ver no da mai s Eu no
acostumo com o jeito deles no. Agora eu j andei muito,
meu modo de viver out ro (. . . ). O j eito deles de viver
assim muito preso. Compreende? Querer dominar muito a
gente. Eu no gosto de ningum me domina. Eu gosto de
viver pela minha cabea, por si mesmo. Acontea o que aconte-
cer, eu mesmo que resolvo os meus problemas.
Outro caso ilustrativo delta espcie de "interpretao" entre
santo e histria pessoal o caso de Sonia. De sua infncia na
pequena cidade de Grana, Sonia s traz difceis recordaes:
( . . . ) Eu t enho medo de pai e t enho de. . . mame.
Menina, se voc soubesse, desde a idade de sete anos que
eu sofro... L em casa mame no deixava sair para nada.
Nunca sal. . . Nunca fiz um passeio. . . (. . . ). Papai tambm
f oi sever o. Qui s quebr ar mi nha cabea bat i a . oh, j
dormi no mato por causa dos outros. Os outros que fazia arte,
eles vinha em cima de mim. Tudo j fiz nessa vida.
A maneira como cada mdium interpreta seu personagem,
em funo dos elementos de sua prpria vida pessoal, fica bem mais
claro neste trecho da entrevista de Sonia:
258
Eu tava com sete anos, que nem falar direito eu no
falava. Depois que eu vim pra aqui (Belo Horizonte) que eu
aprendi a fala mesmo. No conversava no porque l em casa no
podia conversa... Teve um dia que eu sai com ela ( a me) ,
cheguei na casa de uns padr i nho. . . f al ei nada pra
ningum, nem a beno padrinho, nem ningum. Ai eles
perguntou se eu era muda, se eu tinha ficado muda. Ai vim
mesmo conversar mesmo depois que eu sai de casa .. .
Logo depois, ao explicar como era o preto-velho que recebia,
Sonia nos diz:
Mas o meu Preto-velho no gosta muito de conversar. As
pessoas costumam muito conversar, ele no; ele gosta de
fazer s correr a gira... manda a pessoa firmar. Porque
ele no gosta de falar no. No gosta . . . ( . . . ). Corre a gira da
pessoa, manda reza: reza que eu to ajudo; problema assim se
arresolve mais depressa.
Temos ainda o caso da mdium Sandrinha, que diz:
At hoje eu ainda sou a ovelha negra da famlia, a re-
belde. Ento eu pintava, tudo o que eu fazia no era bem
limpo. Eu se, no tinha esses defeitos brutos. Mas minha me
j foi muito a policia, teve de it muito no distrito por causa
de mim.
E ao falar de sua entidade, Sandrinha observa:
O esprito a igual a gente. Voc tem que chegar num lugar
e tem que se comportar, ele no pode chegar quebrando tudo,
espantando o povo que to na assistncia. Ele tem que aprender
a chegar direitinho, descer e subir direitinho. Porque, antes,
eu recebia nos outros centros, mas quando a entidade descia
ela tinha que quebrar pelo menos o que encontrava no cho.
Chegava no altar e quebrava os santos. Porque ele no gostava
de santo.
Esses exemplos nos permitem observar que a demanda dos
adeptos surge na confluncia de trs fatores: as representaes
abstratas que informam cada categoria de espritos, delimitando seu
campo de atuao; a atualizao de cada categoria num mdium
259
que a torna uma entidade especifica, nomeada, mais ou menos
poderosa, mais ou menos carismtica, mais ou menos conhecida
pela sua eficincia; a expectativa dos freqentadores e o tipo de
problema que os perturba. Em funo da empatia que o
freqentador estabelece com seu "guia", ele decide o que e como
vai efetuar o seu pedido. "No se pode pedir coisas para um
esprito que no se goste", diz um informante, enquanto que um
outro freqentador afirma que nunca pediri a emprego a um exu,
porque exu um empregado, e "se eu vou pedir emprego, vou
pedir a quem tem possibilidade de me arrumar, que o dono da
empresa, no um operrio". A me-de-santo Cileny, ao comentar
sobre o preto-velho Pai Joaquim, a quem costuma confiar seus
problemas, nos diz:
Preto-velho no a como exu no, que a seu favor e con-
tra mim. O preto-velho a seu favor e a meu favor. E o exu,
no, a gente pede uma coisa pra eles mas fica assim meio du-
vidosa. As vezes a gente confia neles, mas sempre com o olho
aberto. Sei 16 se de uma hora pra outra eles resolvem e viram o
negcio ao contrario. Mas preto-velho no, o que ele mandar
voc fazer voc pode fazer confiada.
J a freqentadora Maria, comentando a respeito das
entidades com quem costuma conversar, nos conta:
O que eu gosto mesmo da pomba-gira, porque ela alegre,
brinca muito com a gente, sabe. Sempre vou 1, ela to brincando, ela
tem mania de levantar a saia. Eu tambm gosto de preto-velho, mas acho,
assim, muito serio, no muito brincalho. Por isso eu sempre
converso com a pomba-gira.
Assim, em alguns centros, um preto-velho que se torna o per-
sonagem principal, em outro, um exu ou uma pomba-gira, em outro
ainda, mais raramente, um caboclo. E isto porque a verossimilhana e
a empatia da interpretao de cada mdium elemento importante de
sua popularidade junto aos adeptos.
Um movimento de vaivm constante se estabelece pois entre os
trs termos que organizam o processo da demanda: as representaes
gerais orientam a demanda no sentido de que a cada tipo de proble-
ma corresponda a atuao de uma categoria especifica de entidades
(caboclos, a firmeza; pretos-veihos, benzees e aconselhamento;
exus, problemas amorosos e financeiros); a empatia na atuao das
260
entidades e o renome que elas alcanam com sua atuao intervm
nessa distribuio (os pretos-velhos, por exemplo, passam a resolver
problemas amorosos e financeiros, como no caso citado de seu Jos); e
finalmente o pblico os demandantes que escolhe as entida-
des com quem conversar em funo de sua preferncia. De qualquer
maneira, a demanda que se constitui no elemento propulsor de todo
o sistema. E ela que lana os exus em sua subverso obstinada das
regras sociais, ela que reclama a sabia compreenso dos pretos--
velhos, ela que procura o resguardo na fora dos
.
caboclos. Por
outro lado, o processo da demanda, enquanto pratica social, consti-
tui-se para o individuo num momento de conscincia, em que a
experincia privada da dor se articula a dramatizao social dos
conflitos vivida na experincia mtica do transe. Nessa relao o
individuo se v a si mesmo projetado num conjunto mais
abrangente e sistemtico de smbolos, que o torna capaz de
estabelecer relaes entre os diferentes domnios de sua vivencia social,
distingui-la na multiplicidade de seus aspectos, reconstruir sua
complexidade, discernir enfim o que nela existe de necessrio ou de
arbitrrio. E esse processo de objetivao do vivido constitui-se,
talvez, num primeiro passo em direo a possibilidade de uma
transformao objetiva.
261
NOTAS
LEVI-STRAUSS, C., O pensamento selvagem, So Paulo, Cia. Ed. Na-
cional, 1970, p. 247.
1. ORTIZ, R., "tica, Poder e Poltica: Umbanda, uma Mito-Ideologia",
mimeo, 1983.
2. Ver SCLIAR, M., Umbanda, magia branca, Rio de Janeiro, Ed. Eco, 1971.
3. BRAGA, Loureno, Umbanda e quimbanda, 1956, 10.
a
ed., p. 18.
4. SCLIAR, M., op. cit.
5. BASTIDE, R., Estudos afro-brasileiros, So Paulo, Ed. Perspectiva, 1973,
p. 244.
6. Idem, p. 244.
7. ORTIZ, R., A morte branca do feiticeiro negro, Rio de Janeiro, Ed.
Vozes, 1978, p. 31.
8. TORRES, B. de Freitas, Camba de umbanda, Ed. Aurora, 2.
a
ed., p. 28.
9. ORTIZ, R., idem, p. 141.
10. BANDEIRA, C., O que a umbanda?, Rio de Janeiro, Ed. Eco, 1970,
p. 115.
11. OLIVEIRA, J., Umbanda transcendental, Rio de Janeiro, 1971, p. 73.
12. BASTIDE, R., As religies africanas no Brasil, So Paulo, Ed. USP, Vol.
2, 1960, p. 437.
13. FONTENELLE, O esprito no conceito das religies e a lei da umbanda,
Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista, 2.
a
ed., p. 74.
14. Idem, p. 78.
15. BRAGA, L., Umbanda e magia branca, Rio de Janeiro, 1968, p. 58.
16. Sobre os esteretipos e o comportamento inter-racial em So Paulo, ver
FERNANDES, Florestan, e BASTIDE, Roger, Brancos e negros em
Paulo, So Paulo, Brasiliana, 1971, 3.
a
ed.
17. FONTENELLE, A., op. cit., p. 59.
18. BASTIDE, R., op. cit., p. 422.
19. BASTIDE, R., "A Imprensa Negra de So Paulo", in Estudos afro-bra-
sileiros, So Paulo, Ed. Perspectiva, 1973, p. 132.
20. Idem, p. 134.
21. "A Voz da Raa", III 63/64, in BASTIDE, op. cit., p. 151.
22. NUNES FILHO, A., "Nitau", in Mironga, nov. de 72, n. 8.
23. A Voz da Raa, I, 10 e 32.
25. TEIXEIRA, A. A., O livro dos mdiuns de umbanda, Rio de Janeiro,
Ed. Eco, 1970, 2.
a
ed., p. 194.
26. Ver SKIDMORE, T., Preto no branco, Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra,
1976, p. 81.
27. Idem, p. 144.
28. Ver AMARAL, R. J. do, "O Negro na Populao de So Paulo", pp.
70-71, in FERNANDES F., Integrao do negro na sociedade de classes,
So Paulo, tica, 1978, p. 112.
29. BASTIDE, R., op. cit., p. 144.
30. SANTOS, A., A Voz da Raa, III, 52.
31. BASTIDE, R., op. cit., p. 153.
32. BASTIDE, R., "Macumba Paulista", in op. cit., p. 193.
262
33. MAGNO, O., Ritual prtico de umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Espiritua-
lista, p. 11.
34. BASTIDE, R., As Amricas negras, So Paulo, Difel, 1974, p. 70.
35. BASTIDE, R., op. cit., p. 436.
36. ORTIZ, R., op. cit., p. 122.
37. Ver a esse respeito BASTIDE, Roger, "Immigration et Metamorphose
d'un Dieu", in Le Prochain et le Lointain, Ed. Sociales, 1970, e ORTIZ, R.,
"Exu, um Anjo Decaido", op. cit., cap. V.
38. FERNANDES, F., O negro no mundo dos brancos, So Paulo, Difusho
Europeia do Livro, 1972, pp. 65-66.
39. Idem, p. 68.
40. FERNANDES, F., A integrao do negro numa sociedade de classes, So
Paulo, Ed. Atica, 1978, 3.
a
ed., Vol. I, p. 143.
41. Idem, p. 145.
42. Idem.
43. Idem, p. 147.
44. In TRINDADE, Liana, op. cit., 1970.
45. BRAGA, L., op. cit., p. 27.
46. Ver a esse respeito AURELIO, Marco, e LAPASSADE, George, O se-
gredo da macumba, So Paulo, Ed. Paz e Terra, 1972.
47. Ver BASTIDE, Roger, Le Candomble de Bahia, La Haye, Mouton et
Cie., 1958; Le Sacre Sauvage, Paris, Payot, 1975.
48. TRINDADE, L., op. cit., p. 104.
49. Idem.
50. FONTENELLE, A., op. cit., pp. 53-77.
51. TEIXEIRA, A., Umbanda dos pretos-velhos, Rio de Janeiro, Ed. Eco,
2.
a
ed., p. 58.
52. ORTIZ, R., op. cit., cap. VII.
53. BANDEIRA, C., op. cit., p. 138.
54. BERZELIUS, G., Mediunismo, Belo Horizonte.
55. Ver: DECELSO, Umbanda de caboclos, Ed. Eco.
BRAGA, Lourenco, Umbanda e quimbanda, Rio de Janeiro, 1955, 10.
a
ed.
CISNEIROS, I., Fundamentos de umbanda, Rio de Janeiro, Equipe
Editorej.
MOLINA, 3.777 pontos cantados e riscados, Rio de Janeiro, Ed. Espiri-
tualista; Saravci pomba-gira, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista, 2.
a
ed.
SEM AUTOR., 777 pontos cantados e riscados da umbanda, Ed. Espiri-
tualista, 3.000 pontos riscados e cantados na umbanda e no candomble,
Ed Eco.
FERREIRA, Firmino, 300 pontos cantados de exu e pomba-gira, Rio
de Janeiro, Ed. Eco, 1976.
FREITAS, Byron Torres de, Na gira da umbanda e das almas, Rio de
Janeiro, Ed. Eco, 2.
a
ed.
56. BASTIDE, R., op. cit., pp. 33-34.
57..E teoria do "branqueamento", aceita pela maior parte da elite brasileira
nos anos que vao de 1889 a 1914, baseava-se na suposigfio da superioridade
da raa branca sobre a negra, por um lado, e na crenga, por outro, que a
miscigenao levaria naturalmente a um Brasil mais branco, "em parte por-
263
que o gene branco era considerado mais forte, e em parte porque as pes -
soas procurassem parceiros mais claros do que eles". Ver SKIDMORE,
Thomas, Preto no branco, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, p. 81.
58. Ver BASTIDE, R., La Femme de Couleur en Amerique Latine, Paris,
Anthropos, 1974.
59. MOLINA, Umbanda de pretos-velhos, Rio de Janeiro, Ed. Eco, p. 47.
60. TEIXEIRA, A. A., op. cit., p. 47.
61. In HERTZ, R., Sociologie Religieuse et Folclore, Paris, PUF, 1970,
P
.
72.
62. In BALANDIER, G., Antropolgicas, So Paulo, Ed. Cultrix, 1976,
p. 23.
63. Ver ANDRADE, Mario de, Masica e feiticaria no Brasil, So Paulo,
L. Martins.
64. BASTIDE, R., "Venus Noire et Apolions Noirs", in Le Prochain et
Le Lointain, Paris, Ed. Cujas, 1970, p. 78.
65. SOUZA, Leal de, Umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista.
66. MATTA, Roberto da, Carnaval, malandros e herdis, Rio de Janeiro,
Ed. Zahar, 1931, p. 70.
67. CISNEIROS, I., op. cit., p. 142.
68. DURHAN, Eunice, A caminho da cidade, So Paulo, Ed. Perspecriva,
1973, p. 207.
69. Idem, p. 208.
70. Idem, p. 220.
71. RODRIGUES, Aracky, Operdrio, operdria, So Paulo, Ed. Simbolo,
1978, p. 90.
72. Idem, p. 95.
73. Idem.
74. Idem, pp. 67-68.
75. Idem, p. 130.
76. GEERTZ, C., A interpretao da cultura, Rio de Janeiro, Zahar, 1978,
p. 27.
77. LOUZA, Francisco, Umbanda e psicandlise, Rio de Janeiro, Ed. Espiri-
tualista, 1971, p. 79.
78. FREITAS, Byron de, Camba de umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Aurora,
2.
a
ed.
79. BANDEIRA, Cavalcanti, op. cit., p. 131.
80. DECELSO, op. cit., p. 85.
8 I . Idem
82. Sobre a autoridade das mfies-de-santo, ver SILVERSTEIN, Leni, "Me de
Todo Mundo", Religiao e Sociedade, n. 4, 1979; e ORTIZ, Renato, "La
Matricolarite Religieuse", Paris, Diogenes, n. 105, Gallimard, 1979.
83. Op. cit., p. 127.
84 OLIVEN, Ruben, Violncia e cultura urbana no Brasil, Petropolis, Ed.
Vozes, 1982, p. 34.
8.5. MATTA E SILVA, Macumbas e candombl es na umbanda, Rio de
Janeiro, Livraria Freitas Bastos, pp. 113-115 e 119-120.
354
CONCLUSES
P ODE-SE DIZER, de um modo geral, que nosso trabalho
procurou compreender, tomando como pretexto a cura mgica, de
que maneira grupos sociais desprivilegiados so capazes de produ-
zir, no interior de um sistema teraputico hegemnico o da Me-
dicina universitria prticas culturais mais ou menos pr prias.
A partir de nossa analise pudemos perceber que o conceito umban-
dista de doena se constitui no interior mesmo dessa relao desi-
gual, relao esta que define, de antemo, os limites e a morfologia
do campo dentro do qual as prticas mgicas devem operar. A
teraputica religiosa, para exercer-se, tem que levar em conta sua
posio subalterna na concorrncia pela hegemona explicativa
dos fenmenos mrbidos. Ela no pode negar o status
privilegiado da posio social ocupada pelo mdico, sua possibilidade
de acesso aos recursos econmicos e tecnolgicos, seu domnio de
um conhecimento altamente especializado que se traduz, em
ltima analise, numa posio de classe. Essa relao desigual se
reflete, como vimos, nas prticas mgico-teraputicas que passam a
atuar dentro de uma ambivalncia estrutural.
Por um lado, tomam como modelo para a organizao de suas
prticas a Medicina oficial. Apropriam-se simbolicamente de seus
gestos, de suas falas, imitam roupas imaculadamente brancas,
reinterpretam o ambiente e a lgica da organizao hospitalar. No
entanto, justamente porque no se trata para a "medicina" mgica
de uma interveno tcnica a nvel do organismo "doente", nem
de transformar objetivamente a casa de culto num "pronto-socorro
gratuito", essa apropriao do modelo mdico deixa de ser uma
265
simples "cpia simplificada" de um modelo dominante para se
tornar uma reinterpretao simblica de elementos caractersticos a
atuao da Medicina: limpeza, organizao burocrtica,
medicao, relaes de autoridade, eficincia no controle sobre o real,
etc. Esta reinterpretao, ao deslocar o sentido original dos
elementos retirando-os isoladamente de seu contexto original, institui
um espao "teraputico" especifico que faz da "cura" um
paradigma para a atuao e resoluo de problema de natureza mais
ampla.
Por outro lado, negam esse modelo e procuram afirmar a supe-
rioridade da cura mgica sobre a cura medica. Mas aqui tambm
essa afirmao se faz de maneira ambivalente. Justamente pela posi -
o subalterna que ocupa, o discurso mgico no pode ser auto-refe-
rente: sua eficcia se define em funo do que ela pode, a mais
ou a menos, do que a Medicina oficial. A teraputica mgica no pode,
portanto, simplesmente "negar" a Medicina. Para afirmar pois a ne-
cessidade de sua atuao, procura definir competncias diferenciais
e complementares: a umbanda resolveria problemas da ordem "espi-
ritual", enquanto que a Medicina resolveria problemas da ordem
"material". Mas ao mesmo tempo em que define seu campo de atua-
o, em relao ao campo de atuao da Medicina (enquanto esta
simplesmente desconhece a existncia de outras medicinas que no
ela prpria), a umbanda afirma a superioridade de seu campo de
atuao: ela resolve casos que a Medicina no consegue resolver e,
no limite, sua atuao prevalece sobre a da Medicina, posto que a
causalidade ltima das doenas uma causalidade espiritual.
Estes so os limites socialmente definidos, no interior dos quais
devem atuar as prticas religiosas de cura. Somente reconhecendo a
objetividade desses limites, procurando atuar a partir das regras que
sua lgica interna impe, e insinuando-se pelas frestas vazias que se
abrem no interior desse sistema hegemnico, em funo das contra-
dies que lhe so prprias, que as prticas mgico-teraputicas
conseguem ludibriar as regras do jogo que organizam o campo social
da sade e instaurar um espao "teraputico", que vai muito mais
alm do que a simples restaurao de um organismo doente, e se
torna portanto muito mais condizente com as aspiraes e necessi-
dades dos grupos sociais mais desfavorecidos.
354
Mas que espao "teraputico" esse, quais as leis que organi -
zam seu funcionamento e de que maneira ele se diferencia do espao
institudo pela Medicina oficial? Essas so as questes que procura-
mos responder nos captulos II e III. A especificidade do espao
"teraputico" institudo nas casas de culto se define, mais uma vez,
em contraposio ao modelo oficial. Quando se considera a natureza
do atendimento mdico a que as populaes de baixa renda tem
acesso nos grandes centros urbanos, pode-se compreender melhor
por que os centros umbandistas e espritas, como tambm os cultos
pentecostais, tem atrado, de maneira crescente, as demandas
teraputicas desses grupos. Vimos que para alm da precariedade
das condies desse atendimento a prpria lgica institucional tende a
favorecer relaes desiguais e de autoridade entre atendentes e assis-
tidos, relaes estas muitas vezes percebidas como "insuportveis"
por aqueles que passam a freqentar as casas de culto. Por outro
lado vimos que a lgica que orienta a teraputica cientfica fica
muito aqum das necessidades de significao do fenmeno mr-
bido, no sendo capaz de incorporar em seu diagnstico ou medi-
cao os desajustes afetivos e sociais que para o paciente aparecem
associados ao surgimento dos problemas propriamente fisiolgicos.
A concepo religiosa de doena, ao contrario, capaz de articular
essas varias dimenses da experincia mrbida o orgnico, o
psicolgico e o social , cimentando-as de um sentido mtico
mais universal.
Essa capacidade que o discurso religioso tem de "costurar" a
multiplicidade de sensaes e acontecimentos percebidos de maneira
catica e atomizada pelo individuo "doente" confere ao sistema mgico-
religioso de cura uma abrangncia muito mais ampla quando comparado
ao sistema mdico, pois situa os limites de sua atuao para alm
das finalidades puramente tcnicas da cura: por um lado, ao situar
a "doena" dentro de um quadro mais geral, que ao mesmo
tempo o quadro da desorganizao da pessoa, da ordem social e da
ordem csmica, o discurso religioso se torna capaz de arrancar o
individuo do puro subjetivismo de sua dor. Ele passa assim a
funcionar como um elemento favorecedor do surgimento de uma
conscincia capaz de compreender e operar com uma "teoria" da
organizao do mundo social, da natureza de seus conflitos, da
posio do sujeito, enquanto individuo, no interior desses conflitos.
Essa possibilidade de articulao e expresso objetiva de aconteci-
mentos, antes percebidos pelo sujeito como caticos e estritamente
individuais, essa transformao da pura subjetividade em "momen-
267
to de objetividade", para utilizar a expresso de Sartre,' abre para
o sujeito a possibilidade de uma interveno pr
tica na ordem do
mundo.
Mas qual a natureza dessa interveno sobre o real, que passa
pela mediao de operaes puramente simblicas como o so os
rituais mgicos? Seriam eles uma simples Husk que renuncia a ser
confirmada pelo real, a simples projeo num mundo sobrenatural
da onipotncia do desejo, como diria Freud?
2
Que iluso coletiva
seria essa que, apesar de inteiramente voltada para a busca de solu-
es concretas, se abstivesse sistematicamente de obter do mundo
mudanas objetivas para no rever seus prprios pressupostos? So
estas questes que procuramos responder no que se refere a "de-
manda", quando analisamos o encontro ritual entre desejos ou ne-
cessidades individuais e as "operaes mgicas". O processo da de-
manda se consubstancia, como vimos, no encontro de uma subje -
tividade atomizada e catica, que o individuo que "pede", e a
objetividade de um sistema especulativo e atomizante, socialmente
produzido. Nesse encontro, a experincia individual passa a integrar
esse conjunto de relaes e conflitos tematizados pelo universo
simblico religioso: frustraes, antagonismos, contradies pessoais, se
articulam ento a um sistema significativo, e abrem a possibilidade
para o individuo compreender que seus males no advm
simplesmente de sua "fraqueza" ou "inferioridade" pessoal, mas
tem a ver com a prpria lgica que ordena sua insero no todo
social. Nesse processo de articulao simblica o fenmeno mrbido
deixa de ser compreendido como simples negatividade negao da
fora, da normalidade, da vida e se torna positividade: o corpo
fala de uma situao que deve ser superada pela adeso do
individuo ao culto. Ora, esse processo de adeso ao culto, embora
signifique a aceitao de um sistema especulativo (no sentido
durkheiminiano de tornar compreensveis as relaes existentes),
no isento de conseqncias prticas. Se o "processo da demanda"
naturalmente incapaz de promover uma transformao objetiva a
nvel da organizao social abrangente, essa ordenao da experincia
pelo mito transforma qualitativamente a relao do eu com o mundo,
abrindo alguns caminhos atravs dos quais um certo rearranjo das
relaes pessoais, do enfrentamento das questes e consequentemente
das situaes-problemas se torna possvel. Se analisarmos esse
processo a partir do plo do mdium ou pai/me-de-santo, que so
aqueles que operam praticamente com os valores mticos, temos que
o exerccio da mediunidade, a convivncia sistemtica no terreiro, o
268
enfrentamento cotidiano de problemas que so comuns ao grupo
como um todo, fazem da atividade do culto um lugar social e
simblico capaz de produzir um certo rearranjo, a nvel das relaes
interpessoais e familiares. Os elementos tradicionalmente
subjugados e passivos (como a mulher e o negro) encontram nas
casas de cultos meios para se fazerem respeitados e queridos: o
exerccio da mediunidade lhes confere uma certa autoridade sobre os
que os procuram, possibilitando-lhes o desenvolvimento de uma
esfera de atividade relativamente autnoma onde podem
desenvolver, com criatividade, a arte de interpretar, articular,
dramatizar as experincia s singulares de cada um. O tornar-se
mdium, ou pai/me-de-santo, ou mesmo o dedicar-se a alguma funo
mais secundaria dentro da hierarquia do culto (cambono,
atabaqueiro, secretaria, etc.), traz conseqncias objetivas a
natureza da insero social do sujeito ao transformar seu estatuto
dentro da famlia ou de seu grupo de convivncia. E isto porque o
desenvolvimento medinico e a experincia no exerccio da
caridade tornam o individuo detentor de um certo capital
carismtico, que o reveste de uma nova respeitabilidade social e mo-
ral. O comercio com os espritos sempre visto nos grupos popu-
lares com muito respeito pelos que crem, e imensa desconfiana
pelos que duvidam. Por outro lado, no se pode deixar de consi-
derar que o trato continuado com os problemas que lhe so trazidos
insere o mdium numa rede de solidariedade capaz de engendrar
todo um circuito de pequenos poderes, favores e influencias, abrin-
do alguns canais de eficincia prtica para a soluo de problemas
mais ou menos imediatos.*
Se analisarmos agora o processo da demanda do ponto de vista
do demandante, veremos que os mesmos elementos da analise se
mantm. Esse encontro de uma subjetividade "catica" com um sis-
tema coerente portador de sentido significa, para o sujeito, a passa-
gem de uma experincia dolorosa, porque contraditria e
incompreensvel, para uma experincia desejada, que a experincia da
me-
* Um exemplo disso e o caso do pai-de-santo seu Jos, que
tendo resolvido os problemas financeiros de um rico fazendeiro no interior
passou a conseguir de maneira mais ou menos sistemtica favores com os
quais podia beneficiar outros "clientes"; ou ainda o caso do funcionrio
pblico Wamy, que por desempenhar um importante papel na organizao dos
terreiros belo-horizontinos em federao conseguia obter substanciais vantagens
para os terreiros junto a prefeitura e secretarias governamentais.
269
dignidade. O "cliente" pede ao mdium, porque supe que, pela sua
major proximidade com o sagrado, ele detm major poder de
interferncia no mundo. No entanto qualquer "soluo" mais ou
menos duradoura passa necessariamente pela transformao do
demandante em mdium. O processo da demanda portanto um
processo sem fim e que implica na transformao qualitativa do
estatuto dos indivduos nele implicados. Nessa relao torna-se possvel
inverter em beneficio prpio as regras do jogo social, seja pela
criao de um circuito prpio de solidariedade social, seja pela
possibilidade de articular um discurso mais universal sobre o eu
e sobre o social (discurso este que a prpria natureza da insero
social dos grupos mais desfavorecidos impede normalmente de
produzir), seja finalmente pela possibilidade de subverter no
espao de atuao do terreiro as regras morais e de autoridade
prevalecentes na sociedade abrangente.
So esses elementos que nos levam a concluir que o "processo
da demanda", enquanto ritual "teraputico", institui um espao de
linguagem e de no"alternativo" para as camadas populares, com
relao aos canais de no e de significao que lhe so oferecidos
em outras esferas do mundo social. No que esse espao se consti-
tua num lugar de inverso total e efetiva
'
da ordem social abrangen-
te, nem muito menos num espao de produo de uma contra-socie-
dade alternativa. Mas de qualquer maneira parece-nos legitimo con-
cluir que, mesmo no interior dos limites impostos pela ordem domi -
nante, os grupos sociais populares so capazes de produzir prticas
culturais prprias. Jogando o jogo da cura, mdiuns, pais-de-santo e
clientes se subtraem, resistem e at mesmo se opem ao jogo dos
grupos hegemnicos, produzindo elementos de subverso que podem,
quem sabe, vir a tornar-se a for-9a motriz de um novo jogo.
270
NOTAS
1. SARTRE, J.-P., Questo de mtodo, So Paulo, Ed. Difuso Europia do
Livro, p. 81.
2. FREUD, S., L'Avenir d'une Illusion, Paris, PUF, 1973, p. 45.
271
272
BIBLIOGRAFIA GERAL
ALBUQUERQUE, Jos Augusto G., "Produo e Reproduo Insti-
tucional", Tese, 1977.
ALBUQUERQUE, Jos Augusto G. e RIBEIRO, E., Da assistncia
a disciplina: o programa de sade comunitria, So Paulo,
FFLCH USP, 1979.
ALTHUSSER, L., "Ideologie et Appareils ldeologiques d'Etat", La
Pense, n. 151, junho de 1970. Traduo brasileira: Aparelhos
ideolgicos de estado, Rio de Janeiro, Graal, 1983.
ALVES, Rubem, "Religio e Enfermidade", in Construo social da
enfermidade, So Paulo, Cortez e Morais, 1978.
ANCHIETA, Jos de, "Cartas Avulsas", in Os jesutas no Brasil e a
medicina, Serafim Leite, Lisboa, 1936.
ANDRADE, Mario, Msica e feitiaria no Brasil, So Paulo, Livra-
ria Martins.
, Namoros com a medicina, Porto Alegre, Ed. Globo, 1939.
ANSART, Pierre, Ideologias, conflitos e poder, Rio de Janeiro, Za-
har, 1978.
ANTONIL, Cultura e opulncia no Brasil, Lisboa, 1711, traduo
francesa, Ed. Institut de Hautes Etudes de l'Amerique Latine,
Paris, 1968.
ASSIS, Machado de, O alienista, So Paulo, Ed. Atica, 1976, 4.a
ed.
ARAUJO, Alceu Maynard, A medicina rstica, So Paulo, Ed. Bra-
siliana.
, "Alguns Ritos Mgicos", Rev. do Arquivo Municipal de So
Paulo, 1954-1956, V. CLXI, 1958.
BALANDIER, Georges, Antropo-lgicas, So Paulo, Cultrix, 1976.
, "Ethnologie et Psychiatrie", Critique IV, 1948.
273
BARBOSA, Waldemar de Almeida, A decadncia de Minas e a fuga
da minerao, Belo Horizonte, 1971.
BARROSO, Gustavo, Terra do sol, Rio de Janeiro, Livraria Fran-
cisco Alves, 3.' ed., 1930.
BASTIDE, Roger, "Les Maladies Mentales des Noirs en Afrique
du Sud", E. L. Margets, Ed. Psychiatrie Africaine, in Le Reve,
la Transe et la Folie.
_______ , Le Chteau Interieur de l'Homme Noir, Paris, A. Colin,
1954, pp. 255-260.
, Le Candomble de Bahia: Rite Nago, La Haye, Mouton
et Cie., 1958.
, As Religioes Africanas no Brasil, So Paulo, Ed. USP, Vol. I
e II, 1960.
, Sociologie des Maladies Mentales, Paris, Flammarion,
1966, 278 p.
_______ , Le Prochain et le Lointain, Paris, Ed. Sociales, 1970.
, Le Reve, la Transe et la Folie, Paris, Flammarion, 1972, p.
258.
, Sociologie et Psychanalyse, Paris, PUF, 1972, 317 p., 2.'
ed.
, Estudos afro-brasileiros, So Paulo, Ed. Perspectiva,
1973.
_______ , As Americas negras, So Paulo, Ed. Difel, 1974.
, La Femme de Couleur en Amerigue Latine, Paris, An-
tropos, 1974.
_______ , Le Sacre Sauvage, Paris, Payot, 1975.
_______ , A psicandlise do cafune e estudos de sociologic estetica
brasileira, Curitiba, Ed. Guaira Ltda., 141 p., pp. 55-75.
________ , Le Spiritisme Devant la Sociologie et la Psychanalyse,
Estado de So Paulo, 18/5/1947.
, "Medicina e Magia nos Candombles", Bol. Bibliogrcifico
n. XVI, Dif. de Cultura, So Paulo, 1959.
, "Sociologia de la Loucura", Rev. Mexicana de Sociologia,
XXVII, 2 (pp. 517-34), 1966.
, "Les Techniques du Repos et de la Relaxation" (Etude
transculturelle), 3. Congres International de Medecine Psy-
chosomatique, Paris, 25 p., polycopie, 1966.
, "Protestantisme et Medecine de Folk", Rev. de Etno-
grafia, Posto XV, 2 (pp. 321-332), 1971.
BENEDICT, Ruth, Padres de cultura, Lisboa, Ed. Livros do Bra-
sil, 1934.
274
BERGER, P., LUCKMANN, T., A construcuo social da realidade,
Petropolis, Ed. Vozes, 1973.
BOLTANSKI, Luc, Os usos sociais do corpo, Bahia, Ed. Periferia,
1975.
, As classes sociais e o corpo, Rio de Janeiro, Graal, 1979.
, La Decouverte de la Maladie, Paris, CESE, 1972. BOURDIEU,
Pierre,-Economia das trocas simblicas , So Paulo, Ed.
Perspectiva, 1975.
_________ , "Gaits de Classe et Style de Vie", Actes de la Recher-
che en Sciences Sociales n. 5, outubro de 1976, Paris.
BOURGUI GNON, E. , "Di vi nat i on, Tr anse et Possessi on en
Afrique Transsaharienne", in CAQUOT, A., e LEBOVICI,
M., Ed. La Divination, T. II, PUF, 1968.
BOUTEILLER, Marcelle, Chamanisme et Guerison Magique, Pa-
ris, PUF, 1950.
BRANDAO, Carlos Rodrigues, Crencas e costumes de comida em
Mossamedes, Serie Sociedades Rurais de Minas Gerais, Vol.
V, U.F. Goias, 1976.
_________ , O meio grito, Cadernos do DEFI, 3 de maio de 1980.
BRANDAO, C. T., Obrigatoriedade da Vaccinao e Revaccinao,
Camara dos Deputados, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,
1904.
BROWN, D., "O Papel Hist6rico da Cincia Medica na Umbanda",
Rel. e Socied., So Paulo, n. 1, maio de 1977.
CABRAL, Oswaldo, "A Medicina Teolgica e as Benzeduras", Se-
parata da Rev. Arquivo Mun. de So Paulo, n. LX, Departa-
mento de Cultura, 1958, 204 p.
CAMARGO, M. Lhereza, "Medicina Popular em Favela de So
Paulo", Rev. do Arquivo Municipal, n. CLXXXVI, So Paulo,
1970.
CAMPOS, Eduardo, Medicina popular do nordeste, So Paulo, Ed.
Casa do Estudante do Brasil, 1958.
CAMPOS, M. S., Poder, sade e gosto: um estudo antropolgico
acerca dos cuidados possiveis com a alimentao e o corpo,
So Paulo, Cortez, 1982.
CANGUILHEM, Georges, O normal e o patolcigico, Rio de Janei-
ro, Forense, 1978.
CARDOSO, Ruth, "Sociedade e Poder. As Representaes dos Fa-
velados de So Paulo", Ensaios de Opinicio, n. 2-4, 1978.
275
CARNEIRO, Edison, Candombls da Bahia, Rio de Janeiro, Ed.
Ouro, 1961, 3.
a
ed.
CASCUDO, Luis da Camara, Novos estudos afro-brasileiros, Rio de
Janeiro, Bib. de Divulgao Cientfica, 1937.
, Meleagro depoimento e pesquisa sobre a magia branca no
Brasil, Rio, Ed. Agir, 1951.
, Antropologia do folclore, So Paulo, Ed. Biblioteca de
Ciencias Sociais, 1971, 4.
a
ed.
CASTEL, Robert, A ordem psiquicitrica: a idade de ouro do alie-
nismo, Rio de Janeiro, Graal, 1978.
, O psicanalismo, Rio de Janeiro, Graal, 1978. CERTEAU, Michel
de, "La Culture de 1'Ordinaire", Paris, Esprit, out. de 1978.
CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleao, Dicionario de Med. Pop. das
Sciencias Acess6rias, 1890, 2 v., 6.
a
ed., Paris.
CID, Pablo, Plantas medicinais e ervas feiticeiras da Amazonia,
Atlantis, 1978.
CIRESE, M., "Conception du Monde, Philosophie Spontanee, Fol -
clore", in "Gramsci et l'Etat", Revue Dialectique Special n.
4-5.
COLLOMB et MARTINO, P., Possession et Psychopathologic,
Roneo, 1968.
CORREA, Mariza, "As Ilulhes da Liberdade A Escola Nina
Rodrigues e a Antropologia no Brasil", mimeo., So Paulo,
1982.
COSTA, E., "Mortalidade por Cancer Ginecolgico no Rio de Ja-
neiro", Rev. Brasileira de Cancerologia 26(6):41, 1976.
COUDRAY, J. P., DELPRETTI, M., LUCCIONI, H., SCOTTO,
Le Chaman et la Psychiatrie, Evolution Psychiatrique, jan. -
mar. de 1972, 37, 1, pp. 131-139.
CRUZ, G. L., Livro verde das plantas medicinais e industriais do
Brasil, 2 v., 1965, Veloso, Belo Horizonte.
DEVEREUX, Georges, "La Psychanalyse, Instrument d'Enquete
Ethnologique Donnees de Fait et Implication Lheoriques",
1957, in Ess. d'eth. Gen., Gallimard, 1970, 2.
a
ed., cap. XVI,
pp. 354-372. ,
, Une Theorie Ethnopsychiatrique de l'Adaptation, EPHE,
19-20 mai., 1964, 13 p.
, Ethopsychanalyse Comple'mentariste, Paris, Flammarion,
1972
276
, "Negativisme Social et Psychopathologie Criminelle",
1970, in Essais d'Ethnopsychiatrie Generale, Gallimard, 1970,
2.
a
ed., cap. III, pp. 107-123.
________ , "Normal et Anormal", 1956, in Essais d'Ethnopsychia-
trie Generale, Gallimard, 2. ed., 1970, cap. I, pp. 1-83.
DONNANGELO, Cecilia, Sande e sociedade, So Paulo, Ed. Duas
Cidades, 1979.
DORNAS FILHO, Joao, Achegas de etnografia e folclori,. Belo
Horizonte, Imprensa Publicaes, 1971.
________ , Capitulos da soc. bras., Rio de Janeiro, Col. Rex, 1955.
DIOP, M., MARTINO, P., ZEMPLINI, A., Le Psychiatrie Face
aux Lherapeutiques Tradicionnelles, Medicine d'Afriq. Noire,
1966, 13, 4.
DOUGLAS, Mary, Pureza e perigo, So Paulo, Ed. Perspectiva,
1966.
DUARTE, Luiz Fernando, "Doena de Nervos: um Estudo de Re-
presentao e Viso de Mundo de um Grupo de Trabalhado-
res", mimeo., So Paulo, 1979.
DUPUY, J. P., "Relations entre Depenses de Sante, Mortalite et
Morbidite", Paris, CEREBE, abril de 1973.
DURHAN, Eunice, A caminho da cidade, So Paulo, Ed. Pers-
pectiva, 1973.
, "Cul t ur a e Ideologia", in Folhet im, 3/5/1981, So
Paulo.
DURKHEIM, Emile, Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse,
Paris, PUF, 1968.
DURKHEIM, Emile e MAUSS, M., "De Quelques Formes Primi -
tives de Classification", in Oeuvres, n. 2, Paris, Ed. Minuit,
1968.
ELBEIN, Juana, Os nage) e a morte, Rio de Janeiro, Vozes, 1976.
ELLENBERGER, H., "Aspects Culturels de la Maladie
Mentale", Rev. de Psychologie des Peuples, XV, 3.
ELIADE, Mircea, Le Chamanisme et les Techniques Archalques de
l'Extase, Paris, 1951.
FERNANDES, Gonsalves, O sincretismo religioso no Brasil, Guai-
ra, Curitiba, 1942, 155 p.
FERNANDES, Florestan, "Sociologia e Psicanlise", Rev. de An-
tropologia, So Paulo.
, "Aspectos Mgicos do Folclore Paulistano", Rev. de Soc.,
1944, vol. VI, n. 2.
277
, Brancos e negros em So Paulo, So Paulo, Brasiliana,
1971, 3.' ed.
, O negro no mundo dos brancos, So Paulo, Difuso
Europeia do Livro, 1972.
, O folclore em questito, Col. Estudos Brasileiros, So
Paulo, Huatec, 1978.
, Integrao do negro na sociedade de classes, So Paulo,
Atica, 1978, 3.
a
ed.
F I LLOZAT , Ma g i e e t Me d i c i n e , P a r i s , P UF , 1 9 4 3 .
FONTENELLE, Raposo, Aimores analise antropolgica de um
programa de sade, DASP, 1959.
FOUCAULT, M., Maladie Mentale et Psychologie, Paris, PUF,
1962.
FREIRE, Jurandir da C., Ordem medica e norma familiar, Rio de
Janeiro, Graal, 1979.
FREUD, Sigmund, L'Avenir d'une Illusion, Paris, PUF, 1971. GEERTZ,
Clifford, A Interpretao da Cultura, Rio de Janeiro, Zahar,
1978.
GENNEP, Van, Les Rites de Passage, Paris, Mouton, 1969. GEORGE,
Eugenio, A ilusdo das vacinas e os escravos dos mdicos, Rio
de Janeiro, Canton e Beyer, 1913.
GOFFMANN, Erving, Asiles Etudes sur la Condition Social des
Maladies Mentales, Ed. Minuit, 1970, p. 447.
, A representactio do eu na vida cotidiana, Ed. Vozes,
1975, 233 p. (trad. de M. Celia S. Raposo), texto original:
1959.
GRAMSCI, Antonio, Literatura e vida national, Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira, 1968.
GRUPPI, Luciano, O conceito de hegemona em Gramsci, Rio de
Janeiro, Graal, 1978.
GUISANDE, Gumersindo Santez, Histria de la medicina, Col.
Oro de Cultura General, Ed. Atlantida, Buenos Aires, 1945.
HERSKOVITS, Melville, Pesquisas etnolgicas na Bahia, Salva-
dor, 1943.
________ , "Lhe Contribution of Afroamerican Studies to Africa-
ni st Resear ch
"
, Ameri can Ant ropol ogi st , n. 50, 1948.
HERTZ, Robert, Sociologie Religieuse et Folklore, Paris, PUF,
1970.
HEUSCH, Luc de, Pourquoi l'Epouser, Paris, Gallimard, 1971.
HOORNAERT, E., Histria da igreja no Brasil, Rio de
Janeiro, Vozes, 1977.
278
IBASIEZ-NOVION, "El Cuerpo Humano, la Enfermedad y su Re-
presentaciOn", mimeo., Rio de Janeiro, Museu, 1974.
_______ , Sistemas tradicionais de ao para a sade, Brasilia,
1977.
ILLICH, Ivan, Nemesis Medicale, Paris, Seuil, 1975.
JOLY, R., Hippocrate, Medicine Grecque, Paris, Ed. Gallimard,
1964.
KOS T E R, H. , V i a g e n s a o B r a s i l , L o n d r e s , 1 8 1 6 .
KWOORTMANN, Habitos e ideologia alimentares em grupos
sociais de baixa renda, Brasilia, UNB, 1978.
LAFFAYE, Les Sciences de la Folie, Paris, Mouton, 1972.
LAPASSADE, George e LUZ, Marco Aurelio, O segredo da
macumba, So Paulo, Ed. Paz e Terra, 1972.
LEAL, Bagueira J., A questao da vacina, a obrigatoriedade, Rio de
janeiro, 11/6/1904.
LEITE, Serafim, "Os Jesutas no Brasil e a Medicina", Lisboa,
1936, Separata da Revista Patrus Nonius.
LENK, Kurt, Las etapas esenciales en la formaciOn de la ideologia,
Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1971.
LESER, W., "Relacionamento de Certas Caracteristicas Populacio-
nai s com a Mortalidade Infant il de So Paulo de 1950 a
1970", Pb. Brasileira, 10(109)17, 1972.
LOYOLA, M. Andrea, "Cure des Corps et Cure des Ames: les
Rapports entre les Medecins et les Religions dans la Banlieu
de Rio", Actes de la Recherche en S. Sociales, junho de 1982.
_______ , "Medicina Popular", in Sade e medicina no Brasil,
Rio de Janeiro, Graal, 1978.
LUKACS, Georges, Histria y Consciencia de Clase, Mexico, Gri-
jalbo, 1969.
MACHADO, Al c a nt a r a , Vi da e Mor t e d o Ba nd e i r a n t e .
MACHADO, Roberto (e outros), Danao da norma, Rio de
Janeiro, Graal, 1978.
MAGALHAES, Jos, Medicina folclOrica, Ceara, 1965.
MAGNANI, Jos Guilherme, "Doena e Cura na Religiao Umban-
dista: subsidios para uma proposta de estudo comparativo en-
tre prticas medicas alternativas e a medicina oficial", So
Paulo, mimeo., 1980.
MANNHEIM, Karl, Ideologia e utopia, Rio de Janeiro, Zahar,
1972.
MARS, Louis, "Crise de Possession Nouvelle Contribution a
l'Etude de la Crise de Possession", Psyche 60.
279
MARTINO de, Ernesto, Italie du Sud et Magie, Paris, Gallimard,
1963.
MARTINS, Saul, Os barranqueiros, Belo Horizonte, Centro de Es-
tudos Mineiros, 1969.
MARTIUS, Karl Friedrich Philipp Von, Natureza, doenas, e me-
dicina e remdios dos indios brasileiros (1844), Cia. Ed. Na-
cional, 1939.
MARX, Karl, Manuscrits de 1844, Paris, Ed. Sociales, 1969. MARX,
Karl e ENGELS, F., L'Ideologie Allemande, Paris, Ed. Sociales,
1974.
_____ , Sur la Religion, Paris, Ed. Sociales, 1972.
MATTA, Roberto da, Carnaval, malandros e herOis, Rio de Ja-
neiro, Ed. Zahar, 1981.
MAUSS, Marcel, Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1968.
MAUSS, Marcel e HUBERT, H., "Lheorie de la Magie", in
Oeuvres n. 1, Paris, Ed. Minuit, 1968.
MENESES, Jaime de Sd, Medicina indigena, Salvador, Bahia, Li-
vraria Progresso Editora, 1957.
METRAUX, Alfred, "La Comedie Rituelle dans la Possession",
Diogenes, n. 11.
, Le Vaudou Haitien, Paris, Ed. Gallimard, 1958.
MONFOUGA-NICOLAS, Jacqueline, Ambivalence et Cult de
Possession, Paris, Ed. Anthropos, 1972.
MONTEIRO, Douglas Teixeira, "A Cura por Correspondencia",
in Religiao e Sociedade 1(1), 1977.
MONTERO, Paula, "La Possession Religieuse dans le Culte Um-
bandiste", mimeo., Paris, 1974.
MONTERO, Paula e ORTIZ, Renato, "Contribui o para um Es-
tudo Quantitativo da Religiao Umbandista", So Paulo, Cien-
cia e Cultura, Vol. 28(4).
MOREIRA, Nicolau Joaquim, Rcipidas consideraes sobre o ma-
ravilhoso, o charlatanism e o exercicio ilegal da medicina e da
farmcicia, 1862.
MORIN, F., "A Propos de la Representation de la Maladie Menta-
le", Les Temps Modernes, Paris 29, n. 255 (pp. 337-61), 1967.
MILLER, Franz, "O Vegetal como Alimento e Medicina do In-
dio", Revista do Arquivo Municipal, Ano VII, Vol. LXXVI.
NOVAES, M. Stella, A medicina e remdios do Espirito Santo,
I.H.C., p. 61.
OLIVEN, Rubem, Violencia e cultura urbana no Brasil, 'PetrOpo-
lis, Ed. Vozes, 1982.
280
ORTIGUES, M. C. e E., Oe-dipe Africain, Col. 10-18, Plon, 1973,
434 p.
ORTIZ, R., A morte branca do feiticeiro negro, Petropolis, Vozes,
1978.
, "Etica, Poder e Politica: Umbanda, uma Mito-Ideologia",
Belo Horizonte, mimeo., 1983.
, "Estado, Identidade Nacional e Cultural Popular", in
Estudos de Cultura Brasileira, mimeo., 1983.
PAGLIUCHI, Vera Lucia, Le Spiritisme de Umbanda, Louvain,
mimeo., 1970.
PALM, J. S. "Indicadores de Sade no Brasil", Revista Baiana de
Sade Pal)lica, Salvador (2), 1975.
PAULA COSTA, Francisco, "Algumas Reflexues sobre o Charlata-
nismo em Medicina", Tese a Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, 1841.
PELLEGRINI, A. (e outros), "A Medicina Comunitaria, a Ques -
tao Urbana e a Marginalidade", in Sade e medicina no Bra-
sil, GUIMARAES, Reinaldo, Rio de Janeiro, Graal, 1978.
PEREIRA, Nuno Marques, Compendio narrativo do peregrino da
America.
PIDOUX, Charles, "Les tats de Possession Rituelle Chez les Melano-
Africains", L'Evolution Psychiatrique, 1955.
PIERSON, Donald, Brancos e pretos na Bahia, So Paulo, Cia. Ed.
Nacional, 1971, 2.
a
ed.
PINTO, Costa, O negro no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ed.
Brasiliana, 1952.
POLACK, La Medecine du Capital, Paris, Maspero, 1971. POUILLON,
Jean, Fetiches sans Fetichisme, Paris, Maspero, 1975. PRADO, A. de
Almeida, As doenas atravs dos sculos, So Paulo,
So Paulo Mdico Ed., 1944.
PROCOPIO, Candi do, "Igreja e Desenvolvimento", So Paulo,
Cebrap, 1971, Ed. Brasileira de Cincias.
, CatOlicos, protestantes, espiritas, Ed. Vozes, 1973.
______ , Kardecismo e umbanda, So Paulo, Bib. Pioneira de C.
Sociais, 1961.
PRIMEIRA VISITAO DO SANTO OHM AS PARTES DO
BRASIL, F. Briguiet M. Cia., Ed., Rio, 1935.
QUEIROZ, M. Isaura P., "Os Catolicismos Brasileiros", So Paulo,
Cadernos do CERU, 1971. n. 4.
"Analise de Documentos em Cincias Sociais", So Paulo,
mimeo., 1983
281
"Cientistas Sociais e o Autoconhecimento da Cultura
Brasileira Atravs do Tempo", mimeo., 1980.
QUEIROZ; M. S., "Feitico, Mau-Olhado e Susto: seus tratamentos
e prevenes Al deia I capar a", Religido e Soci edade,
n. 5, 1980.
QUERINO, Manuel, A raa africana, Ed. Livr. Progresso, 1955.
RAMOS, Arthur, O folclore negro do Brasil, So Paulo, 1935.
_________ , As culturas negras, Rio de Janeiro, Livr. Ed. Casa do
Estudante do Brasil, Vol. III, 1943.
O negro brasileiro, Civilizao Brasileira, 2.
a
ed., 1940. RIBEIRO,
Joaquim, O folclore dos bandeirantes, Rio de Janeiro, Liv. Jos
Olympio Ed., 1946.
RIBEIRO, Lourival, Medicina no Brasil colonial, Rio de Janeiro,
Ed. Sul Americana, 1971.
, Pelos caminhos da medicina, 1976; "O Mdico, o Paciente
e a Sociedade", Conferencia na Escola de Aperfeigoamento de
Oficiais.
RIBEIRO, M. de Lourdes, "Inquerito sobre Prticas e Supersties
Agricolas de Minas Gerais", Campanha de Defesa do Folclore
Bras., MEC, Rio de Janeiro.
RIBEIRO, Rene, "Cultos Afro-brasileiros do Recife", Boletim
quim Nabuco, 1960.
RODRIGUES, Aracky, Operario, operaria, So Paulo, Ed. Sim-
bolo, 1978.
RODRIGUES, A. G., "Alimentao e Sade um estudo de ideo-
logia da alimentao", UNB, mimeo., 1978.
RODRIGUES, Gilda de Castro, "Reses e Homens: um estudo de
prticas teraputicas numa comunidade rural", mimeo., Bra-
silia, 1979.
RODRIGUES, Nina, L'Animisme Fetichiste des Negres da Bahia,
1890.
RECEITUARIO DE JOAQUIM JERONIMO SERPA 1823-1829,
Arquivo Palico Estadual, Imprensa Oficial, Recife, 1966.
SANCHIS, Pierre, "Arraial, La Fete d'un Peuple. Les Pelerinages
Populaires au Portugal", mimeo., Paris, 1976.
SANTOS FILHO, Lycurgo, "A Medicina da poca", Separata da
Imprensa Medica, 1957.
, "Imprensa Medica e Associaceies Cientficas Paulistas", Separata
da Imprensa Medica, Lisboa, 1959.
, Histria da med. no Brasil, Col. Brasiliana, Ed. Brasiliense,
V. III, So Paulo, 1947.
282
SARTRE, Jean-Paul, Questdes de metodo, So Paulo, Difuso
Europeia do Livro, 1956.
SARTRIANI, E., Antropologia cultural: analisis de la cultura su-
balterna, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1975.
SAUNDERS, Lyle, HEWES, W. Gordon, "Folk Medicine and Me-
dical Practice", Joumal of Medical Education, T. XXVIII,
set. de 1953.
SIGAUD, J. F., Discurso sobre a estatistica medica do Brasil, So-
ciedade de Medicina do Rio de Janeiro, 30/6/1832, Typog.
Imp. e Cont. de Seignot-Planches e Cia., Rio de Janeiro, 1832.
__________ , Du Climat et des Maladies au Brasil, Paris, Chez Fortin,
Masson et Cie. Librairies, 1844.
SINGER, Paul (e col.), Prevenir e curar o controle social atra-
y
es dos servicos de sade, Rio de Janeiro, Forense, 1978.
SILVA, Maria da Gloria, A prtica medica: dominao e submis-
silo, Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
SILVERSTEIN, Leni, "Me de Todo Mundo Modos de sobre-
vivencia nas comunidades de candomble da Bahi a", Re14k-to
e Sociedade, n. 4, Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1979.
SKIDMORE, Thomas, Preto no branco, Rio de Janeiro, Ed. Paz e
Terra, 1976.
SOMARRIBA, Merces, A prtica medica atravs dos tempos: me-
di ci na no escravi smo col oni al , Bel o Hor i zont e, 1980.
SOUZA, Beatriz Muniz de, A experincia da salvao: pentecostais
em So Paulo, So Paulo, Ed. Duas Cidades, 1969.
SOUZA, Leal de, "No Mundo dos Espiritos", inquerito de A Noite,
Rio de Janeiro, 1925, 425 p.
STRAUSS, C. Levi-, O pensamento selvagern, So Paulo, Cia.
Ed. Nacional, 1970.
, Le Sorcier et sa Magie, Paris, Les Temps Modernes,
1949.
STUDART FILHO, Carlos, Temas mdicos e outros temas, Ceara,
1971.
SZACS, Thomas, A fabricao da loucura, Rio de Janeiro, Zahar,
1976, 408 p.
, "Lhe Myth of Mental Illness", An. Psychologist, 1960,
15:113-118 (fev).
TAMBELLINI AROUCA, Ana M., "O Trabalho e a Doena
Anlise dos determinante
'
s das condicaes de sailde da popula-
o brasileira", in Sade e medicina no Brasil, Rio de
Janeiro, Graal, 1978.
283
TEIXEIRA, Fausto, Medicina pop. mineira, Rio de Janeiro, Ed.
Organizagaes Simes, 1956.
TOLEDO, A., "Os Mdicos dos Tempos Coloniais", in A deca-
dencia de Minas e a fuga da minerao, Belo Horizonte, 1971.
TRINDADE, Liana, "Exu: Simbolo e Funo", So Paulo, mimeo.,
1979.
VANZENANDE, Rene, "Catimbc5", Tese de Mestrado, UFPB, 1976.
VERGER, Pierre, Dieux D'Afrique, Paul Hartman Ed., 1954. WARREN,
Donald, "Lhe Healing Art in Urban Setting, 1880-
1930", Nova Iorque, mimeo., 1977.
ZALUAR GUIMARAES, Alba, "Os Homens de Deus: O Milagre",
Religiosidade Popular II, CEI, Suplemento de 13 de dez.
de 1975.
ZEMPLINI, A., "La Lherapie Traditionnelle des Troubles Mentaux
chez les Wolof et les Lebou", Social Science and Medicine,
1969, III, pp. 191-205.
ZEMPLINI, Andreas, "La Dimension Lherapeutique du Culte
Rab", Psychopathologie Africaine, Dakar, 1966, II, 3.
284
LITERATURA UMBANDISTA
ALVA, Antonio, Como desmanchar trabalhos de quimbanda, Rio
de Janeiro, Ed. Eco.
BANDEIRA, Cavalcanti, O que e a umbanda, Rio de Janeiro, Ed.
Eco, 1970.
BERZELIUS, G., Mediunismo, Belo Horizonte, 1979.
BRAGA, Lourenco, Umbanda e quimbanda, Rio de Janeiro, 1956,
10.
a
ed.
______, Umbanda e magia branca, Rio de Janeiro, 1965, 10.
a
ed.
CISNEIROS, I., Fundamentos de umbanda, Rio de Janeiro,
Equipe Ed.
COSTA, Oswaldo, Umbanda, religio do Brasil, So Paulo, Ed.
Obelisco.
DECELSO, Umbanda de caboclos, Rio de Janeiro, Ed. Eco. FARELLI,
M. Helena, As sete foras da umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Eco,
1972.
FELIX, Candido E., A cartilha da umbanda, Rio de Janeiro, Ed.
Eco, 1965.
FERREIRA, F., 300 pontos cantados de exus e pombas-giras, Rio
de Janeiro, Ed. Eco, 1976.
FONTENELLE, A., O esprito no conceito das religioes e a lei da
Umbanda, Ri o de Janei r o, Ed. Espi r i t ual i st a, 2.
a
ed.
FREITAS, Byron Torres de, Na gira da umbanda e das almas, Rio
de Janeiro, Ed. Eco.
________, Camba de umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Aurora, 2.
a
ed.
FREITAS, Joao de, Umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Eco, 8.
a
ed. GUEDES,
Simoni, Umbanda e loucura, Rio de Janeiro, Ed. Espi-
ritualista.
285
LOUZA, Francisco, Umbanda e psicandlise, Rio de Janeiro, Ed. Es-
piritualista, 1971.
MATTA E SILVA, Macumbas e candombles na umbanda, Rio de
Janeiro, Livraria Freitas Bastos.
MACIEL, Silvio P., Alquimia de umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Es-
piritualista, 3.
a
ed.
________ , Umbanda mista, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista.
, Umbanda e seus complexos, Rio de Janeiro, Ed. Espiri-
tualista, 1961, 4.
a
ed.
________ , Umbanda e ocultismo, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualis-
ta, 3.
a
ed.
MAGNO, Oliveira, O ritual pratico de umbanda, Rio de Janeiro,
Ed. Espiritualista.
MOLINA, A., 3.777 pontos cantados e riscados, Rio de Janeiro,
Ed. Espiritualista.
, Saravci pomba-gira, Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista, 2.
a
ed.
________ , Umbanda de pretos-velhos, Rio de Janeiro, Ed. Eco.
NUNES FILHO, A., "Nitava", in Mironga, nov. de 72, n. 8.
, Antologia da umbanda, Rio de Janeiro, Ed. Eco.
OLIVEIRA, Jorge, Umbanda transcendental, GB, 1971.
PINTO, Tancredo da Silva, Minas sob a WT de umbanda, Belo
Horizonte, Ed. Holman Ltda.
SCLAR, Marcos, Umbanda magia branca, Rio de Janeiro, Ed.
Eco, 1971.
SEM AUTOR: 777 pontos cantados e riscados de umbanda, Rio de
Janeiro, Ed. Espiritualista.
, 3.000 pontos riscados e cantados na umbanda e no can-
dombl, Rio de Janeiro, Ed. Eco.
SPARTA, Francisco, A danca dos orixas, So Paulo, Ed. Herder,
1970.
TEIXEIRA, Antonio Alves, O livro dos mdiuns de umbanda, Rio
de Janeiro, Ed. Eco, 1970, 2.
a
ed.
____ , Umbanda dos pretos-velhos, Rio de Janeiro, Ed. Eco,
2.
a
ed.
TORRES, Byron de Freitas, Camba de umbanda, Rio de Janeiro,
Ed. Aurora, 2.
a
ed.
Impresso nas oficinas da
EDI TORA P ARMA LTDA.
Fone: /09-5077
Av. Antonio Bardela, 180
Guarulhos - So Paulo - Brasil
Com filrnes fomecidos pelo Editor
You might also like
- Setups MonteiroDocument28 pagesSetups MonteiroCesar Calissi100% (1)
- Curso de Oratória 1 EbookDocument28 pagesCurso de Oratória 1 EbookRafael100% (2)
- NhanderuvuçuDocument4 pagesNhanderuvuçuRomicy DermondesNo ratings yet
- Ficha de Avaliacao Do Imovel 311 354Document2 pagesFicha de Avaliacao Do Imovel 311 354Edwin Silva100% (2)
- Os Agentes Da CuraDocument9 pagesOs Agentes Da CuraBeatriz SimplícioNo ratings yet
- Saravá Sr. Exu Pinga FogoDocument3 pagesSaravá Sr. Exu Pinga FogoSombrianyx100% (1)
- Bibliografia de CandombléDocument6 pagesBibliografia de CandombléCrochetsurgeonNo ratings yet
- Ervas Do Quintal PublicacaoDocument68 pagesErvas Do Quintal PublicacaoElisa MarquesNo ratings yet
- Cruzes e FeitiçosDocument34 pagesCruzes e FeitiçosHamilton C RodriguesNo ratings yet
- Exercícios Orações Subordinadas SubstantivasDocument3 pagesExercícios Orações Subordinadas SubstantivasGabriela DuarteNo ratings yet
- Irmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890)From EverandIrmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890)No ratings yet
- 206 Luva Festa Do LivroDocument9 pages206 Luva Festa Do LivroMichelle BarbosaNo ratings yet
- Pode Ser Ele: Café Com Dona JaciraDocument14 pagesPode Ser Ele: Café Com Dona JaciraZoordiNo ratings yet
- Cura e Força No JarêDocument18 pagesCura e Força No JarêHermes De Sousa Veras100% (1)
- Pomba Giras Contribuicoes para AfrocentrDocument15 pagesPomba Giras Contribuicoes para AfrocentrTaís PereiraNo ratings yet
- Gerson LindosoDocument296 pagesGerson LindosoYeshua MarmansNo ratings yet
- AMARAL Rita O Povo de Santo Povo de FestaDocument11 pagesAMARAL Rita O Povo de Santo Povo de FestaGiovanna CapponiNo ratings yet
- No Caminho de Aruanda - A Umbanda Candanga Revisitada.Document43 pagesNo Caminho de Aruanda - A Umbanda Candanga Revisitada.Carol RosaNo ratings yet
- N A MolinaDocument1 pageN A MolinaSombrianyx100% (3)
- Livro de FeiticosDocument52 pagesLivro de FeiticoscarlosfelipedespizaNo ratings yet
- Pretos VelhosDocument23 pagesPretos VelhosRosangela Africo MarqueziniNo ratings yet
- Curso o Negro Na Literatura de Alberto MussaDocument11 pagesCurso o Negro Na Literatura de Alberto MussaCharles Odevan XavierNo ratings yet
- As Duas Africanidades Estabelecidas No paraDocument27 pagesAs Duas Africanidades Estabelecidas No paraClever SenaNo ratings yet
- Exu - Um Trickster Solto No "Terreiro" Psíquico - Gabani & Serbena PDFDocument19 pagesExu - Um Trickster Solto No "Terreiro" Psíquico - Gabani & Serbena PDFDanielaEuzebioNo ratings yet
- 225 RaiaDocument5 pages225 RaiaCarlos HenriqueNo ratings yet
- Uma Religião Que Cura, Consola e Diverte - As Redes de Sociabilidade Da Jurema SagradaDocument14 pagesUma Religião Que Cura, Consola e Diverte - As Redes de Sociabilidade Da Jurema SagradaRaoni NeriNo ratings yet
- A Religiao de Lusitanos e CalaicosDocument43 pagesA Religiao de Lusitanos e CalaicosRebeca ProuxNo ratings yet
- A Antropologia Das Emocoes Conceitos e PDocument15 pagesA Antropologia Das Emocoes Conceitos e PNicolly ValleNo ratings yet
- SERRA, No Caminho de Aruanda PDFDocument42 pagesSERRA, No Caminho de Aruanda PDFHeitor ZaghettoNo ratings yet
- Plantas Sagradas Nas Religioes Afro Brasileiras Correlacoes Do Seu Uso Terapeutico e A FitoterapiaDocument20 pagesPlantas Sagradas Nas Religioes Afro Brasileiras Correlacoes Do Seu Uso Terapeutico e A FitoterapiaLuthier ToselliNo ratings yet
- LOUREIRO - Meus Guias Que Fizeram Meu EncruzoDocument25 pagesLOUREIRO - Meus Guias Que Fizeram Meu EncruzoAnderson Barbosa SilvaNo ratings yet
- Ebook Preces PDFDocument29 pagesEbook Preces PDFDayse MoreiraNo ratings yet
- "Me Bote Uma Dose No Copo, Acenda Uma Vela e Me Faça Oraça O" Os Pontos Cantados Na Umbanda e Seus EnsinamentosDocument22 pages"Me Bote Uma Dose No Copo, Acenda Uma Vela e Me Faça Oraça O" Os Pontos Cantados Na Umbanda e Seus EnsinamentosJúnior Alves0% (1)
- Os Exus Mirins Da UmbandaDocument12 pagesOs Exus Mirins Da UmbandaMaíra MonteiroNo ratings yet
- Deuses Wicca (Reparado)Document142 pagesDeuses Wicca (Reparado)falacomtanialima3No ratings yet
- Negro Magia LisiasDocument14 pagesNegro Magia LisiasemmanuelrsrNo ratings yet
- Falas de Pretos VelhosDocument12 pagesFalas de Pretos VelhosCauê Fraga MachadoNo ratings yet
- YAMARACYE p11Document17 pagesYAMARACYE p11Maycon RockNo ratings yet
- Cms Files 90442 1559062975ebook-Tu-CaracteristicasDocument57 pagesCms Files 90442 1559062975ebook-Tu-CaracteristicasMari DalsenoNo ratings yet
- O Que Significa Sonhar Com Assalto - Sonhar Com - Significado Dos SonhosDocument11 pagesO Que Significa Sonhar Com Assalto - Sonhar Com - Significado Dos SonhospedroNo ratings yet
- Analise Mandinga em Manhattan (Eliane Simões)Document7 pagesAnalise Mandinga em Manhattan (Eliane Simões)Eliane SimõesNo ratings yet
- 2009-Cachimbos Guarani-Uma Abordagem EtnorqueológicaDocument47 pages2009-Cachimbos Guarani-Uma Abordagem EtnorqueológicaAdália TovNo ratings yet
- Dança CaboclosDocument143 pagesDança Cabocloslaniagarcia100% (1)
- Dissertacao PortaisBauCavalo PDFDocument106 pagesDissertacao PortaisBauCavalo PDFPedro IvoNo ratings yet
- Sou Ou Não Sou o Rei Do Candomblé Aspectos Da Trajetoria Artistica de Joãozinho Da GoméiaDocument252 pagesSou Ou Não Sou o Rei Do Candomblé Aspectos Da Trajetoria Artistica de Joãozinho Da GoméiaANDREA NASCIMENTONo ratings yet
- Veras, H.S - Nos Caminhos Do Terreiro de Mina Deus Esteja Contigo PDFDocument18 pagesVeras, H.S - Nos Caminhos Do Terreiro de Mina Deus Esteja Contigo PDFHermes De Sousa Veras100% (1)
- Olorum ModupeDocument1 pageOlorum ModupewallacesalesNo ratings yet
- O Mito de Obatalá Na Civilização Yorubá A Partir de Seus OrikisDocument10 pagesO Mito de Obatalá Na Civilização Yorubá A Partir de Seus OrikisTania Mara Jantorno SoaresNo ratings yet
- Oração Do Sonho de SantaDocument1 pageOração Do Sonho de Santabebelborges100% (1)
- SímbolosDocument1 pageSímbolosmafistarNo ratings yet
- A Poderosa Lei de Pemba Na UmbandaDocument2 pagesA Poderosa Lei de Pemba Na UmbandaRafael FerreiraNo ratings yet
- Dissertação Completa - Ebsf PDFDocument168 pagesDissertação Completa - Ebsf PDFCaroline OliveiraNo ratings yet
- Centro de Macumba - O Que É e Quais Trabalhos São RealizadosDocument4 pagesCentro de Macumba - O Que É e Quais Trabalhos São RealizadosEspaço RecomeçarNo ratings yet
- Caboclas de Aruanda PDFDocument42 pagesCaboclas de Aruanda PDFVeridiana MachadoNo ratings yet
- AREDA, Felipe - Exu e A Reescrita Do MundoDocument18 pagesAREDA, Felipe - Exu e A Reescrita Do MundoFany Lopes100% (1)
- DOENÇA DE FEITIÇO" Aspectos Socioculturais de Um Modo de Adoecer - 000Document15 pagesDOENÇA DE FEITIÇO" Aspectos Socioculturais de Um Modo de Adoecer - 000HersonNo ratings yet
- Nossa SenhoraDocument38 pagesNossa SenhoraCharles Junior BarcelosNo ratings yet
- Plunct! Plact! Zum! Vol. 2 - Ano 1984Document1 pagePlunct! Plact! Zum! Vol. 2 - Ano 1984pragentemiudaNo ratings yet
- (GUILLEN) Ancestralidade e Oralidade Nos Movimentos Negros de PernambucoDocument24 pages(GUILLEN) Ancestralidade e Oralidade Nos Movimentos Negros de PernambucoRaphael LimaNo ratings yet
- O Velho MirigidoDocument2 pagesO Velho Mirigidonubinanda100% (6)
- E A Jurema Se Abriu Toda em Flor Práticas e Discursos para Efetivação de Direitos HumanosDocument24 pagesE A Jurema Se Abriu Toda em Flor Práticas e Discursos para Efetivação de Direitos HumanosAlexandre Barbosa SantosNo ratings yet
- Oração de Santo OnofreDocument4 pagesOração de Santo OnofreAntonio FelixNo ratings yet
- Ze PelintraDocument2 pagesZe PelintraÍndio TupinambáNo ratings yet
- Goécia e Anti-Goécia (03 PGS) - OKDocument3 pagesGoécia e Anti-Goécia (03 PGS) - OKfsousa77No ratings yet
- Casos Raros Da Confissão - Leitura Da ObraDocument7 pagesCasos Raros Da Confissão - Leitura Da ObraDiogo AugustoNo ratings yet
- A Violência Psicológica Contra A Mulhe1Document3 pagesA Violência Psicológica Contra A Mulhe1SombrianyxNo ratings yet
- Exu Catacumba, Exu Do Cemitério e Exu KalungaDocument3 pagesExu Catacumba, Exu Do Cemitério e Exu KalungaSombrianyxNo ratings yet
- Exu Da Meia Noite Verdadeira ImagemDocument1 pageExu Da Meia Noite Verdadeira ImagemSombrianyxNo ratings yet
- Saravá SR Exú Quibandeiro Das 7 MontanhasDocument1 pageSaravá SR Exú Quibandeiro Das 7 MontanhasSombrianyxNo ratings yet
- Atividade 9 Ano C II TrimestreDocument2 pagesAtividade 9 Ano C II TrimestreJósley MatinhosNo ratings yet
- Cifra Club - Jorge Aragão - Ja ÉDocument3 pagesCifra Club - Jorge Aragão - Ja ÉAlmir MenezesNo ratings yet
- Responsabilidade SocialDocument9 pagesResponsabilidade SocialMatheus Barbosa100% (1)
- Educação HomericaDocument2 pagesEducação HomericaVeronica BarratieriNo ratings yet
- Manual de Instruções PLR-1Document10 pagesManual de Instruções PLR-1Elizoete RodriguesNo ratings yet
- A Tristeza Que Precede o AvivamentoDocument5 pagesA Tristeza Que Precede o AvivamentoEliuilson Oliveira SilvaNo ratings yet
- Louvor 2 (Festa Julho)Document1 pageLouvor 2 (Festa Julho)Hernan cardosoNo ratings yet
- EPRi30 Pesquisa OperacionalDocument9 pagesEPRi30 Pesquisa OperacionalErick SoaresNo ratings yet
- Relatório de ViagemDocument2 pagesRelatório de ViagemAna Luiza Lucas AndradeNo ratings yet
- Albieri, ThaisdeMattos DDocument328 pagesAlbieri, ThaisdeMattos DSilvia CobeloNo ratings yet
- Simulado Enem-RedaçãoDocument1 pageSimulado Enem-Redaçãoisabela mariaNo ratings yet
- Trabalho Depois Daquela Viagem-2Document3 pagesTrabalho Depois Daquela Viagem-2Dayane ZamenhofNo ratings yet
- Template A5Document22 pagesTemplate A5Andressa LimaNo ratings yet
- Check List Diário Lixadeira PolloDocument1 pageCheck List Diário Lixadeira PolloMichel Santos da SilvaNo ratings yet
- Interpretações Sobre o Reino de DeusDocument2 pagesInterpretações Sobre o Reino de DeusEdnajanNo ratings yet
- 4 RegistoDocument7 pages4 RegistoL2 Investimentos - GeralNo ratings yet
- Manual Orientacao Educacao Integral Nº20 - 2011 - Mais Educação - PDDEDocument51 pagesManual Orientacao Educacao Integral Nº20 - 2011 - Mais Educação - PDDELUIS CLAUDIO DOS SANTOS FERREIRANo ratings yet
- Directiva 98-37 CE - Directiva MáquinaspdfDocument46 pagesDirectiva 98-37 CE - Directiva MáquinaspdfPedroNo ratings yet
- Abnt NBR 15495 2Document29 pagesAbnt NBR 15495 2Thaynara AraujoNo ratings yet
- Pim IvDocument15 pagesPim IvMarcelo CorreiaNo ratings yet
- Renner 0305Document42 pagesRenner 0305Kaype AbreuNo ratings yet
- Nova Nicolândia - IngressosDocument1 pageNova Nicolândia - IngressosSolange SakamotoNo ratings yet