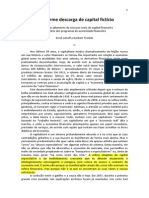Professional Documents
Culture Documents
A Arte em 1985
Uploaded by
api-37153220 ratings0% found this document useful (0 votes)
39 views2 pagesComentário a propósito das perspectivas da atividade artística
Original Title
A arte em 1985
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentComentário a propósito das perspectivas da atividade artística
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
39 views2 pagesA Arte em 1985
Uploaded by
api-3715322Comentário a propósito das perspectivas da atividade artística
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 2
A arte em 1985*
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Por vocação, o etnólogo só atribui valor e significação a mudanças
perceptíveis a um observador muito afastado, situado numa outra cultura,
já que ele próprio, que estuda culturas bem distintas da sua, está submetido
à mesma limitação. A menos que isto seja seu privilégio, e que toda
mudança digna de ser levada em conta por contribuir ao conhecimento do
espírito humano deva ser uma mudança que permaneça como tal numa
perspectiva generalizada: verdadeira para qualquer observador possível e
não apenas para aquele que, em relação a essa mudança, ocupe uma
posição favorecida.
Isto explica porque o etnólogo se sente quase sempre desarmado
diante das previsões a curto prazo. Em vinte anos, nossa pintura, literatura
e música terão, sem dúvida, sofrido uma evolução apreciável, do ponto de
vista de um observador pertencente à sociedade que o gerou. Mas é menos
certo que um observador recuado no tempo ou no espaço faça a mesma
constatação. As obras de 1985 e as de hoje [1965] lhes parecerão pertencer
a uma mesma forma de civilização. Os grandes afastamentos diferenciais
que os etnólogos manipulam são inutilizáveis nestes limites estreitos. As
variáveis são demasiadamente sutis e numerosas e, supondo-se que a
previsão seja possível teórica e praticamente, somente calculadoras
eletrônicas permitiriam integrá-las, destacar uma tendência e fundar uma
extrapolação.
Isto ainda implica em que as artes gozem entre nós de uma vida
calma e sã, e que seu estado presente prefigure algo de seu futuro.
Qualquer previsão razoável seria evidentemente excluída se fosse preciso
admitir que as obras que consumimos atualmente testemunham uma crise,
cujo desenlace seria, então, impossível prever. Esta poderia consistir tanto
no nascimento de um outro tipo de arte, cujos contornos não vemos ainda
se esboçarem, como na renúncia consciente e resolutamente professada
por uma sociedade a toda e qualquer arte; torna-se-ia então evidente que
há muitos anos e cada vez mais, ela se auto-mistifica, situando bem alto
uma arte que não é senão a forma de uma arte, servindo apenas para lhe
dar a ilusão de ter uma.
Mas não é inevitável que a crise se resolva. Talvez apenas tenha um
desenvolvimento imprevisto, outras falácias vindo alimentar a voracidade
da ilusão. Pois a questão do futuro da arte na sociedade ocidental (e, por
uma extensão previsível, no mundo de amanhã) não é dessas a que se
possa responder, mesmo parcialmente, numa escala de dois decênios nem
mesmo invocando precedentes históricos. Este problema, que se coloca
pela primeira vez na vida da humanidade, se confunde com um outro: em
que se transformará a arte numa civilização que, afastando o indivíduo da
natureza e constrangindo-o a viver num meio fabricado, dissocie o consumo
da produção e a esvazie do sentimento criador? Quer o culto da arte tome a
forma de uma contemplação beata ou de uma devoração ávida, ele tende a
fazer da cultura um objeto transcendental, de cuja existência longínqua o
homem tira coletivamente uma gloríola, tanto mais tola quanto, como
indivíduo, ele confessa sua impotência em gerá-la.
Mesmo limitada a um futuro próximo, a previsão depende, portanto,
da resposta – impossível de ser dada – à uma questão preconceituosa: será
que nossa civilização homogênea a todas as outras, e pode-se concluir do
que se passou e ainda se passa nesta, para predizer o que acontecerá
naquelas? Ou se trata de formas inteiramente diferentes, e, neste caso,
como se definirá sua relação? À primeira vista, os vírus, intermediários entre
a vida e a matéria inerte, representam uma forma particularmente humilde
da primeira. E, contudo, precisam de outros seres vivos, para se
perpetuarem. Portanto,longe de tê-los precedido na evolução, eles os
supõem e ilustram um estado relativamente avançado. Por outro lado, a
realidade do vírus é quase de ordem intelectual. Com efeito, seu
organismo se reduz praticamente à fórmula genética que ele injeta em
seres simples ou complexos, constrangindo, assim, suas células a trair sua
própria fórmula para obedecer à dele, e fabricar seres que lhe sejam
similares.
Para que nossa civilização surgisse, foi preciso que outras existissem,
antes e ao mesmo tempo que ela. E sabemos, desde Descartes, que sua
originalidade consiste essencialmente num método que sua natureza
intelectual torna impróprio para gerar outras civilizações de carne e osso,
mas que lhes pode impor sua fórmula e constrangê-las a se lhe tornarem
semelhantes. Em relação a essas civilizações, cuja arte viva traduz o caráter
carnal, porque ligada a crenças muito intensas e, tanto na concepção como
na execução, a um certo estado de equilíbrio entre o homem e a natureza,
nossa própria civilização corresponderia a um tipo de animal ou viroso? Se
fosse preciso optar pela segunda hipótese, poder-se-ia predizer que, em
vinte anos, a bulimia que nos leva a engolir todas as formas de arte
passadas e presentes para elaborar as nossas, experimentará uma
dificuldade crescente em se satisfazer. Diante das fontes quase secas e
brevemente poluídas que as sociedades carnais ainda nos oferecem, em
nossos museus e exposições, a inapetência sucederá à competição. Sem
que nada tenha mudado profundamente na superfície, compreender-se-á,
talvez melhor que hoje, que uma sociedade faz viver sua arte como a
árvore, suas flores: por causa de um enraizamento num mundo que nem
uma nem outra pretendem tornar totalmente seu.
Tradução de Chaim Samuel Katz
(* Resposta a uma pesquisa sobre este tema. Arts, 7-13 de abril, 1965. p. 4)
[Artigo incluído em Antropologia Estrutural II]
You might also like
- Respostas A Algumas QuestõesDocument28 pagesRespostas A Algumas Questõesapi-37153220% (1)
- Natureza e Cultura - Lévi-StraussDocument11 pagesNatureza e Cultura - Lévi-Straussapi-3715322100% (3)
- A Sexualidade Feminina e A Origem Da Sociedade StraussDocument9 pagesA Sexualidade Feminina e A Origem Da Sociedade Straussapi-3715322100% (1)
- Um Copinho de Rum - Lévi-StraussDocument15 pagesUm Copinho de Rum - Lévi-Straussapi-3715322No ratings yet
- Juventude e Acao Sindical PDF WebDocument86 pagesJuventude e Acao Sindical PDF WebDouglas FáveroNo ratings yet
- Política de Segurança PúblicaDocument4 pagesPolítica de Segurança PúblicaThayane nevesNo ratings yet
- O Surgimento Do Direito Na GréciaDocument24 pagesO Surgimento Do Direito Na GréciaSilvana Rocha CiriacoNo ratings yet
- A Grande Desvalorização I PDFDocument6 pagesA Grande Desvalorização I PDFCesar RodriguesNo ratings yet
- Imperislimo Pagão - Tradução PortuguêsDocument117 pagesImperislimo Pagão - Tradução PortuguêsGuardaFlorestalNo ratings yet
- Atualidades Quatis 2Document15 pagesAtualidades Quatis 2João EvangelistaNo ratings yet
- Potyara Fichamento Politica SocialDocument12 pagesPotyara Fichamento Politica SocialMariaGorett50% (2)
- Fontes Das Teoria FreudianaDocument40 pagesFontes Das Teoria FreudianaSarah Cristina T. de CamargoNo ratings yet
- Ifes 1-2022Document25 pagesIfes 1-2022Marcelo OliveiraNo ratings yet
- ManualServicoTC3398 MitsubishiDocument54 pagesManualServicoTC3398 MitsubishiguliverNo ratings yet
- Sobre O Direito À Literatura, de Antonio CandidoDocument8 pagesSobre O Direito À Literatura, de Antonio CandidoAdilson Dos SantosNo ratings yet
- ACP 0000849-74.2014.5.20.0009 - MPT X UNIAO - Conve PDFDocument79 pagesACP 0000849-74.2014.5.20.0009 - MPT X UNIAO - Conve PDFJoão Paulo CadoreNo ratings yet
- Sociologia EjaDocument21 pagesSociologia Ejanandosanctus3564No ratings yet
- 2014 - José, Merina LuísDocument143 pages2014 - José, Merina LuísCadjosse LtaNo ratings yet
- Conhecimentos Sobre O Estado Do ParáDocument43 pagesConhecimentos Sobre O Estado Do ParáYuri MurielNo ratings yet
- Atividade 2 de Geografia Do 7° AnoDocument73 pagesAtividade 2 de Geografia Do 7° AnoCaesarSilva100% (2)
- O Poder Da Comunicação - Jonas KazDocument36 pagesO Poder Da Comunicação - Jonas KazJuliano Mainardes50% (2)
- Democracia e A DSIDocument9 pagesDemocracia e A DSILuisCarlosPereiraNo ratings yet
- Armindo de Abreu - O Dossie Da Conspiração - Parte 1Document13 pagesArmindo de Abreu - O Dossie Da Conspiração - Parte 1Angelo SilvaNo ratings yet
- Estado e Governos Pós NeoliberaisDocument253 pagesEstado e Governos Pós Neoliberaislgrana100% (1)
- Lista de LeituraDocument242 pagesLista de LeiturabrendinhafavNo ratings yet
- O Regionalismo NordestinoDocument6 pagesO Regionalismo Nordestinonayane_sousa_7100% (1)
- A-Visões Do Capitalismo e Rationale de Duas Políticas de Emprego ContemporâneasDocument28 pagesA-Visões Do Capitalismo e Rationale de Duas Políticas de Emprego ContemporâneasRodrigo CaldasNo ratings yet
- Decreto MG Coronel Fabriciano 7.191 - 20 DoDocument15 pagesDecreto MG Coronel Fabriciano 7.191 - 20 Doflags_brNo ratings yet
- A Polêmica Entre Durkheim e TardeDocument23 pagesA Polêmica Entre Durkheim e TardeMaria Rita XavierNo ratings yet
- Livro - Educação em Dialogos PDFDocument59 pagesLivro - Educação em Dialogos PDFAngela SantosNo ratings yet
- Juan Manuel Ferrario - o Problema Da Urss para As Tentativas LibertáriasDocument7 pagesJuan Manuel Ferrario - o Problema Da Urss para As Tentativas LibertáriasDiego FigueiredoNo ratings yet
- Tecnico em EdificacesDocument10 pagesTecnico em EdificaceswelberteufrasioNo ratings yet
- Direito Notarial e RegistralDocument244 pagesDireito Notarial e RegistralMoacyr Salles Neto100% (1)
- #Legislação Do SUS - Esquematizada e Comentada (2016) - Natale de Oliveira de SouzaDocument362 pages#Legislação Do SUS - Esquematizada e Comentada (2016) - Natale de Oliveira de SouzaOtimar E DanielleNo ratings yet