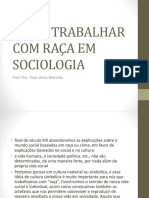Professional Documents
Culture Documents
Sujeitos Da Diversidade e Suas Vulnerabilidades
Uploaded by
Profes Hist Jonatas Alexandre0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 views20 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 views20 pagesSujeitos Da Diversidade e Suas Vulnerabilidades
Uploaded by
Profes Hist Jonatas AlexandreCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 20
Mdulo II
Sujeitos da Diversidade Cultural e da Desigualdade
Seo II
Sujeitos da diversidade e suas vulnerabilidades
2.1. A questo racial e o racismo
A questo da classificao racial dos seres humanos no recente. possvel
encontrar referncias noo de raa desde a antiguidade, mas com sentidos muito
diferentes dos que vemos hoje. A noo, que verificamos na atualidade, surgiu no perodo
moderno, coincidindo com os processos colonizadores dos continentes africano e
americano.
Esta noo moderna tem algumas caractersticas que lhe so prprias e que no so
possveis de verificar antes da Modernidade. Pela primeira vez na histria, a noo de
raa utilizada no apenas para pensar alguns grupos especficos (como faziam os
gregos ao se referirem aos brbaros), mas para criar um esquema mundial de
classificao das populaes (QUIJANO, 1992).
no perodo moderno que surge a ideia de uma raa negra, indgena, amarela ou
oriental e branca, de modo que toda a populao mundial pudesse ser classificada em
alguma dessas raas ou em suas subdivises ou mesclagens. E observa-se,
historicamente, que essa classificao no aponta apenas para notar que as pessoas tm
traos fenotpicos diferentes, mas que as caractersticas distintivas apontariam tambm
para uma hierarquizao entre as populaes classificadas.
Essa classificao mundial das populaes em raas passa por estgios diferentes:
em um primeiro momento, entre os sculos XVI e XVIII, baseiam-se em argumentos
2
teolgicos e filosficos; no sculo XIX, so os argumentos cientficos que procuram
mostrar a diviso da humanidade em raas e suas diferenas de potencialidades; no sculo
XX, desmonta-se a noo cientfica de raa, mas segue operando com uma noo poltica.
Hoje, podemos notar que a noo de raa sempre foi uma noo poltica, que servia
para uma classificao que atendesse a interesses de exerccio de poder. Em um primeiro
momento, mais do que saber que pessoas negras e indgenas eram diferentes das pessoas
brancas, em seus aspectos fsicos, a noo de raa serviu para justificar a escravizao ou
tutela das populaes negras e indgenas pela populao europeia que se colocava na
empresa colonial. Com a classificao das raas, tambm houve uma hierarquizao das
culturas, histrias, lnguas e modos de produo de conhecimentos. Junto da suposta
superioridade da raa branca sobre as outras, houve tambm uma hierarquizao das
culturas brancas europeias, das lnguas faladas nos pases que participavam da empresa
colonial e de sua maneira de produzir conhecimento e cincia na Europa Ocidental. Assim,
as pessoas no brancas eram tidas como atrasadas, infantis, ignorantes, incivilizadas e, at
mesmo, sub-humanas. E a raa passa a fazer parte do vocabulrio que organiza a
identidade de povos e indivduos (QUIJANO, 2006).
Este processo de hierarquizao das pessoas em funo de suas raas o que
chamamos de racismo, que sempre uma estratgia de poder, ou seja, uma ttica para que
se justifique quem ocupa os lugares de prestgio, ordenao e hegemonia e quem ocupa os
lugares de subalternidade. E hoje, tendemos a ver que a noo de raa um produto da
prtica do racismo em vez de que o racismo tenha surgido a partir do diferente tratamento
atribudo s diversas raas.
Mesmo com a derrubada das teses filosficas ou cientficas da existncia das raas
entre os seres humanos, a noo poltica de raa, continua operando. Ela segue, agindo
como um marcador de desigualdades provocadas pelo racismo (GOMES, 2005, p. 47).
Portanto, quando falamos hoje de raa negra, raa indgena e (raramente) de raa branca,
estamos falando de lugares sociais criados historicamente pelo racismo, pensando em que
estruturas de poder esto em questo quando percebemos pessoas e populaes com essas
marcaes.
O enfrentamento do racismo bastante dificultoso em nosso pas em funo de uma
3
importante narrativa que se constituiu durante o perodo de consolidao das ideias acerca
da identidade nacional: o discurso da democracia racial. Esta ideia, defendida no incio do
sculo XX em nosso pas, por tericos sociais importantes como Gilberto Freyre (2003),
afirma que as desigualdades que afligem a populao negra e indgena de nosso pas no
tm razes raciais, mas meramente histricas, pois so produtos das desigualdades
econmicas que se geraram durante o processo de colonizao de nosso pas. E que no
vivemos em um pas racista pelo motivo bvio de que a composio populacional do
Brasil mestia, uma vez que a maioria absoluta da populao produto dessa fuso das
trs raas (indgena, negra e branca) e que teramos, inclusive, uma boa convivncia
entre esses trs elementos constitutivos. Dito de outro modo, no somos racistas: somos
apenas vtimas de uma histria econmica escravista. O que este discurso esconde que o
motor da desigualdade econmica vinda da colonizao o prprio racismo. No entanto,
este se prolonga at nossos dias, com uma manifestao distinta daquela experimentada no
perodo colonial (SANTOS, 2000).
Este discurso, hoje chamado de mito, ainda muito presente e complica o
enfrentamento ao racismo, pois insistentemente dizemos que no somos racistas. Ofensas
raciais so rotineiramente vistas como brincadeiras, piadas. Usurpao de territrios das
populaes indgenas vista como um passo necessrio para o desenvolvimento do pas.
Enquanto insistirmos em negar a existncia factual do racismo, seu enfrentamento torna-se
cada vez mais difcil. Afinal, como combater aquilo que no reconhecemos sua existncia?
Enquanto no reconhecermos a prtica do racismo, como crime de lesa
humanidade, como se afirmou na Conferncia de Durban de 2001 sobre Racismo,
Xenofobia e outras formas de discriminao correlatas, pouco se poder fazer para incluir
esses sujeitos marcados racialmente pela estratgia poltica do racismo, como plenos
detentores dos direitos humanos. Enquanto continuarmos a sub-humanizar as populaes
negras, indgenas, ciganas, orientais ou qualquer outra que tenha a marca racial atribuda
pelo racismo, muito ainda teremos para fazer na busca de um mundo onde as pessoas
tenham direito a ter direitos, como dizia Hannah Arendt (2004, p. 330).
4
2.2. As mulheres e a misoginia
As mulheres, na atualidade, so apreendidas como parte da diversidade cultural que
constitui o mosaico cultural brasileiro. Isso, no apenas porque constituem cerca da metade
da populao mundial, mas porque em relao ao eu hegemnico masculino ela o
outro, o diferente que o assombra, que o fragiliza e por isso lhe causa apreenso. Ela
simboliza o perigo do ainda incgnito, do desconhecido.
Quando discutimos sobre direitos humanos, uma das mais importantes vertentes a
dos direitos humanos das mulheres. Mas porque pensar as mulheres como ponto especial
no contexto dos direitos humanos? Se cerca da metade da populao mundial formada
por mulheres, porque ainda precisamos de uma ateno especial para elas? A resposta
aparentemente mais simples as mulheres so vtimas preferenciais da violncia. Mas essa
resposta ainda deixa sem explicao o motivo pelo qual elas ocupam esse lugar. O que
acontece para que a taxa de violncia contra as mulheres seja to alta no mundo inteiro?
Uma das maneiras de entender esse problema trazida pelas teorias de gnero, que
em suas mais diversas elaboraes tentam demonstrar os motivos pelos quais as
representaes sociais sobre os papeis sexuados ocupam lugares diferenciados nos tecidos
sociais. Algum passo ainda desconhecido de nossa histria decidiu que homens e mulheres
teriam no apenas papeis diferenciados na reproduo da espcie, mas tambm que
ocupariam papis sociais diferentes. E nessa deciso, criou-se o estatuto inferior das
mulheres, que devem ser conduzidas, tuteladas, dominadas pelos homens.
Obviamente, essa deciso no foi simplesmente aceita por todas as pessoas, mas
organiza de modo contundente como as culturas sobretudo as do ocidente enxergam as
maneiras de os seres humanos se tornarem sujeitos de suas prprias histrias. O gnero
hoje uma das ideias mais debatidas no mundo ocidental, sobretudo naquilo que se prope a
ler as relaes violentas, de modo que ele aparece como uma das estruturas elementares da
violncia, como nota Rita Segato (2003).
Desta maneira, o gnero aparece como uma categoria que permite explicar os
motivos pelos quais as mulheres so alvos privilegiados da violncia, mostrando que as
5
interpretaes sociais dos papeis sociais atribudos a homens e mulheres no so apenas
contingentes, mas tambm modificveis uma vez que tenhamos interesse nessa
transformao. Os estudos sobre gnero mostram que h uma falsa associao do corpo da
mulher uma inferioridade social, como se no fosse um processo histrico cultural, e sim
natural. A naturalizao dos papis de gnero uma dos grandes entraves e dificultador
para a modificao das relaes entre homens e mulheres, em nossas sociedades.
O machismo, presente em nossa sociedade, segue a lgica da misoginia, isto , da
lgica que pensa que as mulheres tm um status inferior e que por isso tendemos a recus-
las, oprimi-las. Misgina a pessoa que subalterniza as mulheres por serem mulheres,
retirando delas seus direitos, o comando sobre sua prpria vida, pensando que elas
precisam sempre de mais algum para decidir o que importante em suas vidas. O dio s
mulheres, que se encarna na violncia domstica, nos estupros, nos feminicdios so
manifestaes dessa mesma lgica social.
Os movimentos de mulheres, movimentos feministas, de vrios lugares do mundo
vem lutando pela modificao das representaes sociais das mulheres, na busca de um
mundo no qual homens e mulheres tenham os mesmos direitos e, tambm, possam viver
longe da sombra do medo de serem vtimas de violncia, simplesmente por serem
mulheres, tendo direito de decidir sobre seu prprio corpo, sua prpria vida (AUAD,
2003).
A tarefa de combater o machismo, a misoginia no apenas das mulheres (embora
elas sejam, obviamente, protagonistas dessa luta), mas de todas as pessoas que se
interessam por um mundo onde as diferenas no sejam transformadas em desigualdades e
uma hierarquia violenta no seja a matriz de organizao das relaes humanas.
2.3. A segregao econmica e o classismo, elitismo/regionalismo
Os processos de hierarquizao das populaes tm diversas maneiras de se
manifestar e atuar. Como vivemos em sociedades capitalistas, a propriedade e suas
6
projees geopolticas determinam tambm modos de organizar valores e as imagens das
pessoas que so marcadas por suas posses ou ausncia delas.
Isso no serve apenas para classificar as pessoas, mas tambm os espaos. Uma das
maneiras de entender esse modo de hierarquizao em um uso bastante corriqueiro da
ideia de desenvolvimento. Falamos de pessoas, populaes e lugares como desenvolvidos,
subdesenvolvidos ou mesmo no desenvolvidos. Muitas vezes, essa ideia implica em dizer
que algumas pessoas, populaes ou regies tm mais possibilidades de produzir bens e de
consumir mais noo vinculada noo de propriedade. Tendemos a ver como
economicamente superiores as populaes e regies que conseguem ter uma independncia
maior no que diz respeito aos processos produtivos e tendemos a pensar na tutela como
uma sada para o desenvolvimento.
Essa imagem de pessoas que vivem em regies subdesenvolvidas tende a passar a
imagem de que so pessoas menos capazes no apenas para produzir, mas para qualquer
outra coisa que no seja trabalho de baixo prestgio social. Em algumas regies do pas,
vemos, por exemplo, a imagem do nordestino associada a essa pouca capacidade de
trabalhar e mesmo de pensar. Ouvimos muitas vezes, em So Paulo, o uso da expresso
baiano em contextos nos quais se procura assinalar uma incompetncia para trabalhos
que no sejam braais ou, ainda, para se referir a pessoas de pouca instruo. O mesmo
acontece no Distrito Federal com a expresso goiano. Isso significa dizer que h uma
espcie de ampliao de uma suposta incompetncia laboral e cognitiva para trabalhos
mais sofisticados.
O episdio ocorrido nas eleies presidenciais de 2010 em nosso pas no qual
houve uma incisiva mostra de dio de uma pessoa em redes sociais que dizia que se fizesse
o favor de matar um nordestino afogado foi apenas um dos muitos casos em que esse
preconceito com relao s origens regionais vinculados a uma determinada imagem de
que tipo de status social teria uma pessoa nordestina e o prprio nordeste brasileiro se
apresenta de modo violento ou incitador da violncia.
O classismo ou, mais apropriadamente, o elitismo aqui aparece como essa
estratgia de hierarquizar de modo violento pessoas em funo de suas posses, sejam
materiais ou supostamente culturais, de modo segregador, estigmatizador, desumanizante.
7
O enfrentamento ao elitismo e sua projeo no preconceito em relao regies
geogrficas e geopolticas um dos passos importantes para a construo de uma cultura
dos direitos humanos, tanto quanto a xenofobia, que a averso por algum em funo de
sua nacionalidade ou seu carter de estrangeiro.
2.4. O sexo diverso e as fobias da sexualidade
Dentre as muitas maneiras de regulao dos comportamentos, das condutas, das
identidades, talvez a sexualidade seja um dos mais controversos e difceis de entender. Em
1984, Michel Foucault nos colocava a inquietante questo: por que o comportamento
sexual, as atividades e os prazeres a ele relacionados, so objeto de uma preocupao
moral? (FOUCAULT, 1998, p. 14). Esta questo, apesar de parecer bastante trivial e de
resposta supostamente bvia a saber: por que as culturas assim o decidiram , parece
colocar em jogo o fato de que naturalizamos as prticas sexuais como experincias morais.
Foucault est preocupado em entender como a sexualidade se transforma em uma
diretriz que constitui a verdade sobre o sujeito, de modo que dizer a verdade sobre si
mesmo passaria por fazer compreender as maneiras como algum se relaciona com seus
prazeres, com seu corpo, com seus desejos, ou seja, a sexualidade passa a ser constitutiva
da verdade sobre si mesmo (FOUCAULT, 1999).
No conjunto das muitas relaes que as pessoas estabelecem atravs da sexualidade
est a relao que elas estabelecem com as outras pessoas. O carter relacional da
sexualidade , na maioria das vezes, pensado em funo de sua vinculao com a dimenso
biolgica da reproduo, o que faria com que a sexualidade estivesse subordinada uma
lgica naturalizada de modo binrio. A heteronormatividade seria esta dimenso de
subordinao da sexualidade sua funo reprodutiva e que teria como forma legtima,
aceita e natural a relao entre o par fmea e macho da espcie humana ou, como afirma
Cathy Cohen, estas prticas localizadas e instituies centralizadas que legitimam e
privilegia a heterossexualidade e as relaes heterossexuais como fundamentais e naturais
8
no interior da sociedade ou privilgio, poder e status normativo investido na
heterossexualidade (COHEN, 1997, p. 445).
A organizao das relaes em torno da heteronormatividade faz com que todas as
relaes que no sejam heterossexuais acabem por serem vistas como afrontas
moralidade, uma vez que a sexualidade heterossexual entra no rol das normas morais como
o padro das relaes afetivas/erticas humanas e tudo o que no se encaixa na
heteronorma, visto como um ataque imagem hegemnica de famlia e uma patente
ameaa esta.
Em virtude da recusa, averso e perseguio das relaes no heterossexuais,
vemos surgir as diversas fobias sobre a sexualidade: a homofobia, destinada de modo geral
homossexualidade; a bifobia, que ataca especificamente a bissexualidade; a lesbofobia,
que avessa s relaes afetivas/erticas entre mulheres; a travestifobia, que se investe
contra as pessoas travestis e; a transfobia que atinge as pessoas transexuais.
Muito embora a transexualidade no seja uma experincia necessariamente ligada
com a sexualidade, mas uma outra configurao das identidades de gnero, as pessoas
transexuais so tambm atingidas pela violncia gerada pelas pessoas, grupos ou
instituies que enxergam na experincia transexual uma agresso heteronormatividade.
A transfobia mostra que h uma ligao intrnseca entre a heteronormatividade e o
padro misgino das relaes entre os gneros, pois pensa que h uma espcie de
destinao natural das relaes entre os homens e as mulheres e v com maus olhos
quando homens e mulheres no ocupam o papel social que lhes destinado, ou seja, o par
heterossexual cisgnero (SERANO, 2007). A pessoa que se identifica com o gnero que
lhe fora atribudo ao nascer chamada de cisgnera, ao contrrio da pessoa transgnera,
que no experimenta essa mesma identificao (JESUS, 2012, p. 14).
H uma alta incidncia de mortes e outras formas de violncias fsicas e simblicas
causadas pelas diversas fobias em relao sexualidade. Em vrios lugares do mundo alm
das prticas de segregao, h penas de morte, violncias cotidianas, estupros corretivos de
mulheres lesbianas e uma profunda desigualdade de direitos civis entre pessoas
heterossexuais e no heterossexuais. Isso sem falarmos da elevada taxa de suicdios entre
9
pessoas no heterossexuais em funo da presso social para uma adequao
heteronormatividade.
Embora vrios pases do mundo j reconheam direitos civis s pessoas no-
heterossexuais, h ainda um profundo abismo que separa a comunidade LGBT Lsbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Trangneras/os das pessoas heterossexuais cisgneras. Uma
prtica desumanizadora que vitima centenas de milhares de pessoas por todo o mundo,
todos os anos.
O respeito s orientaes diversas da sexualidade e diversidade das identidades de
gnero deve ser pauta prioritria para a garantia dos direitos humanos. A dimenso afetiva
que est envolvida na sexualidade e na identidade de gnero absolutamente fundamental
para que uma pessoa possa viver plenamente. O respeito s outras experincias um valor
inexorvel na busca de uma sociedade que no se pretenda violadora de direitos
fundamentais.
2.5. A diversidade religiosa e a intolerncia
Embora nem todas as pessoas tenham alguma religio ou professem alguma crena
religiosa, podemos afirmar que a religiosidade uma das experincias mais importantes da
humanidade, exatamente por ser elemento constitutivo da atribuio de sentido para a vida
da maioria das pessoas, em todo o mundo.
Por outro lado, o fenmeno da intolerncia religiosa um dos mais importantes
nichos de violncia que observamos em nosso cotidiano. E tambm um dos mais difceis
de serem combatidos, na medida em que esse tipo de violncia est fundado em uma
recusa da diferena que se baseia em uma imagem de verdadeiro sentido do mundo, e,
muitas vezes em uma posio salvacionista de quem comete a intolerncia.
Em muitas das vezes nas quais vemos gestos de intolerncia encontramos falas que
acompanham esses gestos que poderiam ser assim traduzidas: Estamos realizando a
10
vontade de Deus: temos que mostrar que essa outra crena leva condenao, de modo que
quando atacamos uma crena diferente, estamos levando essas pessoas que professam
crenas erradas salvao. H quem sustente, inclusive, que so atos de boa f as
atitudes de intolerncia religiosa. A intolerncia seria o gesto de algum que acreditando
que sua crena a verdade, a nica verdade quer salvar outras pessoas de terem se
desviado do caminho correto.
Um dos grandes problemas desse tipo de argumento sustentar a imagem de
verdade nica para a orientao no apenas de minha vida, mas da vida de outras pessoas
e, com isso, encontrar razoabilidade na ideia de intolerncia. Como dissemos, as religies
no so tpicos quaisquer da experincia das pessoas: muitas vezes as religies so parte
da base da constituio do prprio sentido da vida, de muitas pessoas. Ento, combater
uma religio, muitas vezes implica em combater um eixo da constituio da identidade de
algum. E uma sociedade que se pretenda democrtica, que pretenda sustentar a ideia de
cidadania, deve-se ocupar sim dos efeitos da intolerncia religiosa, na medida em que ela
destruidora de lugares de identificao, destruidora de marcas culturais que fazem que
muitas pessoas se vejam como sujeitos no mundo.
A mirade de religies professada por muitas pessoas e tambm a enorme
quantidade de pessoas que no professam religio alguma ou no tm crenas religiosas
deve ser uma balizadora para pensarmos que o mundo estruturado para as experincias
privadas das crenas ou ausncia delas de modo diverso, de modo plural. Encontrar
maneiras de convivncia no violenta entre as diversas crenas e posturas com relao
elas um elemento fundamental para que possamos construir uma cultura dos direitos
humanos na qual acreditar, ou no, em algo, no seja motor para prticas nocivas e
violentas contra os direitos dos demais. O respeito inter-religioso um caminho
interessante para essa busca de convivncia pacfica. E assumir o carter privado da
experincia religiosa no seio de uma sociedade, como a nossa, multi-religiosa e buscar a
defesa de um Estado Laico soma-se aos esforos de enfrentamento intolerncia religiosa.
Convm lembrar que um Estado Laico no apenas uma dimenso da coisa pblica
que no professa uma religio especfica. , mais, uma relao com a pluralidade religiosa,
fazendo com que o Estado no se comprometa diretamente com nenhuma religio
11
especfica, mas garanta a todas as pessoas que nele vivem o direito de professar suas
crenas ou no-crenas, de modo respeitoso e pacfico. A liberdade de crena um pilar
fundamental das sociedades democrticas e precisamos criar estratgias para que este seja
protegido e promovido, ao nosso redor.
2.6. As idades e o adultocentrismo ou etarismo
Dentre as vrias transformaes que a Modernidade trouxe para a experincia das
pessoas no ocidente, o sentimento da infncia uma das mais marcantes no tocante ao
impacto na imagem do desenvolvimento humano e suas consequncias para a imagem do
sujeito moderno. Se antes no tnhamos uma diviso das etapas da vida humana marcada
essencialmente pelas idades ou pelos lugares sociais reservados elas, no mundo moderno
encontramos uma escala de localizaes em funo das diversas fases que se instanciam
atravs das faixas etrias que estruturam as fases da vida humana (ARIS, 2000; FLOR
DO NASCIMENTO, 2004).
As imagens pr-modernas da velhice, como sendo essa poca da sabedoria que
mantinha a tradio, se modifica tambm com a chegada da imagem da infncia, que finda
por determinar tambm uma espcie de idade ideal, esta sim plena, que articula todas as
capacidades em um estgio de otimizao da vida humana: a adultez.
Por meio deste fenmeno, surge a discriminao contra pessoas ou grupos em
funo de sua idade, o que vem sendo chamado de etarismo (BUTLER, 1969;
MONTEPARE e ZEBROWITZ, 2004). O etarismo parte da imagem que haja uma poca
da vida, a adultez, onde as capacidades humanas esto ou deveriam estar plenas e que
as outras idades representam ou uma falta, na infncia e juventude, ou uma caducidade ou
perda, na velhice.
As discriminaes em funo das idades fazem com que a infncia, a juventude e a
velhice estejam sempre tuteladas pela adultez e tm impactos drsticos na avaliao da
autonomia das pessoas no ainda adultas ou no mais adultas. Essas imagens geram modos
12
discriminatrios de lidar com as pessoas, que vo desde os processos educacionais que
agem reproduzindo e performando nas crianas e jovens esses esteretipos das fases da
vida, at a rea da sade, que centra a produo de medicamentos nessa fase tima da
vida que a adultez, trazendo prejuzos aos tratamentos das outras fases da vida.
Pensar um mundo que seja habitado por figuras que sejam modeladas em funo da
imagem do adulto, resulta em uma limitao de modos de lidar com a diversidade de
idades e experincias que ocorrem em todas as fases da vida. O envelhecimento das
populaes e a baixa taxa de mortalidade infantil faz com que convivamos com mais e
mais crianas, jovens e idosos. E precisamos aprender a lidar de modos no
discriminatrios com essas outras idades, sabendo que as imagens e expectativas, que
fazemos destas, so construes sociais atravessadas por valores que precisam
constantemente ser avaliados.
2.7. A compleio corporal e as morfofobias
A histria de nossas sociedades fez com que o corpo se tornasse a materializao
das pessoas, no qual a articulao das instncias fsicas e psquicas se manifestem nas
relaes interpessoais e com o ambiente. O corpo a superfcie no qual o prazer e a dor
ganham existncia e introduzem os sujeitos na vida social (GARRAFA e PORTO, 2002).
Deste modo, o corpo finda por ser a estrutura sobre a qual se baseia a vida social.
impossvel a concreo social sem ele (GARRAFA e PYRRHO, 2008, p. 302).
tambm, atravs do corpo que as culturas desenham as diferenas entre os
sujeitos e os colocam em relaes de poder (GARRAFA e PORTO, 2008, p. 163).
Exatamente por esse motivo, a misoginia, o racismo e o etarismo tm ligaes diretas com
o corpo e o controle deste , pois so atuaes do poder em sua forma de dominao. Por
isso um corpo nunca , na modernidade, apenas um corpo: um corpo engendrado (que
tem um gnero e produzido e marcado por ele), sexualizado, racializado, etarizado,
trabalhador. (FLOR DO NASCIMENTO, 2010, p. 103).
13
O corpo , assim, uma instncia privilegiada de politizao dos indivduos, uma vez
que ao manipular as necessidades que se relacionam com os corpos, os plos das relaes
de poder determinam que lugar social ocupam as pessoas e que vulnerabilidades estaro a
elas associadas.
Este modo de politizao, que prima por um padro corporal, finda por hierarquizar
corpos e sujeitos. E esse processo vai desde os parmetros estticos at o cuidado que se
possa ter com pessoas que tm corpos que se distanciam deste padro, por uma outra
compleio corporal, como no caso das pessoas que tem algum tipo de deficincia fsica ou
mesmo obesidade.
Neste contexto aparece a morfofobia, que a averso por corpos que tenham uma
compleio diferente dos padres estabelecidos, impactando nas relaes que
estabelecemos com as pessoas que tenham tais corpos distanciados dos padres. Enfrentar
as diversas formas de morfofobias que se instanciam, sobretudo na imposio de padres
estticos e na discriminao de pessoas com deficincias fsicas um dos grandes desafios
para uma cultura que tem uma relao tensa com o corpo, mas que precisa garantir as mais
variadas dimenses da manuteno dos direitos humanos, humanos estes com corpos
diversos.
2.8. A interseo de vulnerabilidades e as violncias
Vimos, at agora, um conjunto de prticas discriminatrias que findam por
vulnerabilizar os diversos sujeitos sobre os quais atuam. A vulnerabilidade, surgida dessas
prticas, tende a deixar as pessoas mais distantes do gozo dos direitos humanos, na medida
em que so retiradas da prpria humanidade, ou sub-humanizadas. As violncias advindas
das diversas discriminaes so presentes no cotidiano da maior parte das pessoas em
vrios lugares, do mundo.
Entretanto, essas estruturas de discriminao no acontecem normalmente isoladas.
Em nossa sociedade, ao mesmo tempo, se discrimina algum por ser homossexual, por ser
14
negra/o, por ser mulher (e por outras coisas que determinamos como fora da
normalidade), o que faz, por exemplo, que uma mulher negra, homossexual, pobre, que
seja uma pessoa com deficincia, esteja no topo da cadeia de vulnerabilidade.
Isso torna urgente o trato articulado dessas vulnerabilidades que surgem do fato de
que lidamos mal com a diferena e no tenhamos ainda introjetada uma cultura de direitos
humanos. Por isso, algumas feministas (sobretudo as feministas negras ou de cor) tm
introduzido nos debates o conceito de interseccionalidade para lidar com a multiplicidade
de experincias vulnerveis que atingem as pessoas e, normalmente, ao mesmo tempo
(CRENSHAW, 1994 LUGONES 2003). No adianta lidar com apenas uma violao de
direitos, pois na constituio da nossa cultura e de nossa sociedade, as diversas formas de
discriminao preconceituosas e que violam os direitos humanos so todas peas
fundamentais. Atacar apenas uma delas no resolveria o problema estrutural que promove
as vulnerabilidades.
Nesse contexto, a abordagem interdisciplinar da questo dos direitos humanos pode
trazer um excelente esteio para que pessoas mais vulnerveis socialmente sejam protegidas
e que tenham seus direitos fundamentais respeitados, garantidos, promovidos. E a
abordagem atenta interseccionalidade das vulnerabilidades pode oferecer ferramentas
mais precisas para a anlise dos casos nos quais as violaes de direitos humanos se faa
presente.
2.9. A educao do preconceito
A escola , sem dvida, uma das instituies mais importantes de nossa sociedade.
No espao escolar, construmos, aprendemos, recriamos e transmitimos valores, prticas e
marcas culturais. Embora em outros espaos sociais a construo de sujeitos tambm
acontea, tambm neste espao que aprendemos a ser o que somos. o mesmo espao
escolar um dos lugares onde aprendemos modos de lidar com o mundo, com as outras
pessoas, conosco mesmas/os. Estes aspectos tornam a escola como um local privilegiado
15
de formao e normalmente tendemos a pensar a educao em termos de educao escolar,
devido a importncia desta instituio para a tarefa de educar.
Exatamente, por essas caractersticas, a escola tambm um lugar de reproduo
do negativo de nossos valores culturais: o preconceito, a discriminao, a violncia.
Pesquisas recentes nos mostram que a escola permanece sendo um dos mais importantes
nichos de agresses s pessoas que nossos valores hegemnicos condenam (FPA, 2009;
ABRAMOVAY, 2009; MEC/INEP/FIPE, 2009). As pessoas diferentes da norma vigente,
em nossa sociedade (na qual o padro de cidado ideal masculino, heterossexual, branco,
cristo, com uma confortvel capacidade de consumo), so tratadas com diversos nveis de
segregao e violncia. Na escola, se exerce e se pratica a violao e se aprende a violar
essas pessoas diferentes.
Algumas das principais formas de segregao e violncia contra as pessoas que
diferem do padro vigente de nossa sociedade so o sexismo, a homofobia, a lesbofobia e a
transfobia. Entendemos por sexismo a prtica de em funo da hierarquizao social das
relaes entre o masculino e feminino privilegiar pessoas de um determinado sexo
(normalmente, o masculino) ou de uma determinada orientao sexual, sendo que a pessoa
desprivilegiada normalmente agredida ou menosprezada em funo deste desprivilegio.
J a homofobia pode ser pensada de um modo geral como a hostilidade geral, psicolgica
e social aqueles e aquelas que supostamente sentem desejo ou tm relaes sexuais com
indivduos de seu prprio sexo (BORRILHO, 2009, p. 28). Quando esta hostilidade
projetada contra mulheres, chamamos de lesbofobia, que tem como uma de suas
caractersticas a subsuno da visibilidade das prticas afetivo-sexuais entre mulheres. Ao
se voltar contra travestis, transexuais ou trangneros, esta hostilidade chamada de
transfobia.
Na escola, essas hostilidades homo, lesbo ou transfbicas assumem um carter
muito importante na constituio da sociabilidade e da individualidade das pessoas que
perpassam o espao escolar: docentes, estudantes e todo o restante da comunidade escolar.
Neste cenrio violento aprende-se a ser heterossexual (violando quem no ) e aprende-se
a no ser heterossexual, sofrendo violncias, escondendo seus afetos ou sendo menos
inteiro nas aparies pblicas. E a violncia se institui como uma das marcas de
16
constituio da subjetividade das pessoas que esto na escola e, saindo dela, levam consigo
essas marcas, as distribuem, multiplicam, disseminam.
A violncia contra as mulheres uma das prticas mais comuns decorrentes do
sexismo e as mesmas pesquisas que apontam uma forte presena da homo, lesbo e
transfobia no espao escolar, apontam tambm para uma forte presena do sexismo que
alm de hierarquizar as relaes entre o masculino e o feminino violam as mulheres.
fcil notar que h uma ligao forte entre sexismo e homo, lesbo e transfobia, de modo que
alguns autores diro que a homofobia um dos modos de apario do sexismo
(BORRILHO, 2009).
Porm, para alm de sua caracterstica de reprodutora de preconceitos e violncias
sociais a escola poderia aparecer como uma ferramenta til e importante no combate
homo, lesbo e transfobia, devido a sua funo de orientar, conscientizar e, de fato, agir
sobre a formao de cidads e cidados. E no sentido de desfazer esse papel de
manuteno, para que haja um novo espao de combate a homo, lesbo e transfobia, a
escola precisa se atualizar, entre outras coisas, frente s novas demandas sociais e
proposta dos Parmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 303) para a Orientao
Sexual que asseveram:
Em relao s questes de gnero, por exemplo, os professores
devem transmitir, por sua conduta, a valorizao da equidade entre
os gneros e a dignidade de cada um individualmente. Ao orientar
todas as discusses, eles prprios respeitam a opinio de cada aluno
e, ao mesmo tempo, garantem o respeito e a participao de todos,
explicitando os preconceitos e trabalhando pela no-discriminao
das pessoas. Para a construo dessa postura tica, o trabalho
coletivo da equipe escolar, definindo princpios educativos, em
muito ajudar cada professor em particular nessa tarefa.
Na busca de garantir os direitos humanos a todas as pessoas na escola,
independente de sua identidade de gnero ou de sua orientao afetivo-sexual, uma srie de
marcos legais busca construir um espao escolar menos agressivo, hostil, mais acolhedor
todas as pessoas em sua singularidade e em sua diferena ou pertena ao padro
hegemnico, ao mesmo tempo em que critica a obrigatoriedade e a universalidade deste
17
padro.
O captulo 4 do II PNPM descreve os objetivos, metas e prioridades do Governo
Federal para o enfrentamento violncia contra as mulheres, seguindo o princpio da
transversalidade e interseccionalidade das aes que deveriam ser implementadas at 2011.
A elaborao do Plano Nacional de Polticas para as Mulheres foi feita de forma
participativa atravs das Conferncias Nacionais e evidenciam o compromisso do Brasil
em eliminar a discriminao contra mulheres, cumprindo os acordos internacionais
ratificados na Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao Contra
as Mulheres (1979) e Conveno Interamericana para prevenir, punir e erradicar a
violncia contra a mulher, Conveno de Belm do Par (1994).
Dentre as aes previstas neste captulo, destaca-se a seguinte prioridade: promover
a formao continuada dos profissionais da educao nas temticas de gnero e de
violncia contra as mulheres, raa/etnia, orientao sexual e gerao.
O captulo 9 do II PNPM prev aes para o enfrentamento do racismo, sexismo e
lesbofobia, e tem como objetivos especficos, ampliar o conhecimento sobre a dimenso
ideolgica do racismo, sexismo e lesbofobia; superar as dimenses de desigualdade
baseadas no racismo, sexismo e lesbofobia e; reduzir os ndices de racismo institucional
contra as mulheres, garantindo o acesso equitativo s diferentes polticas pblicas. Dentre
as metas, destaca-se a formao de 120 mil profissionais da educao bsica nas temticas
de gnero, relaes tnico-raciais e orientao sexual; contribuir para ampliao da
frequncia de meninas, jovens e mulheres negras na educao bsica; formular e
implementar programas, projetos e aes afirmativas e de enfrentamento ao racismo,
sexismo e lesbofobia nas instituies pblicas governamentais.
O compromisso do Brasil com os princpios de Yogyakarta na elaborao de
polticas pblicas de garantia do reconhecimento da diversidade sexual e ao enfrentamento
de todas as formas de discriminao em funo da diversidade de orientao sexual, assim
como os tpicos ligados com a educao escolar presentes no Programa Brasil sem
Homofobia, tambm frisam a importncia dos processos de capacitao de profissionais
para compreenderem as dinmicas de desenvolvimento das sexualidades de modo a no
impetrar contra elas preconceitos advindos de uma imagem errnea, intolerante e
18
naturalizada da sexualidade.
Neste contexto, a formao docente para entender o fenmeno do sexismo,
desnaturalizando as imagens do masculino e do feminino, entendendo a constituio social
dos papis de gnero e das orientaes sexuais, assim como um trabalho de capacitao
inicial e continuada uma exigncia de praticamente todos os documentos legais que se
ocupam da temtica dos direitos humanos ligados com a diversidade de gnero e de
orientao sexual, buscando a equidade dos gneros e o reconhecimento de que a
diversidade de orientaes afetivo-sexuais no constitui um problema em si, mas apenas
quando relacionado com a norma violenta que institui um padro de comportamento e
sentimento para a sociedade.
No cenrio da busca de uma escola cidad, comprometida com os direitos humanos,
torna-se essencial e urgente a capacitao de profissionais da educao sobretudo na
educao bsica para que os primeiros passos para a desconstruo do sexismo, da
homofobia, da lesbofobia e da transfobia sejam dados de maneira efetiva e que novas
possibilidades de lidar com a diferena se estabeleam no ambiente escolar e para que o
papel formador da escola seja efetivado na construo de pessoas acolhedoras, no-
intolerantes, aptas a um convvio com a diversidade.
Referncias
ABRAMOVAY, Mirian (Coord.). Revelando tramas, descobrindo segredos: violncia e
convivncia nas escolas. Braslia: Rede de Informao Tecnolgica Latino-americana -
RITLA, Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal - SEEDF, 2009.
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. So Paulo: Companhia das Letras, 2004.
ARIS, Philippe. Histria Social da Criana e da Famlia. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
AUAD, Daniela. Feminismo: que histria essa? Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
BORRILHO, Daniel. A homofobia. In: LIONO, Tatiana; DINIZ, Dbora. Homofobia &
Educao: um desafio ao silncio. Braslia: Letras Livres/EdUnB, 2009.
19
BRASIL, Parmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, orientao sexual.
Secretaria de Educao Bsica. Braslia: MEC/SEB, 1997.
BUTLER, Robert N. Age-ism: Another form of bigotry. In: The Gerontologist. 1969, n 9,
pp. 243-246.
COHEN, Cathy J. Punks, bulldaggers, and welfare queens: The radical potential of queer
politics? In: GLQ: A Journal of Lesbian & Gay Studies. 1997, vol. 4, n
o
3, pp. 437-465.
CRENSHAW, Kimberl Williams. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity
Politics, and Violence Against Women of Color. In: Martha Albertson Fineman e Rixanne
Mykitiuk (Eds.). The Public Nature of Private Violence. New York: Routledge, 1994.
FLOR DO NASCIMENTO, Wanderson. Esboo de crtica escola disciplinar. So Paulo:
Loyola, 2004.
FLOR DO NASCIMENTO, Wanderson. Por uma vida descolonizada: Dilogos entre a
Biotica de Interveno e os Estudos sobre a Colonialidade. Tese (Doutorado em Biotica).
Programa de Ps-Graduao em Biotica. Braslia: Universidade de Braslia, 2010.
FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade 2: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro:
Graal, 1998.
FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade 1: A vontade de Saber. Rio de Janeiro:
Graal, 1999.
FPA, Fundao Perseu Abramo. Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil: Intolerncia e
Respeito s Diferenas Sexuais. So Paulo: FPA, 2009. Disponvel em
http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/index.php?storytopic=1768.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. A formao da famlia brasileira sob o
regime da economia patriarcal. So Paulo: Global: 2003.
GARRAFA, Volnei e PORTO, Dora. Biotica, poder e injustia: por uma tica de
interveno. In: O mundo da sade. 2002, vol. 26, n
o
1, pp. 6-15
GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relaes raciais
no Brasil: uma breve discusso. In: Eliane Cavalleiro (Org.). Educao anti-racista:
caminhos abertos pela Lei Federal 10.639/03. Braslia: MEC/SECAD, 2005.
20
JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientaes sobre identidade de gnero: conceitos e termos.
Braslia: Autor, 2012.
LUGONES, Mara. Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalitions Against Multiple
Oppressions. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.
MEC/INEP/FIPE. Pesquisa Diversidade na Escola. Braslia: Ministrio da Educao,
SECAD, 2009. Disponvel em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13917%3Apes
quisa-diversidade-na-escola&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=871
MONTEPARE, Joann M; ZEBROWITZ, Leslie A. A Social-Developmental View of
Ageism. In: Todd D. Nelson (Ed.). Ageism. Stereotyping and Prejudice against Older
Persons. Cambridge: MIT Press, 2004.
QUIJANO, Anbal. Colonialidad y Modernidad-racionalidad. In: Heraclio Bonillo (Comp).
Los conquistados. Bogot: Tercer Mundo Ediciones; FLACSO, 1992.
QUIJANO, Anbal. Diversidade tnica. In: Emir Sader et alii (Coords.). Latinoamericana.
Enciclopdia contempornea da Amrica Latina e do Caribe. Rio de Janeiro/So Paulo:
Laboratrio de Polticas Pblicas UERJ/Boitempo, 2006.
SANTOS, Joel Rufino dos. O que Racismo. So Paulo: Brasiliense, 2000.
SEGATO, Rita Laura. Las estructuras elementares de la violencia. Ensayos sobre gnero
entre la antropologa, el psicoanlisis y los derechos humanos. Bernal: Universidad
Nacional de Quilmes, 2003.
SERANO, Julia. Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of
Femininity. Berkeley: Seal Press, 2007.
You might also like
- Idade MédiaDocument1 pageIdade MédiaProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- D&D 5E - Livro Do Jogador - Fundo ColoridoDocument317 pagesD&D 5E - Livro Do Jogador - Fundo Coloridosérgio100% (1)
- Revolução RussaDocument1 pageRevolução RussaProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Era Vargas PDFDocument1 pageEra Vargas PDFProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- D&D Character SheetDocument3 pagesD&D Character SheetUthan SantosNo ratings yet
- O Poder Da Cultura - IcarabeDocument1 pageO Poder Da Cultura - IcarabeJonatas AlexandreNo ratings yet
- Mulheres GregasDocument1 pageMulheres GregasProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Ditadura Militar PDFDocument1 pageDitadura Militar PDFProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Antiguidade OrientalDocument1 pageAntiguidade OrientalProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Revolucao Russa de 1905 - PDFDocument14 pagesRevolucao Russa de 1905 - PDFProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- O Poder Da Cultura 2020 PDFDocument1 pageO Poder Da Cultura 2020 PDFProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- História e Cultura - Carlo GinzburgDocument10 pagesHistória e Cultura - Carlo GinzburgtibobsterNo ratings yet
- O Poder Da Cultura - IcarabeDocument1 pageO Poder Da Cultura - IcarabeJonatas AlexandreNo ratings yet
- Gnomo - Livro Do Jogador 3.52Document2 pagesGnomo - Livro Do Jogador 3.52Profes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Entrevista com o historiador italiano Giovanni LeviDocument5 pagesEntrevista com o historiador italiano Giovanni LeviProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Raio X Do ENEMDocument1 pageRaio X Do ENEMThenysson MatosNo ratings yet
- Intelectual Orgânico - José Santana Da SilvaDocument22 pagesIntelectual Orgânico - José Santana Da SilvaProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Roteiro Das Aulas de Direitos Humanos - Cadernos ColaborativosDocument3 pagesRoteiro Das Aulas de Direitos Humanos - Cadernos ColaborativosProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Coenelius Castoriadis - A Instituição Imaginária Da Sociedade PDFDocument7 pagesCoenelius Castoriadis - A Instituição Imaginária Da Sociedade PDFRodionRaskolnikov100% (1)
- Cartilha Montando Uma OngDocument39 pagesCartilha Montando Uma OngEduardo MesquitaNo ratings yet
- Os Protagonistas Anônimos Da História - Micro-HistóriaDocument2 pagesOs Protagonistas Anônimos Da História - Micro-HistóriaJoão Muniz JuniorNo ratings yet
- Intelectual OrgânicoDocument17 pagesIntelectual OrgânicoProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- Seção III-Sujeitos Da Diversidade Cultural e Da DesigualdadeDocument11 pagesSeção III-Sujeitos Da Diversidade Cultural e Da DesigualdadeProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- São Paulo Cultural TerrestreDocument2 pagesSão Paulo Cultural TerrestreProfes Hist Jonatas AlexandreNo ratings yet
- A (Re) Construção Da Africanidade Através Da Coleção Mama ÁfricaDocument67 pagesA (Re) Construção Da Africanidade Através Da Coleção Mama ÁfricaNatália SilvaNo ratings yet
- Ancestralidade Afro-Brasileira - O Culto de Babá Egum PDFDocument70 pagesAncestralidade Afro-Brasileira - O Culto de Babá Egum PDFPaulo AlexandreNo ratings yet
- GRR20213314SIN162 Tarefa1Document3 pagesGRR20213314SIN162 Tarefa1JuãoNo ratings yet
- Resenha Do Filme Crash No LimiteDocument6 pagesResenha Do Filme Crash No LimiteBruno Ferreira100% (1)
- CPD 040 2023 - Ciencia, Tecnologia e Sociedade - Efetivo DtechDocument39 pagesCPD 040 2023 - Ciencia, Tecnologia e Sociedade - Efetivo DtechFábio Rodrigo LeiteNo ratings yet
- A negação da igualdade e da democraciaDocument474 pagesA negação da igualdade e da democraciaKelpper CozinhasNo ratings yet
- O Darwinismo Social Presente No Brasil Do Século XXIDocument5 pagesO Darwinismo Social Presente No Brasil Do Século XXISérgio HenriqueNo ratings yet
- Livro 2 Trajetórias Negras Na Universidade Resistências Histórias Intelectuais PDFDocument287 pagesLivro 2 Trajetórias Negras Na Universidade Resistências Histórias Intelectuais PDFValentina Carranza WeihmüllerNo ratings yet
- Slide - Tolerância e Desigualdade de Gênero - Julho 2022 (Curso Gustavo) ..CleanedDocument46 pagesSlide - Tolerância e Desigualdade de Gênero - Julho 2022 (Curso Gustavo) ..CleanedCristian Xavier de BritoNo ratings yet
- Durarara v01 CompletoDocument187 pagesDurarara v01 CompletoRafael Guerra Vila SerratNo ratings yet
- Origens e identidade do congado: a herança cultural dos povos bantusDocument9 pagesOrigens e identidade do congado: a herança cultural dos povos bantusCristiane DuarteNo ratings yet
- Professor: Disciplina: Conteúdo:: Mac Dowell Sociologia Raça, Etnia E Multiculturalismo - Aula - 01Document20 pagesProfessor: Disciplina: Conteúdo:: Mac Dowell Sociologia Raça, Etnia E Multiculturalismo - Aula - 01alexonNo ratings yet
- Processo seletivo UFRB para professor visitanteDocument18 pagesProcesso seletivo UFRB para professor visitanteDavi LaraNo ratings yet
- Apostila Sociologia 3 Ano 1 e 2 BimestreDocument48 pagesApostila Sociologia 3 Ano 1 e 2 BimestreAriclenes Ferreira100% (1)
- Comunidades Quilombolas: Lutas e ResistênciaDocument7 pagesComunidades Quilombolas: Lutas e ResistênciaAline TestasiccaNo ratings yet
- Colonização Quilombos Texto BispoDocument83 pagesColonização Quilombos Texto BispoTiago XiwãripoNo ratings yet
- Pesquisa alométrica entre negros e albinos no esporteDocument5 pagesPesquisa alométrica entre negros e albinos no esporteLuciana VicenteNo ratings yet
- A Tomada de Caiena Vista Do Lado FrancesDocument11 pagesA Tomada de Caiena Vista Do Lado FrancesGabi OoNo ratings yet
- Manifesto Cot AsDocument46 pagesManifesto Cot AsCarla Fernanda Aprato ApratoNo ratings yet
- Teorias sobre Raça e RacismoDocument11 pagesTeorias sobre Raça e RacismoVictor Hugo BarretoNo ratings yet
- Respeitem Meus Cabelos, Brancos Música, Política e Identidade NegraDocument24 pagesRespeitem Meus Cabelos, Brancos Música, Política e Identidade NegraCeiça FerreiraNo ratings yet
- Análise do filme Crash à luz da exclusão socialDocument6 pagesAnálise do filme Crash à luz da exclusão socialcarbeiroNo ratings yet
- Africana Womanism - A ideologia criada para mulheres negrasDocument23 pagesAfricana Womanism - A ideologia criada para mulheres negrasAlice VitoriaNo ratings yet
- Vamos Fazer o Cabelo Um Estudo Sobre As Mulheres Trancadeiras de MarabaDocument14 pagesVamos Fazer o Cabelo Um Estudo Sobre As Mulheres Trancadeiras de MarabaIsabel VieiraNo ratings yet
- Damião ExperiençaDocument15 pagesDamião ExperiençaBolívar HaeserNo ratings yet
- Negro No ESDocument145 pagesNegro No ESFábio Bacila SahdNo ratings yet
- Ferdinand Denis e A Formação de Literatura BrasileiraDocument12 pagesFerdinand Denis e A Formação de Literatura BrasileiraOliveiraellen2013100% (1)
- Como trabalhar com raça em sociologiaDocument19 pagesComo trabalhar com raça em sociologiaThais Alves MarinhoNo ratings yet
- 2 Artigo AGUIARDocument20 pages2 Artigo AGUIARAntônio BarrosNo ratings yet
- Plano de Aula Geof104 Reconhecendo A Miscigenacao Brasileira Na Sala de AulaDocument13 pagesPlano de Aula Geof104 Reconhecendo A Miscigenacao Brasileira Na Sala de AulaOziete S. SilvaNo ratings yet