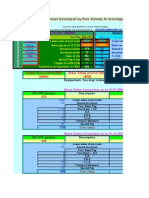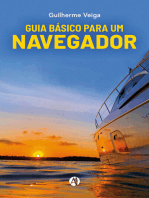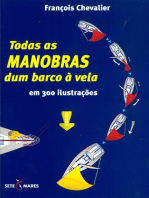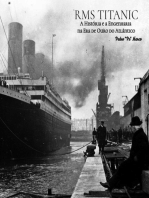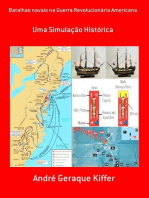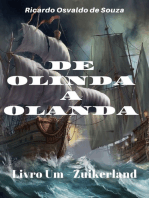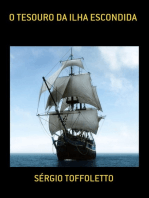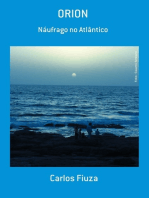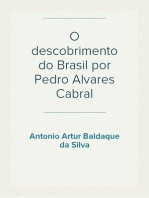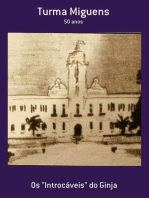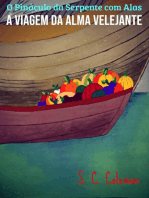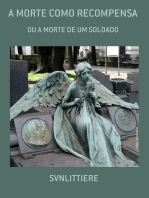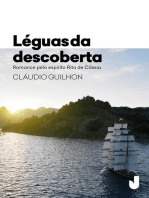Professional Documents
Culture Documents
ARTENAV1
ARTENAV1
Uploaded by
interlojas0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views514 pagesArte Naval
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentArte Naval
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views514 pagesARTENAV1
ARTENAV1
Uploaded by
interlojasArte Naval
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 514
ESCWA ge Antemcerte € Cerves
a MAURILIO M. FONSECA
CAPITAO-DE-MAR-E-GUERRA
| Arte Navar
Volume 1
5? edicdo
= 1989
© 1989 Servico de Documentacao Geral da Marinha
12 edic&o: 1954
edicdo:
4? edicdo: 1985
5? edicdo: 1989
F676a_ Fonseca, Maurilio Magalhdes, 1912 —
‘Arte Naval/Maurilio Magalhaes Fonseca —
5% ed. — Rio de Janeiro: Servigo de Documentagao Geral da
Marinha, 1989.
2v.: i.
ISBN 85-7047-051-7
1. Navios-Nomenclatura. 2. Navios-Classificagao. 3. Navios
a vela. 4. Marinharia. I Titulo.
CDD 623.8201
SERVICO DE DOCUMENTACAO GERAL DA MARINHA
Rua Dom Manuel, 15
ISBN 85 -7047-051-7
Impresso no Brasil
PREFACIO DA 28 EDICAO
Este livro foi iniciado a bordo do cruzador “Bahia” em 1938,
quando 0 autor, com outros tenentes, procurava passar o tempo estudan-
do os nomes das pecas do casco e do aparelho do navio, Nas horas de folga,
entre dois exercicios de artilharia, faziamos uma batalha de marinharia,
cada um procurando pergunta mais dificil para fazer ao outro. Verifica-
mos ent&o que nem as questdes mais faceis podiamos dar resposta e, 0
que é pior, nao tinhamos livro onde aprender. As dnicas publicagdes
sobre a matéria tratavam de veleiros em casco de madeira. Recorrfamos
assim aos oficiais mais experimentados, ao pessoal da ‘‘faxina do mes-
tre’’, gente rude de boa escola como 0 inesquecivel companheiro Hér-
cules Pery Ferreira, patraéo-mor cujo grande orgulho era ter sido grume-
te do NE “Benjamin Constant’.
Decidimos desde logo que era preciso guardar com carinho essa
linguagem do marinheiro, conservar nas menores fainas a tradi¢ao de
bordo, em tudo que ela tem de peculiar a nossa profissdo, e das peque-
nas anota¢des surgiram alguns fasciculos, que no ousdvamos publicar.
Mas, tivemos a sorte de viver embarcados, em todos os postos da car-
reira, e em todos os tipos de navio: no encouragado ‘Sao Paulo”, cruza-
dor “Bahia”, contratorpedeiro “Santa Catarina”, submarino ‘“‘Timbira’,
nos submarinos norte-americanos ‘“Atule’ e ‘‘Dogfish”; no comando do
rebocador “Mario Alves’, do submarino ‘‘Timbira”’ e, mais tarde, do
contratorpedeiro “‘Mariz e Barros’’. O passadico nos deu a experiéncia
que faltava e a coragem necessdria para prosseguir nos trabalhos.
Nao foi sem grandes dificuldades que conseguimos ver o livro
publicado em 1954. A 18 edicdo, distribuida e vendida exclusivamente
pelo Ministério da Marinha, esgotou-se em pouco tempo. Apresentamos
agora a 28 edi¢do, com mais dois capitulos, que se referem a legislacao e
transportes de carga em navios mercantes. O livro ainda nao esta tao
bom como desejévamos. Mas, se ele tiver servido, e ainda, no futuro, se
puder servir para ajuda aos alunos nas escolas, ou para tornar mais efi-
ciente qualquer manobra ou faina a bordo, ent&éo nos damos por satis-
feitos e bem recompensados pela tarefa a que nos dedicamos.
M.M.F.
APRESENTACAO DA 4? EDIGAO
A 48 edico do ARTE NAVAL, mandada imprimir pelo meu
antecessor, rapidamente se esgotou; sendo este compéndio basico para a
instrugdo e formagdo do Oficial da Marinha, sentimo-nos no dever de
preparar esta 5? edicdo
Dezessete Oficiais, Instrutores do Centro de Ensino Militar Na-
val da Escola Naval, organizaram a presente reviséc, ampliando-a e apri-
morando-a em varios pontos, principalmente no tocante a novas ilustra-
ges, servico este que foi mais ainda valorizado por ter sido feito con-
comitantemente com as suas atribuicSes normais.
Ressalto a importante colaboragdo e coordena¢g&o técnica do
Servigo de Documentacao Geral da Marinha, o que nao sé permitiu esta
esmerada edic¢ao, em tao pouco tempo, como também passar aque-
le Servico a responsabilidade pela editorag3o deste livro, o que aliviou a
Escola Naval de encargo estranho as suas atividades.
O homem do mar continua, assim, a dispor da obra do Coman-
dante Maurilio Magalhdes Fonseca, fundamental para o seu aperfeic¢oa-
mento profissional, agora em dois volumes, para maior facilidade de
dois ho
IVAN DA dy shee SO,
Contra-Almirante
Comandante da Escola Naval
eS
INDICE GERAL
CAPITULO |
NOMENCLATURA DO NAVIO
Segdo A — Do navio, em geral.... 6.0 c cece eee eee nee Pag. 1
1-1, Embarcacéo e navio; 1-2. Casco; 1-3. Proa (Pr); 1-4. Popa (Pp); 1-5.
Bordos; 1-6. Meia-nau (MN); 1-7. Bico de proa; 1-8. A vante e a ré; 1-
Corpo da proa; 1-10. Corpo de popa; 1-11. Obras vivas (OV) e carena;
1-12, Obras mortas (OM); 1-13. Linha d’égua (LA); 1-14. Costado;
1-15. Bojo; 1-16. Fundo do navio; 1-17. Forro exterior; 1-18. Forro
interior do fundo; 1-19. Bochechas; 1-20. Amura; 1-21. Borda; 1-22.
Borda-falsa; 1-23. Amurada; 1-24. Alhetas; 1-25. Painel de popa ou
somente painel; 1-26. Grinalda; 1-27. Almeida; 1-28. Delgados; 1-29.
Cinta, cintura ou cintado do navio; 1-30. Resbordo; 1-31. Calcanhar;
1-32. Quina; 1-33. Costura; 1-34. Bosso do eixo; 1-35. Balango de proa:
1-36. Balanco de popa; 1-37. Superestrutura; 1-38. Castelo de proa;
1-39. Tombadilho; 1-40. Superestrutura central; 1-41. Pogo; 1-42. Supe-
restrutura lateral; 1-43. Contrafeito; 1-44. Contra-sopro; 1-45. Jardim
de popa; 1-46. Recesso; 1-47. Recesso do tunel; 1-48. Talhamar; 1-49,
Torreo de comando; 1-50. Apéndices.
Segao B — Pecas principais da estrutura dos cascos
MetalicOsS... 2... e eee eee eae . Pag. 8
1-51. Ossada e chapeamento; 1-52. Vigas e chapas longitudinais: a. Qui-
tha; b. Sobrequilha; c. Longarinas, ou longitudinais; d. Trincaniz; e. Si-
cordas; 1-53. Vigas e chapas transversais: a. Cavernas; b. Cavernas altas;
c. Vaus; d. Hastilhas; e. Cambotas; 1-54. Reforgos locais: a. Roda de
proa; b. Cadaste; c. Pés de carneiro; d. Vaus intermediarios; e. Vaus
secos; f. Latas; g. Bugardas; h. Prumos; i. Travessas; j. Borboletas ou
esquadros; |. Tapa-juntas; m. Chapa de reforco; n. Calgos; 0. Colar; p.
Cantoneira de contorno; q. Gola; 1-55. Chapeamento: a. Chapeamento
exterior do casco; b.Chapeamento do convés e das cobertas; c. Chapea-
mento interior do fundo; d. Anteparas.
Segdo C — Convés, cobertas, plataformas e espacos
ENTE CONVESES 66 oe cece cece cnet nee e nes
1-56. Divisio do casco.
Segdo D -- Subdiviso do casco
1-57. Compartimentos; 1-58. Compartimen' fang!
-fundo (DF); 1-60. Tanque; 1-61. Tanaues de dleo: a. Tanques de com:
bustivel; b. Tanques de reserva; c. Tanques de verdo; 1-62. Tanques
fundos; 1-63. Céferda, espago de seguranca, espaco vazio ou espaco de
ar; 1-64. Compartimentos ou tanques de colisdo; 1-65. Tiunel do eixo;
1-66. Tunel de escotilha, ou tinel vertical; 1-67. Carvoeira; 1-68. Paiol
da amarra; 1-69. Paidis; 1-70. Pragas; 1-71. Camarotes; 1-72. Camara;
vi ARTE NAVAL
1-73. Antecdmara; 1-74. Diregao de tiro; 1-75. Centro de informacdes
de Combate (CIC); 1-76. Camarim; 1-77. Alojamentos; 1-78. Corredor;
1-79. Trincheira.
Segdo E — Aberturas no CasCO.. 1... ccc ec eee eee Pag. 26
1-80. Bueiros; 1-81. Clara do hélice; 1-82. Escotilhas; 1-83. Agulheiro;
1-84, Escotilhao; 1-85. Vigia; 1-86. Olho de boi; 1-87. Enoras; 1-88. Ga-
teiras; 1-89. Escovém; 1-90. Embornal; 1-91. Saidas d‘agua; 1-92. Por-
tal; 1-93. Portinholas; 1-94. Seteiras; 1-95. Aspiracdes; 1-96. Descargas.
Secdo F — Acessérios do casco, nacarena...........00.005 Pag. 29
1-97. Leme; 1-98, Pé de galinha do eixo; 1-99. Tubo telescopico do
eixo; 1-100. Tubulao do leme; 1-101. Suplemento de uma valvula;
1-102, Quilhas de docagem; 1-103. Bolinas, ou quilhas de balancgo;
1-104. Zinco protetor; 1-105. Buchas.
Segdo G — Acessérios do casco, no costado...........0000e Pag. 30
1-106. Verdugo; 1-107. Guarda-hélice; 1-108. Pau de surriola; 1-109.
Verga de sécia; 1-110. Dala; 1-111. Dala de cinzas, dala da cozinha;
1-112. Escada do portalé; 1-113. Escada vertical; 1-114. Patim; 1-115.
Raposas; 1-116, Figura de proa; 1-117. Castanha.
Secdo H — Acessérios do casco, na borda ...
1-118. Balaustre; 1-119. Corrim%o da borda;
Tamanca.
Segdo | — Acessorios do casco, nos compartimentos......... Pag. 34
1-122. Carlinga; 1-123. Corrente dos. bueiros; 1-124. Jazentes; 1-125.
Quartel; 1-126. Xadrez; 1-127. Estrado; 1-128. Tubos acisticos; 1-129.
Telégrafo das maquinas, do leme, das manobras AV e AR; 1-130. Por-
tas. 1-131. Portas’ estanques; 1-132. Portas de visita; 1-133. Beliche;
1-134, Servigos gerais; 1-135. Rede de esgoto, de ventilagdo, de ar com-
primido, etc.; 1-136. painéis.
Seco J — Acessérios do casco, NO CONVES...2 0.2.0 cece Pag. 35
1-137. Cabegos; 1-138, Cunho; 1-139. Escoteira; 1-140. Reclamos;
1-141, Malagueta; 1-142. Retorno; 1-143. Olhal; 1-144, Arganéu;
1-145. Picadeiros; 1-146. Berco; 1-147. Pedestal; 1-148. Cabide; 1-149.
Gaitita; 1-150, Bucha do escovém, da gateira, etc.; 1-151. Quebra-mar;
1-152, Ancora; 1-153. Amarra; 1-154. Aparelho de fundear e suspender;
1-155. Cabrestante; 1-156. Molinete; 1-157. Mordente; 1-158. Boca da
amarra; 1-159. Abita; 1-160. Aparelho de governo; 1-161. Aparelho do
navio; 1-162. Mastro; 1-163. Langa ou pau de carga; 1-164. Guindaste;
1-165. Pau da Bandeira; 1-166, Pau da Bandeira de cruzeiro; 1-167. Fa-
chinaria; 1-168. Toldo; 1-169. Sanefas; 1-170. Espinhaco; 1-171. Ver-
gueiro; 1-172, Ferros do toldo; 1-173. Paus do toldo; 1-174. Meia-laran-
ja; 1-175. Capuchana; 1-176. Cabo de vaivém; 1-177. Corrimao da ante-
para; 1-178. Sarilho; 1-179. Selha; 1-180. Estai da borda, estai do balatis-
tre, estai de um ferro; 1-181. Turco; 1-182. Visor; 1-183. Ventiladores;
1-184. Ninho de pega.
Pag. 33
uzina; 1-121.
120.
(NDICE GERAL vil
CAPITULO II
GEOMETRIA DO NAVIO
Secgéo A — Definigdes Pag. 53
2-1. Plano diametral, plano de flutuagdo e plano transversal; 2-2. Linha
de flutuagao; 2-3. Flutuagdes direitas, ou retas; 2-4. Flutuagdes isocare-
nas; 2-5. Linha d’agua projetada, ou flutuagao de projeto (LAP); 2-6.
Zona de flutuacdo; 2-7. Area de flutuagdo; 2-8. Area da linha d’agua;
2-9. Superficie moldada; 2-10. Linhas moldadas; 2-11. Superficie da
carena; 2-12. Superficie mothada; 2-13. Volume de forma moldada;
2-14. Volume da carena; 2-15. Curvatura do vau; 2-16. Linha reta do
vau; 2-17, Flecha do vau; 2-18. Mediania; 2-19. Se¢&o a meia-nau; 2-20.
Seco transversal; seco mestra; 2-21. Centro de gravidade de um navio
(CG); 2-22. Centro de carena, de empuxo, ou de volume (CC); 2-23.
Centro de flutuagao (CF); 2-24. Empuxo; 2-25. Principio de Arquime-
des; 2-26. Flutuabilidade; 2-27. Reserva de flutuabilidade; 2-28. Borda
livre (BL); 2-29. Metacentro transversal (M); 2-30. Metacentro longitu-
dinal (M’); 2-31. Raio metacéntrico transversal; 2-32. Raio metacéntrico
longitudinal; 2-33. Altura metacéntrica; 2-34. Tosamento, ou tosado;
2-35. Alquebramento; 2-36. Altura do fundo ou pé de caverna; 2-37.
Adelgacamento; 2-38. Alargamento.
Sedo B — Desenho de linhas e plano de formas .......+++4- Pag, 63
2-39. Desenho de linhas; 2-40. Planos de referéncia: a. Plano da base
moldada; b. Plano diametral; c. Plano de meia-nau; 2-41. Linhas de refe-
réncia; a. Linha da base moldada, linha de construgao, ou linha base
(LB); b. Linha de Centro (LC); c. Perpendiculares; 2-42. Linhas do na-
vio; a. Linhas d’agua (LA); b. Linhas do alto; c. Linhas de balizas; 2-43.
Planos do desenho de linhas; 2-44. Tragado na sala do risco: a. Risco do
Navio; b. Tabelas de cotas riscadas; c. Linhas corretas de cotas riscadas;
2-45. Plano de formas: a. Cavernas moldadas; b. Tragado do plano de
formas.
Segdo C — DimensGes lineares... 06... 21 e eee e eee en eees Pag. 68
2-46. Generalidades; 2-47. Perpendiculares (PP); 2-48. Perpendicular a
vante (PP-AV); 2-49. Perpendicular a ré (PP-AR); 2-50. Comprimento
entre perpendiculares (CEP); 2-51. Comprimento de registro; 2-52.
Comprimento no convés; 2-53. Comprimento de arqueagao; 2-54, Com-
primento de roda a roda e comprimento total; 2-55. Comprimento ala-
gavel; 2-56. Boca; 2-57. Boca moldada; 2-58. Boca maxima; 2-59. Pon-
tal; 2-60. Calado; 2-61. Calado moldado; 2-62. Escala de calado; 2-63.
Coeficientes de forma, ou coeficientes de finura da carena: a. Coeficien-
te de bloco; b. Coeficiente prisméatico, coeficiente cilindrico, ou coefi-
ciente longitudinal; c. Coeficiente da seco a meia-nau; d. Coeficiente
da area de flutuagdo; 2-64. Relagdes entre as dimensées principais e ou-
tras relagdes; 2-65. Tabela dos coeficientes de forma da carena.
vit ARTE NAVAL
SeeGo D — Deslocamento e tonelagem. Pag. 77
2.66. Deslocamento (W); 2-67. Calculo do deslocamento; 2-68. Formu-
las representativas do deslocamento; a. Sistema métrico; b. Sistema in-
glés; 2-69. Deslocamento em plena carga, deslocamento Carregado, ou
deslocamento maximo; 2-70. Deslocamento normal; 2-71. Deslocamen-
to leve, ou deslocamento minimo; 2-72. Deslocamento padrao; 2-73.
Resumo das condig&es de deslocamento; 2-74. Expoente de carga, ou
Peso morto; 2-75. Porte ultil, peso morto liquido, ou carga paga; 2-76.
Tonelagem de arqueac&o ou tonelagem; 2-77. Diferenca entre desloca-
mento e tonelagem; 2-78. Tonelagem bruta; 2-79. Tonelagem liquida ou
tonelagem de registro; 2-80. Calculo da tonelagem: a. Volume princi-
pal; b. Volume entre conveses; c. Volume das superestruturas; 2-81. Sis-
tema Moorson: regras do canal do Panamé, do canal de Suez e do rio
Dantbio; 2-82. RelacZo entre o expoente de carga e a capacidade cubi-
ca; 2-83. Trim e banda; compassar e aprumar; 2-84. Lastro; Lastrar;
2-85. Curvas hidrostaticas; 2-86, Escala de deslocamento.
CAPITULO III
CLASSIFICACGAO DOS NAVIOS
Secao A — Classificagdo geral; navios de guerra...........+ Pag. 101
3-1. Classificagao geral: a. Quanto ao fim a que se destinam; b. Quanto
ao material de construcdo do casco; c. Quanto ao sistema de propulsdo;
3-2. Navios de guerra; 3-3. Encouracados (E): a. Funcdes; b. Caracteris-
ticas principais; c. Armamento; d. Protegdo; e. Histérico; 3-4. Porta-
-avides, ou Navio-aerédromo (NAe); a. Funcées; b. Caracteristicas prin-
cipais; c. Armamento; d. Prote¢do; e. Histérico; f. Tipos; 3-5. Cruzado-
res (C): a. FungGes; b. Tipos; c. Cruzadores pesados (CP); d. Cruzadores
ligeiros, ou cruzadores leves (CL); e Cruzadores de batalha (CB); f. Cru-
zadores antiaéreos; g. Cruzador nuclear; h. Histérico; 3-6. Contratorpe-
deiros (CT): a Fungées e caracteristicas; b. Armamento; c. Contratorpe-
deiro-lider (CTL); d. Contratorpedeiro de escolta (CTE); e. Torpedei-
ros; f. Histérico; 3-7. Fragatas (Fra): a. Fungées e caracteristicas; 3-8.
Submarinos ou submersiveis (S): a. Funcdes; b. Caracteristicas princi-
pais; c. Histérico; 3-9. Navios mineiros: a. Navios mineiros ou langa-mi-
nas (NM); b. Navios varredores, ou caca-minas (NMV); c. Caracteristi-
cas; 3-10. Corvetas (CV); 3-11. Canhoneiras (Cn) e Monitores (M) —
Navios de Patrulha Fluvial: a. Canhoneiras; b. Monitores; c. Navios de
patrulha fluvial; 3-12. Caca submarinos (CS); 3-13. Navios de patrulha;
3-14. Lanchas de combate (LC); 3-15. Embarcagdes de desembarque
(ED): a. Operagdes anfibias; b. Tipos de embarcacgdes de desembarque;
c. Caracteristicas principais; 3-16. Navio de Desembarque e Assalto
INDICE GERAL 1x
Anfibio (NDAA); 3-17. Navio de Desembarque de Comando (NDC);
3-18. Navio de Desembarque de carros de combate (NDCC); 3-19. Na
vio de Desembarque, Transporte e Doca (NDTD); 3-20. Navio Trans-
porte de tropa (NTr) e Navio Transporte de carga de assalto (NTrC);
3-21. Embarcacao de desembarque de viaturas motorizadas (ED-VM); 3-22.
Embarcagdes de desembarque de viaturas e pessoal (EDVP); 3-23. Em-
barcag%o de desembarque de utilidades (EDU); 3-24, Embarcacéo de
Desembarque Guincho Rebocador (EDGR); 3-25. Carro de combate
Anfibio (CCAnf); 3-26. Carro lagarta anfibio; 3-27. Embarca¢ao de de-
sembarque pneumiatica; 3-28. Aerobarco (Hovercraft).
Secdo B — Navios mercantes........0- 000 cee neces Pag. 135
3-29. Classificago dos navios mercantes: a. Quanto ao fim a que se des-
tinam; b. Quanto as 4guas em que navegam; c. Quanto-ao tipo de cons-
trugao; 3-30. Navios de escantilhdo completo, ou de estrutura normal;
3-31. Navios de convés ligeiro; 3-32. Navios de convés de toldo; 3-33.
Navios de 3 superestruturas; 3-34. Navios de convés de abrigo; 3-35. Na-
vios de pogo; 3-36. Navios de convés subido a ré; 3-37. Navios de convés
de toldo parcial; 3-38. Navios de tombadilho corrido; 3-39. Navio de
tronco; 3-40. Navio de torre; 3-41. Tipos usuais.
Seg3o C — Embarcac6es e navios, em geral ... 2. cece eee Pag. 147
3-42. Embarcacdes de recreio; 3-43. Navios e embarcacées de servicos
especiais; 3-44. Navios de madeira; 3-45. Navios de ferro; 3-46. Navios
de aco; 3-47. Navios compésitos; 3-48. Navios de cimento armado; 3-49.
Navios de vela ou veleiros; 3-50. Navios de propulséo mecAnica; 3-51.
Maquinas a vapor; 3-52. Maquinas alternativas; 3-53. Turbinas a vapor;
a. Redutores de engrenagem; b. Redutor hidraulico; c. Redutores de
corrente; d. Propulsdo turboelétrica; 3-54. Associagado de turbina e ma-
quina alternativa; 3-55. Motores Diesel: a. De propulsdo direta; b. De re-
dutores de engrenagens ou hidraulicos; c. Propulsdo Diesel-elétrica; 3-56.
Comparacao entre as maquinas propulsoras; 3-57. Turbinas a gds; 3-58.
Propulsdo nuclear: a. Fisséo, comparacao entre combustao e fissdo; b.
Combustiveis nucleares; c. Reator nuclear; d. Tipos de reator; e. A ins-
talacg&o nuclear de propulsdo maritima; f. Aplicacao aos navios de guer-
ra; g. Aplicagao a navios mercantes; 3-59. Embarcagdes sem propulsao.
CAPITULO IV
EMBARCACOES MIUDAS
Segdo A — Embarcagies .. 1.1.6... e cece cece ences Pag. 169
4-1, Embarcagdes mitidas dos navios; 4-2. Classificag&o das embarca-
Ges: a. Lanchas; b. Escaleres; c. Baleeiras; d. Canoas; e. Botes; f. Chala-
x ARTE NAVAL
nas; g. Jangadas; h. Balsas salva-vidas; i. Outras embarcagées; 4-3. Tipos
de construgao do casco: a. Costado liso; b. Costado em trincado; c. Cos-
tado em diagonal; 4-4. Nomenclatura: quilha, sobrequilha, sobre-sano
ou falsa quilha, cavernas, roda de proa, cadaste, coral, contra-roda, con-
tracadaste, painel de popa, alefriz, alcatrates, bugarda, dormente, bra-
cadeiras, bancadas, pés de carneiro, carlinga, coxias, castelo, tabuas do
resbordo, escoas, costado, falca, tabica, tabuas de boca, cocées, painéis,
chumaceiras, toleteiras, bueiros, verdugos, paineiro, travessdo, casta-
nhas, forquetas da palamenta, casa do cdo, garlindéu, tanques de ar,
armadoras, cunhos, arganéus, olhais, jazentes, monelha. 4-5. Dotagao:
palamenta, leme, cana do leme, meia-lua, governaduras, fiéis do leme,
remos, forquetas, toletes, croque, finca-pés, toldo, paus do toldo, sane-
fas, pau da flamula e pau da Bandeira, quartola (ou ancoreta), agulha,
boga, xadrez, almofada, panos do paineiro, capachos, farol de navega-
cdo, lanterna de paineiro, defensas, baldes, bartedouro (vertedouro),
capa, capuchana, salva-vidas, ancorote; 4-6. Balsas: a. Emprego; b. Par-
tes principais: flutuador, estrado, linha salva-vidas; c. Palamen’ |. Ma-
terial do flutuador; e. Arrumac&o a bordo; 4-7. Baleeiras salva-vidas: a.
Generalidades; b. Estrutura; c. Tanques de ar; d. Baleeiras de duplo-fun-
do; e. Propulsdo; f. Linhas salva-vidas; g. Dotagao; 4-8. Requisitos das
baleeiras de navios mercantes; 4-9. Nimero de embarcagées por navio,
@ lotacdo das embarcacées: a. Numero de embarcacdes por navio; b.
Lotacio das embaréagdes; 4-10. Amarretas e ancorotes: a. Amarretas;
b. Ancorotes; 4-11. Ancora flutuante ou drogue.
Segdo B — Arrumagao das embarcagées e turcos Pag. 192
4-12. Arrumaciio das embarcagées a bordo: a. Navios de guerra; b. Na
vios mercantes; 4-13. Turcos, lancas e guindastes; 4-14. Tipos de turcos:
a. Comum; b. De rebater; c. Quadrantal; d. Rolante; 4-15. Nomencla-
tura dos turcos comuns: cabega, curva, pé; 4-16. Aparelhos dos turcos
comuns: talhas, ou estralheiras, patarrases, andorinhos, ou retinidas de
guia, cabos de cabeco, pau de contrabalango, fundas, estropos; 4-17.
Aparelhos de escape; 4-18. Balsas inflaveis.
CAPITULO V
CONSTRUGAO DOS NAVIOS
Segdo A — Pecas de Construgao. .. Pag. 201
5-1. Pecas estruturais e pegas nao estruturais; 5-2. Chapas: a. Definic&o;
b. Bainha e topo; c. Galvanizagao; 5-3. Classificagao das chapas: a. Cha-
pas ordindrias; b. Chapas finas e folhas; c. Chapas de couraca; d. Chapas
corrugadas; e. Chapas estriadas, ou chapas-xadrez; 5-4. Designagao e di-
mensdes das chapas: a. Designa¢ao; b. Dimensées; 5-5. Perfis: a. Perfis
INDICE GERAL xl
laminados; b. Secdes preparadas; 5-6. Barras e vergalhdes; 5-7. Tubos de
ferro e aco: a. Fabricagao; b. Tipos; 5-8, Outros produtos de ago: a.
Chapas-suportes; b. Arames e fios; 5-9. Calibres; 5-10. Trabalhos feitos
em chapas nas oficinas: a. Desempenar; b. Marcar; c. Cortar; d. Furar; e.
Aplainar e chanfrar arestas; f. Escarvar; g. Virar; h. Dupla curvatura; i.
Dobrar ou flangear e rebaixar; j. Aplainar a face; 5-11. Trabalhos feitos
em perfis nas oficinas; 5-12. Maquinas portateis; 5-13. Outras operacdes
com as pecas metilicas: a. Forjagem; b. Fundigdo; 5-14, Maquinas-fer-
ramentas; 5-15. Provas dos metais: a. Provas mecdnicas; b. Provas qui-
micas; c. Provas metalograficas; d. Provas radiograficas.
Segdo B — Ligacdo das pecas de construca0..........++++ Pag. 212
5-16. Tipos de juntas: a. Juntas permanentes; b. Juntas nao permanen-
tes; c. Juntas provisérias; 5-17. Cravacao, rebites e prisioneiros: a. Defi-
nigdes; b. Nomenclatura dos rebites; c. Forma dos prisioneiros; d. Ma-
terial dos rebites; e. Efici€ncia das Juntas cravadas; 5-18. Tipos de Jun-
tas cravadas; 5-19. Tipos de rebites: a. Cabeca; b. Ponta; 5-20. Estan-
queidade das juntas; 5-21. Calafeto; 5-22. Juntas plasticas; 5-23. Proces-
sos de soldagem: a. Solda plastica, ou solda por press&o; b. Solda por fu-
so; 5-24. Soldagem versus cravacdo: a. Generalidades; b. Vantagens da
soldagem; c. Desvantagem da soldagem; 5-25. Roscas de parafusos: a.
Classificagéo e emprego; b. Caracteristicas; c. Ajustagem; d. Diregao; e.
Tipos de roscas para ligacdo; f. Tipos de roscas para transmisséo de mo-
vimento; 5-26. Parafusos, porcas e arruelas: a. Tipos de parafusos; b.
Nomenclatura de parafusos; c. Porcas; d. Arruelas.
Segdo C — Projeto e construgdo. ... 1.6 neces Pag. 224
5-27. Anteprojeto: a. Navios de guerra; b. Navios mercantes; 5-28. Qua-
lidades técnicas de um navio: a. Qualidades essenciais; b. Qualidades
nauticas; 5-29. Qualidades militares de um navio de guerra: a. Capacida-
de ofensiva; b. Capacidade defensiva; c, Raio de agdo; d. Autonomia; e.
Velocidade; f. Tempo de reagao; 5-30. Projeto; 5-31. Sala do Risco;
5-32. Oficinas; 5-33. Carreira de construcdo; 5-34. Acabamento; 5-35.
Classificagdo dos desenhos quanto ao fim: a, Desenhos de arranjo geral;
b. Desenhos de arranjo; c. Desenhos de trabalho; d. Desenhos esquemé-
ticos; e. Desenhos de Diagramas de Forga; f. Desenhos de curvas; g. De-
senhos de Listas; 5-36. Desenhos fornecidos aos navios: a. Desenhos de-
finitivos; b. Outros desenhos; 5-37. Ultimos progressos na constru¢ao
naval.
Secdo D — Esforcos a que est&o sujeitos os navios.......... Pag. 231
5-38. Resisténcia do casco; 5-39. O navio é uma viga; 5-40. Classificagao
dos esforcos; 5-41. Esforcos longitudinais: a. esfor¢os longitudinais de-
vidos as ondas do mar; b. esforgos longitudinais devidos a distribui¢gao
desigual do peso; c. O navio esta parcialmente preso por encalhe; 5-42.
Esforcos transversais: a. esforc¢os transversais devidos as vagas do mar;
xu ARTE NAVAL
b. esforgos transversais por efeito dos pesos do navio; 5-43. Esfor¢os de
vibragdo; 5-44, Esforgos devidos 4 propulsdo; 5-45. Esforgos locais.
CAPITULO VI
ESTRUTURA DO CASCO DOS NAVIOS METALICOS
Segao A — Sistemas de construcd0 ........062 02 c cece Pag. 241
6-1. Generalidades; 6-2. Sistema transversal; 6-3. Sistema longitudinal:
a. Sistema original Isherwood; d. Sistema Isherwood modificado; c, Sis-
tema Isherwood modificado, sem borboletas; 6-4. Sistemas mistos; 6-5.
Estrutura dos navios de guerra : a. Encouracados e cruzadores pesados;
b. Cruzadores ligeiros; c. Contratorpedeiros; d. Submarinos.
Segdo B — Pecas estruturais....... 0... c cece eee eee ee Pag. 245
6-6. Quilha: a. Quilha maciga; b. Quilha-sobrequilha; c. Quilha-chata;
6-7. Sobrequilha; 6-8. Longarinas, ou longitudinais: a. FungGes; b. Espa-
gamento; c. Numeracdo; d. Seco; e. Continuidade; f. Direcao; g. Estan-
queidade e acesso; 6-9. Sicordas; 6-10. Trincanizes: a. FungGes; b. Can-
toneiras do trincaniz; c. Estrutura do trincaniz; d. Ligagao estanque do
trincaniz com o chapeamento exterior; 6-11. Cavernas: a. Fungdes além
de dar forma ao casco; b. Estrutura; c. Hastilhas; d. Espagamento; e.
Numeragao; f. Direg3o e forma; 6-12. Gigantes; 6-13. Vaus: a. Fungdes;
b, Segdo; c, Ligagdo; d. Abaulamento; e. Vaus refor¢ados; 6-14. Pés de
carneiro: a. Funcdes; b. Disposi¢o; c. Apoio; d. Direg&o; e. Secao; f. Li-
gacdes; 6-15. Proa; arranjo e construco: a. Generalidades; b. Forma;
c. Estrutura; 6-16. Popa; arranjo e construcao: a. Generalidades; b. For-
ma; c. Tipo; d. Tipo e suporte do leme; e. NUmero de propulsores; f. Su-
porte dos propulsores; g. Popa de cruzador; h. Estrutura; 6-17. Chapea-
mento exterior do casco: a. Fungées; b. Material; c. Nomenctatura; d.
Arranjo das fiadas; e. Dimensdes das chapas; f. Distribuig¢do de topos;
g. Disposi¢ao do chapeamento AV e AR; h. Simetria do chapeamento;
i. Chapas de reforco; j. Consideragdes gerais; 6-18. Chapeamento dos
conveses: a. Funcdes; b. Estrutura; c. Espessura das chapas; d. Numera-
¢4o das chapas; e. Cargas e esforcos; f. Consideragdes gerais; 6-19. Ante-
paras: a. Fungdes; b. Classificagao; c. Estrutura; d. Prumos e travessas;
e. Disposic¢Zo e ndmero das anteparas estanques; f. Anteparas longitudi-
nais estanques; 6-20. Duplo-fundo:' a. Fungées; b. Ferro interior do fun-
do, ou teto do duplo-fundo; c. Estrutura; d. Extensao dos duplos-fun-
dos; 6-21. Superestruturas: a. Esforcos a que estdo sujeitas; b. Constru-
go; c. Descontinuidade da estrutura.
Segao C — Pegas nao-estruturais e acessbrios
OCMNS Pag. 287
6-22. Bolinas; a. Fungdes; b. Estrutura; 6-23. Quilhas de docagem; 6-24.
INDICE GERAL xin
Borda-falsa, balaustrada e toldos: a. Borda-falsa; b. Balaustrada; c. Re-
des e cabos de vaivém; d. Escoamento de Aguas; e. Toldos; 6-25. Reves-
timento dos conveses com madeira: a. Qualidade da madeira e generali-
dades; b. Arranjo; c. Calafeto; 6-26. Lindleo e outros revestimentos;
6-27. Jazentes em geral: a. Fungdes; b. Arranjo; 6-28. Jazentes de
caldeiras e méquinas: a. Jazentes de caldeiras; b. Jazentes das mé-
quinas propulsoras e engrenagens redutoras; c. Jazentes das méqui-
nas auxiliares; 6-29. Reparos e Jazentes de canhdes: a. Reparos, ca-
nhdes em torre, em barbeta e em pedestal; b. Jazentes dos canhdes;
c. Tipos de jazentes; 6-30. Eixos propulsores e mancais; 6-31. Tu-
bo telescopico do eixo; 6-32. Pés de galinha; 6-33. Hélices: a. Defini-
des; b. Nocdes gerais; c. Construgao; d. Tubo Kort; e. Hélice cicloidal;
. Hélice de passo controlado; 6-34. Lemes: a. Nomenclatura; b. Tipos;
c. Comparacao entre os lemes compensados e ndo-compensados; d. Es-
trutura; e. Area do leme; f. Limitag’o de tamanho; g. Montagem e des-
montagem; h. Suporte; i. Tubulao; j. Batentes; |. Protetores de zinco;
6-35. Portas estanques: a. Generalidades; b. Tipos; c. Estrutura; d. Luzes
indicadoras; 6-36. Escotilhas: a. Tipos; b. Nomenclatura; c. Estrutura;
6-37. Portas de visita; 6-38. Vigias; 6-39. Passagens em chapeamentos
estanques: a. Generalidades; b. Pecas estruturais; c. Acessos; d. Canaliza-
ges; e. Cabos elétricos; f. VentilagGes; g. Suportes; 6-40. Estabilizadores.
CAPITULO VII
CABOS
Segdo A — Cabosde fibra........-.--++-++ teeeeeees PAg. 331
7-1. Classificagao dos cabos: a. Cabos de fibra; b. Cabos de arame; c.
Cabos especiais; 7-2. Matéria-prima dos cabos de fibra: a. Manilha; b.
Sisal; c. Linho Canhamo;d. Linho cultivado; e. Linho da Nova Zelan-
dia; f. Coco; g. Juta; h. Pita; i. Piagava; j. Algodao; 7-3. Nomenclatui
7-4, Manufatura: a. Curtimento; b. Trituragdo; c. Tasquinha; 7-5. Ef
tos mecanicos da torc4o; 7-6. Elasticidade dos cabos de fibra; 7-7. Efei-
tos da umidade; protecéo contra a umidade; 7-8. Comparacao entre os
cabos de trés e os de quatro cordées; 7-9, Comparacao entre os cabos
calabroteados e os cabos de massa; 7-10. Fibras nacionais; industria de
cabos no Brasil; 7-11. Estopa; 7-12. Medida dos cabos de fibra; 7-13.
Cabos finos: a. Linha alcatroada; b. Mialhar; c. Merlim; d. Fio de vela; e.
Fio de palomba; f. Sondareza; g. Filaga; h. Linha de algodao; i. Fio de
algodao; j. Fio de linho cru; |. Arrebém; 7-14. Como desfazer uma adu-
cha de cabo novo; 7-15. Como desbolinar um cabo de fibra; 7-16. Como
colher um cabo: a. Colher um cabo a manobra; b. Colher um cabo a in-
glesa; c. Colher em cobros; 7-17. Uso e conservacdo dos cabos de fibra;
xiv ARTE NAVAL
7-18. Carga de ruptura: a. Férmula geral; b. Para os cabos de massa, de
linho canhamo branco, trés cordées; c. Para os cabos de massa, de linho
canhamo alcatroado, trés corddes; d. Para os cabos de manilha, trés cor-
dées; e. Para uso imediato, em cabos de manilha, quando nao se conhe-
ce o valor de K, aplica-se a formula; 7-19. Carga de trabalho; a. Sob as
melhores condic¢des; b. Sob as condicdes normais de servico; c. Sob con-
digdes mais desfavoraveis; e. Se o cabo é sujeito a lupadas; 7-20. Peso
dos cabos; 7-21. Rigidez dos cabos; 7-22. Comparagio dos cabos: a. Ca-
bos diferentes apenas nas bitolas; b. Cabos diferentes apenas no tipo de
confecc&o; 7-23. Problemas.
Segdo B — Cabos de arame .. 1... cece eee Pag. 355
7-24. Definigdes; 7-25. Matéria-prima; 7-26. Manufatura; 7-27. Cocha
dos cabos de arame; 7-28, Galvanizagao; 7-29. Medico dos cabos de
arame; 7-30. Lubrificagao; 7-31. Como desbolinar um cabo de arame;
7-32. Carga de ruptura e carga de trabalho; 7-33. Cuidados com os ca-
bos fixos; 7-34. Uso e conservacao dos cabos de laborar e espias de ara-
me; 7-35. Vantagens dos cabos de arame; 7-36. Didmetro das roldanas e
velocidade de movimento; 7-37. Didmetro do goivado das roldanas;
7-38. Desgaste dos cabos de arame; 7-39. Angulo dos cabos de laborar;
7-40. Tipos de cabos de arame; 7-41. Tabelas; 7-42. Termos nauticos,
referentes aos cabos e sua manobra: agiientar sob volta; alar, alar de le-
va-arriba, alar de lupada, alar de mao em mao, aliviar um cabo, um apa-
relho; amarrar a ficar, amarrilhos, arriar um cabo, arriar um cabo sob
volta, beijar, boca, brandear, cogado, colher o brando,colher um cabo,
coseduras, dar salto, desabitar a amarra, desabocar, desbolinar um cabo,
desencapelar, desgurnir, desengasgar, dobrar a amarracdo, encapelar, en-
capeladuras, engasgar, enrascar, espia, fiéis, furar uma volta, um nd; gur-
nir; largar por m&o, um cabo; michelos; morder um cabo, uma talha; re-
correr, rondar, safar cabos; socairo, solecar, tesar, tocar uma talha, um
aparelho; virador.
Segdo C — Cabos especiais. :
7-43. Cabos de couro; 7-44. Cabos de fibras sintéticas;
dos cabos de fibra sintética: a. Ndilon; b. Polipropileno; c. Polietileno;
7-46, Métodos de construg3o dos cabos de fibra sintética: a. Cabo torcido
de trés corddes; b. Cabo trangado de oito cordées; 7-47. Tabelas.
CAPITULO VIII
TRABALHOS DO MARINHEIRO
Segao A — Voltas Pag. 391
8-1. Definigdes; 8-2. Resisténcia dos nés, voltas e costuras; 8.3. Voltas;
8-4, Meia-volta; 8-5. Volta de fiador; 8-6. Cote; 8-7. Volta de fiel singe-
INDICE GERAL xv
la; 8-8. Volta de fiel dobrada; 8-9. Volta singela e cotes — Volta redon-
da e cotes; 8-10. Volta da ribeira; 8-11. Volta da ribeira e cotes; 8-12.
Volta singela mordida, em gatos; 8-13. Volta redonda mordida, em
gatos; 8-14. Boca de lobo singela; 8-15. Boca de lobo dobrada; 8-16.
Volta de fateixa; 8-17. Volta de tortor; 8-18. Volta redonda mordida e
cote; 8-19. Volta de encapeladura singela; 8-20. Volta de encapeladura
dobrada; 8-21. Voltas trincafiadas; 8-22. Volta falida; 8-23. Corrente.
SegGo B — Nés dados com a chicote ou com o
seio de um cabo sobre si M@SMO .. 6.6 ee eee eee Pag. 399
8-24. Lais de guia; 8-25. Balso singelo; 8-26. Balso de calafate; 8-27.
Balso dobrado; 8-28. Balso pelo seio; 8-29. Balso de correr, ou lago;
8-30. Catau; 8-31. N6 de azelha; 8-32. N6 de pescador; 8-33. Né de mo-
ringa.
Secdo C — Nés dados para emendar dois cabos pelos
chicotes . . Pag. 405
8-34. Né direito; 8-35. Né tor gelo; 8-37. No de
escota dobrado; 8-38. Abogaduras; 8-39. NO de c correr; 8 40. N6 de fio
de carreta.
Sec&o D — Trabalhos feitos nos chicotes dos cabos......... Pag. 409
8-41. Falcaga; 8-42. Pinhas; 8-43. Pinha singela; 8-44. Pinha singela de
corddes dobrados; 8-45. N6é de porco; 8-46. Né de porco, de cordées
dobrados; 8-47. Falcaca francesa; 8-48. Pinha dobrada; 8-49. Pinha de
colhedor singela; 8-50, Pinha de colhedor dobrada; 8-51. Pinha de boca;
8-52. Pinha de rosa singela; 8-53, Pinha de rosa dobrada.
Secdo E — Trabalhos para amarrar dois cabos ou
ols Objetos QualsqUeh a ee ee Pag. 418
8-54. Botdes; 8-55. Bot&o redondo; 8-56. Bot&o redondo esganado;
8-57. Bot&o redondo coberto e esganado; 8-58. Botio falido; 8-59. Por-
tuguesa; 8-60. Bot&o cruzado; 8-61.a. Bot&o em cruz; b. Alga de botao
redondo; 8-62. Badernas; 8-63. Barbela; 8-64, Peito de morte; 8-65.
Arreatadura; 8-66. Cosedura.
Segao F — Trabathos diversos . Pag. 421
8-67. Engaiar, percintar, forrar um cabo: a. Engaiai b. Percintar; c.
Forrar; 8-68. Costuras em cabos de fibra: a. Defini¢do e tipos; b. Vanta-
gens das costuras; c, Ferramenta necessdria; 8-69. Modo de fazer uma
costura redonda; 8-70. Modo de fazer uma costura de mao; 8-71. Modo
de fazer uma costura de laborar; 8-72. Garrunchos: a. Definigao; b. Mo-
do de construcdo; 8.73. Costura de boca de lobo; 8-74. Auste; 8-75. Al-
¢a trincafiada; 8-76. Alca para corrente; 8-77. Unho singelo; 8-78. Em-
botijo; 8-79, Embotijo de canal, de dois cordées; 8-80. Embotijo de
canal, de trés ou mais cordées; 8-81. Embotijo de canal, de corddes du-
plos; 8-82. Embotijo em leque; 8-83. Embotijo de canal, de trés cord6es
em cada lado; 8-84. Embotijo de cotes, para dentro; 8-85. Embotijo de
XVI ARTE NAVAL
cotes para fora; 8-86. Embotijo de defensa; 8-87. Embotijo de nés de
porco; 8-88. Embotijo de cotes, em um cordao; 8-89. Embotijo de
meias voltas; 8-90, Embotijo de rabo de cavalo; 8-91. Embotijo de rabo
de raposa, ou embotijo de agulha; 8-92. Embotijo de quatro cordées, em
cotes alternados; 8-93. Gaxeta; 8-94. Gaxeta simples, de trés corddes;
8-95. Gaxeta simples, gaxeta plana, ou gaxeta inglesa , de mais de trés
cordées: a. Numero impar de cordées; b. Numero par de cordées; 8-96. Ga-
xeta de rabo de cavalo, ou gaxeta redonda de quatro cordées; 8-97.
Gaxeta portuguesa, de cinco cordées; 8-98. Gaxeta quadrada, ou de
quatro faces; 8-99. Gaxeta coberta, de nove cordées; 8-100. Gaxeta
trancesa de sete cordées; 8-101. Gaxeta simples, de trés cordées dobra-
dos; 8-102. Gaxeta de meia-cana, de oito corddes; 8-103. Pinha de
anel; 8-104. Pinha de anel de trés corddes; 8-105. Pinha de anel de qua-
106. Pinha de anel fixa a um cabo; 8-107. Coxins; 8-108.
Coxim francés; 8-109. Coxim espanhol; 8-110. Coxim russo; 8-111. Co-
xim de tear; 8-112. Rabicho; 8-113. Rabicho de rabo de raposa; 8-114.
Rabicho de rabo de cavalo; 8-115. Defensas: a. Geral; b. Saco interno;
c. Embotijo; d. Tipos; 8-116. Pranchas: a. Para mastreagao e aparelho;
b. Para o costado; 8-117. Escadas de quebra-peito; 8-118. Langa impro-
visada: a. Descri¢o e emprego; b. Equipamento necessario; c. Modo de
aparelhar a lanca; d. Cuidados durante a manobra; 8-119. Cabrilha: a.
Descrigao e emprego; b. Equipamento necessario; c. Modo de aparethar
a cabrilha; d. Cuidados durante a manobra; 8-120. Cabrilha em tripé;
8-121. Amarrar uma verga a um mastro, ou duas vigas que se cruzam;
8-122, Regular a tenséo de um cabo sem macaco; 8-123. Dar volta a
uma espia num cabeco; 8-124. Dar volta 4 boga de uma embarcacao
num cabego ou objeto semelhante; 8-125. Dar volta a uma espia em
dois cabecos; 8-126. Abocar um cabo; 8-127. Dar volta a um cabo num
cunho; 8-128. Dar volta a um cabo numa malagueta; 8-129. Dar voltaa
um cabo pendurando a aducha dele; 8-130. Gurnir um cabo num ca-
brestante; 8-131. Badernas; 8-132. Amarracao dos enfrechates; 8-133.
Redes; 8-134. Dar volta aos fiéis de toldo; 8-135. Amarragao de alcas a
mastros, vergas, etc.; 8-136. Fixar um cunho de madeira, ou qualquer
outra peca, a um estai; 8-137. Tesar bem as peias; 8-138. Lonas: a. De-
finigdes; b. Aplicagdo; 8-139. Pontos de coser: a. Ponto de costura ou
ponto de bainha; b. Ponto de bigorrilha; c. Ponto de livro; d. Ponto de
peneira; e. Ponto esganado; f. Ponto cruzado; g. Ponto de cadei:
Ponto de sapateiro; i. Ponto de palomba; j. Ponto de espinha de peixe;
|. Espelho; 8-140. Utensflios do marinheiro: espicha, passador, vazador,
macete de bater, macete de forrar, palheta de forrar, faca, gatos, agulha,
repuxo, remanchador, torqués.
Segao G — Estropos..........-
8-141. Definicao, emprego, tip
Pag. 474
. Definigaéo e emprego; ‘b. Tipos;
INDICE GERAL Xvi
8-142. Estropo de cabo de fibra; 8-143, Estropo de cabo de arame;
8-144. Estropos de corrente; 8-145. Estropo de rede e rede de salva-
mento; 8-146. Estropo de anel; a. De cabo de fibra; b. De cabo de ara-
me; 8-147. Estropo trincafiado; 8-148. Resisténcia dos estropos; 8-149.
Angulo dos estropos; 8-150. Modos de passar um estropo num cabo ou
num mastro; 8-151. Cortar um estropo; 8-152. Estropos para tonéis.
CAPITULO IX
POLEAME, APARELHOS DE LABORAR E ACESSORIOS
Segdo A — Poleame Pag. 489
9-1. Definicgdes; 9-2. Tipos de poleame surdo: a. Bigota; b. Sapata; c. Ca-
goilo; 9-3. Tipos de poleame de laborar: a. Moit&o; b. Cadernal; c. Pates-
ca; d. Polé; e. Catarina; f. Conexdo do poleame de laborar; 9-4. Nomen-
clatura de um moitdo ou cadernal de madeira; 9-5. Tipos de roldana: a.
Roldana comum; b. Roldana de bucha com redutor de atrito; c. Rolda-
nas de bucha auto-lubrificadas; 9-6. Poleame alceado; 9-7. Poleame fer-
rado; 9-8. Resisténcia e dimensdes do estropo: a. Estropo singelo, de
cabo de fibra; b. Estropo dobrado, de cabo de fibra; c. Estropo de cabo
de arame; 9-9. Resisténcia de ferragem do poleame; 9-10. Poleame de
ferro; 9-11. Dimensdes do poleame; 9-12. Escolha do poleame.
Segdo B — Aparelho de laborar... . Pag. 497
9-13. Definigdes; 9-14. Tipos de aparelhos de laborar: a. Teque; b. Talha
singela; c. Talha dobrada; d. Estralheira singela; e. Estralheira dobrada;
9-15. Teoria: a. Um s6 moitdo fixo (retorno); b. Um s6 moit&o mével;
c. Um moit&o mével e um moitao fixo — Teque; d. Talhas: singela e do-
brada; e. Aparelho de laborar com qualquer numero de gornes; 9-16.
Rendimento; 9-17. Distribuigéo de esforcos num aparelho de laborar;
9-18.Carga de trabalho dos aparelhos de laborar; 9-19. Aparelhos de la-
borar conjugados; 9-20. Modo de aparelhar uma estralheira dobrada;
9-21. Regras praticas; 9-22. Problemas; 9-23. Talhas mecanicas, ou ta-
Ihas patentes: a. Fun¢o; b. Vantagens;.c. Desvantagens; d. Aplicacao; e.
Tipos; f. Classificagdo; 9-24. Talha diferencial; 9-25. Talha de parafuso
sem fim; 9-26. Talha de engrenagens; 9-27. Comparacao entre as talhas
patentes.
Segdo C — Acessérios do aparelho do navio.
9-28. Tipos; 9-29. Sapatilhos; 9-30. Gatos; 9-31. Manilhas: a. Cavirio de
rosca; b. Caviréo com chaveta ou de contrapino; c. Cavirdéo com tufo;
9-32. Macacos; 9-33. Acess6rios especiais para cabos de arame; 9-34.
Terminais; 9-35. Grampos; 9-36. Prensas.
xvili ARTE NAVAL
CAPITULO X
APARELHO DE FUNDEAR E SUSPENDER
Secao A= Anicoles ee Pag 533
10-1. Descri¢éo suméria do aparelho de fundear e suspender; 10-2. No-
menclatura das ancoras: Haste, bracos, cruz, patas, unhas, orelhas, noz,
anete, cepo, palma, Angulo de presa, olhal de equilibrio; 10-3. Tipos de
Ancoras: a. ancoras Almirantado; b. dncoras patentes, ou 4ncoras sem
cepo; c. 4ncoras Danforth; d. 4ncoras especiais e poitas; 10-4. Requisi-
tos das ancoras; 10-5, Estudo sobre a ac&o das ancoras no fundo do
mar: a. Ancora Almirantado; b. Ancoras sem cepo; 10-6. Classificac3o
das ancoras a bordo: a. Ancoras de leva; b. Ancora de roca; c. Ancora da
-toda; d. Ancora de popa; e. Ancorotes; 10-7. Numero de ancoras a bor-
do; 10-8. Peso das ancoras; 10-9. Material, provas e marcacao das anco-
ras: a. Material; b. Provas; c. Marcagao; 10-10, Arrumagdo das ancoras a
bordo: a. Ancoras sem cepo; b. Ancoras tipo Almirantado.
Segdo B — Amarras e seus acesS6ri0S. 6... cree cece eee Pag.
10-11, Definigdes: a. Amarra; b. Malhete; c. Quartéis de amarra; d. Ma-
nilhas; e. Elos patentes; f. Tornel; 10-12. Manilhas; elos patentes: a. Ma-
nilha da ancora, ou manilhao; b. Manilha dos quartéis da amarra; c. Elos
patentes; 10-13. Como sao constitufdas as amarras: a. Quartel do tornel;
b. Quartel longo; c. Quartéis comuns; 10-14. Dimensdes: a. Comprimen-
to total da amarra; b. Bitola; c. Comprimento dos elos; d. Escolha da bi-
tola; e. Passo; 10-15. Pintura e marcas para identificagao dos quartéis;
10-16. Material e métodos de confecg3o das amarras: a. Ferro forjado;
b. Aco forjado; c. Ago fundido; d. Ago estampado; e. Padronizagao;
10-17. Provas das amarras: a. Prova de resisténcia a tra¢o; b. Prova de
ruptura; 10-18. Inspecdes, cuidados e reparos: a. Inspecdes e conserva-
go; b. Reparos; 10-19. Marcas do fabricante; 10-20. Problemas; 10-21.
Bogas da amarra: a. Fungdes; b. Bocas de corrente; c. Bogas de cabo;
10-22. Mordente; 10-23. Buzina; 10-24. Mordente de alavanca; 10-25.
Abita; 10-26. Escovém: a. Partes do escovém; b. Tipos; c. Posicao; d.
Bucha do escovém; e. Detalhes de construgao; 10-27. Paiol da amarra: a.
Descrigio; b. Fixaco da amarra; c. Dimensdes do paiol da amarra; d.
Arrumag&o da amarra; 10-28, Boia de arinque: a. Definicao;,b. Fama-
nho da béia; c. Comprimento do arinque; d. Amarracdo do arinque; e.
Manobra.
Segdo C — Maquinas de suspender......+++-+++-+0+ee see Pag. 564
10-29. Descrigao sumaria; 10-30. Nomenclatura: a. Maquina a vapor ou
motor elétrico; b. Coroa de Barbotin, ou coroa; c. Eixos e transmissdes;
d. Freio; e. Saia; f. Embreagem; g. Equipamento de manobra manual;
10-31. Cabrestantes e molinetes: a. Diferenca entre cabrestante, moline-
te e maquina de suspender; b. FungGes; c. Tipos; 10-32. Requisitos
INDICE GERAL XIX
das m&quinas de suspender; 10-33. Instrugdes para condugdo e conser-
vaco das maquinas de suspender: a. Com a maquina parada; b. Antes
de dar partida; 10-34. Cuidados com o aparelho de suspender; 10-35.
Vozes de manobra: a. Vozes de comando; b. Vozes de execugao; c. Vo-
zes de informacao; 10-36. Manobras para largar o ferro: a. Pelo freio
mecanico; b. Por uma das bogas da amarra; 10-37. Manobras para sus-
pender o ferro.
CAPITULO XI
APARELHO DE GOVERNO, MASTREACAO E
APARELHOS DE CARGA
Secdo A — Aparelho de govern0 ..... 06. c cece Pag. 579
11-1. Generalidades; 11-2. Roda do leme; 11-3. Leme & mo; 11-4. Ma-
quina do leme, ou servo-motor: a. Generalidades; b. Servo-motor a va-
por; c. Servo-motor hidrelétrico; d. Mecanismo compensador; e. Servo-
-motor elétrico; 11-5. Transmissdo entre a roda do leme e o servo-motor:
a. Transmissdo mecanica; b. Transmissdo hidréulica; c. Transmissao elé-
trica; 11-6. Telemotor; 11-7. Transmissdo entre o servo-motor e 0 leme:
a. Transmissdo direta; b. Transmiss3o quadrantal; c. Transmissdo de
tambor; d. Transmisséo por parafuso sem fim; 11-8. Vozes de manobra
para o timoneiro; 11-9. Uso do aparelho de governo.
Segdo B= Mesteato ee oe Pag. 588
11-10. Mastreagdo; 11-11. Mastros; a. Nomenclatura; b. Estrutura;
11.12. Aparelho fixo; 11-13. Para-raios; 11-14. Verga de sinais; 11-15.
Ninho de pega; 11-16, Carangueja.
Segdo C — Aparelhos de carga e descarga.......... 0.22 ee Pag. 595
11-17. Paus de carga, ou langas: a. Definigdo; b, Func&o; c. Nomencla-
tura; d. Aparelho de pau de carga; e. Especificagdes; 11-18. Amante:
amante singelo, amante de talha dobrada, ou de estralheira, amante com
aparelho; 11-19. Guardins; 11-20. Aparelho de icar.
CAPITULO XII
MANOBRA DO NAVIO
Seg&o A — Governo dos navios de um hélice.......-....4+ Pag. 601
12-1. Fatores de influéncia no governo dos navios; 12-2. Efeito do
leme; 12-3. Efeitos do propulsor; 12-4. Press&o lateral das pas; 12-5.
Corrente de esteira; 12-6. Aco conjunta do leme e do hélice; 12-7. Na-
vio e hélice em marcha a vante; 12-8. Navio e hélice em marcha a ré;
12-9. Navio com seguimento para vante e hélice dando atras; 12-10.
xx ARTE NAVAL
Navio com seguimento para ré e hélice dando adiante; 12-11. Manobra
de ‘‘mdquina atrés toda forga’’, estando
tancia percorrida até o navio parar; 12-13. Manobra em Aguas limita-
das.
Segdo B — Governo dos navios de dois ou mais
hélices e um ou dois lemes . Pag. 617
12-14, Efeito dos hélices no governo; 12-15. Navio e hélices em marcha
a vante; 12-16. Navio e hélices em marcha a ré; 12-17. Navio com segui-
mento para vante e hélices dando atrds; 12-18. Navio com seguimento
para ré e hélices dando adiante; 12-19. Um hélice dando adiante e outro
dando atras; 12-20. Manobra dos navios de dois lemes; 12-21. Navios de
trés e de quatro hélices; 12-22. Manobra dos navios de hélice de passo
controlavel.
Sec&o C — Atracar e desatracar Pag. 626
12-23. Notas sobre as espias; 12-24. Efeito das espias ao atracar e desa-
tracar: a. Navio parado e paralelo ao cais; b. Navio com algum segui-
mento, paralelo ao cais; 12-25. Influéncia do leme; 12-26. Atracar com
maré parada; 12-27. Atracar com corrente ou vento pela proa; 12-28.
Atracar com corrente ou vento pela popa; 12-29. Atracar com vento ou
corrente de través; 12-30. Atracar em espaco limitado; 12-31. Mudar o
bordo de atracag4o; 12-32. Largar de um cais; 12-33. Demandar um
dique, uma doca, ou um “pier”; 12-34. Notas sobre atracacdo e desatra-
cacao.
Segdo D — fundear, suspender, amarrar, rocegar...... Pag. 638
12-35. Definigdes; 12-36, Fundeadouro; 12-37. Filame; 12-38. Ferro
pronto a largar; 12-39. Manobra de fundear; 12-40. Navio fundeado;
12-41, Suspender; 12-42, Amarrar a dois ferros; 12-43. Anilho de amar-
racio; 12-44, Manobra de amarrar: a. Tipos de manobra; b. Colocagéo
do anilho; c, Determinagao das posigdes dos ferros; 12-45. Desamarrar:
a. Safar o anilho; b. Desamarrar; 12-46. Como evitar as voltas na amar-
rag3o; 12-47. Safar as voltas da amarrac&o; 12-48. Amarrar de popa e
proa; 12-49. Amarrar com regeira; 12-50. Amarragées fixas; 12-51. Ti-
pos de amarragées fixas; 12-52. Ancoras e poitas; 12-53. Dimensdes das
amarracoes fixas; 12-54. Fundear a amarracao fixa; 12-55. Amarrar a
uma béia: a. Demandar a béia; b. Amarrar abéia; 12-56. Largar da béia;
12-57. Rocegar.
Segdo E — Evolucées. . 5 Pag. 661
12-58. Curva de giro: a. Curva de giro; b. Avanco; c. Afastamento; d.
Didmetro tatico; e. Didmetro final; f. Abatimento; g. Angulo de deriva;
12-59. Consideracées praticas; 12-60. Efeitos do vento; 12-61. Efeitos
da corrente; 12-62. Uso do ferro para evoluir num canal; 12-63. Navega-
co em aguas rasas; 12-64. Dois navios que se cruzam num canal; 12-65.
INDICE GERAL Xx
Navio grande alcancando um navio pequeno; 12-66. Navegacao em ca-
nais e rios estreitos; 12-67. Faina de homem ao mar: a. Generalidades;
b. Manobra; c. Curva de Boutakow; d. Equipamentos Salva-Vidas;
12-68. Determinacao da curva de giro; 12-69. Milha medida; 12-70. Pro-
vas de velocidade e poténcia; 12-71. Prova de consumo; 12-72. Elemen-
tos caracter{sticos de manobra: a. Dados das curvas de giro; b. Tempo e
distancia percorrida até o navio parar; c. NUmero de rotagdes nas duas
méquinas de um navio para girar sobre a quilha, ou girar com algum se-
guimento para vante, ou girar com algum seguimento para ré, partindo
do navio parado; d. Determinar a manobra mais conveniente para evitar
um perigo pela proa; e. Numero minimo de rpm que pode dar a maqui-
na, funcionando ininterruptamente sem perigo de chegar a parar; f. Mi-
nima velocidade possivel ao navio, para conservar um grau de governo
suficiente, mesmo que seja necessdrio alternadamente parar a maquina
e dar adiante a pouca forga; Numero de rotacdes necessdrias para
ganhar ou perder determinada
Pag. 684
12-73, Generalidades; 12-74. Cabo de reboque; 12-75. Dimensdes do
cabo de reboque; 12-76. Amarragao do reboque na popa do rebocador;
12-77. Amarrag3o do reboque na proa do navio rebocado; 12:78. Ma-
quina de reboque; 12-79. Passar o reboque; 12-80. Navegagao a rebo-
que; 12-81. Sinais de reboque; 12-82. Reboque a contrabordo.
Segao G ~ Navegacao com mau tempo....
ondas oceanicas; 12-84. Efeitos do mar tempestuoso; 12-85, Balanco e
arfagem: a. Definigdes; b. Balancgo; c. Arfagem; 12-86. Capear; 12-87.
Correr com o tempo; 12-88. Uso do 6leo para acalmar o mar: a. Genera
lidades; b. Ago do dleo; c. Qualidades empregadas; d. Quantidades ne-
cessdrias; e. Distribuigdo do 6leo; 12-89. Ancora flutuante.
CAPITULO XIII
TRANSPORTE DE CARGA
Segdo A — Carga e Estiva... 0... ccc cc ccc cee eens Pag. 709
13-1. Fator de estiva; 13-2. Escoramento da carga; 13-3. Quebra de Es-
paco ou espaco morto; 13-4. Tonelada medida, ou tonelada de frete;
13-5. Navio cheio e embaixo; 13-6. Problemas; 13-7. Estabilidade e
compasso do navio; uso dos tanques da lastro; 13-8. Disposi¢ao e sepa-
rago da carga; 13-9. Plano de carregamento, ou plano de carga; 13-10.
Lista de carga; 13-11. Cdlculos de estabilidade e trim; 13-12, Eficiéncia
de transporte.
Segdo B — Das mercadorias.... 2.60 cece cee Pag. 732
| ARTE NAVAL
13-13. Sacos em geral; 13-14. Fardos; 13-15. Caixas; 13-16. Barris, bar-
ricas, pipas, tonéis e tambores; 13-17. Garrafdes e botijas; 13-18. Ampo-
las; 13-19. Carga a granel; 13-20. Carga em graos; 13-21. Carga de con-
vés; 13-22. Cargas perigosas; 13-23. Cargas liquidas; produtos de petré-
leo; 13-24. Ventilagdo; 13-25. Refrigeracao.
CAPITULO XIV
CONVENCOES, LEIS E REGULAMENTOS
Segdo A — Convencées e regras internacionais............++ Pag.
14-1. Sociedades de classificagao e registro de navios mercantes: a. Ob-
jetivos; b. Certificado de registro; Regras; d. Sociedades mais conheci-
das; e. Classes de navios; 14-2. Marcas da borda livre: a. Generalidades;
b. Regras da borda livre; c. Borda livre; d. Convés da borda livre; e. Li-
nha do Convés; f. Marca da Linha de Carga; g. Linhas a Serem Usadas
com a Marca de Linha de Carga; h. Marca da Autoridade Responsdvel; i.
Detalhes da Marcacao; j. Verificagao das marcas; |. Carregamento em
portos interiores; m. Carregamento em Agua doce; n. Certificado Inter-
nacional de Linhas de Carga; 0. Expedico de certificados; p. Aplicagao
da Convengo Internacional; q. Controle; r. Tipos de navios: Navios tipo
“A; Navios tipo “B'’; s. Mapa das zonas de borda livre; 14-3. Borda li-
vre dos petroleiros; 14-4. Convengao Internacional para a Salvaguarda
da Vida Humana no Mar; 14-5. Regulamento Internacional para Evitar
Abalroamentos no Mar; 14-6. Convencio Internacional sobre Linhas de
Carga; 14-7. Regras de York e Antuérpia; 14-8. Outras convencées pro-
mulgadas pelo Brasil; 14-9. Convengdes nao reconhecidas pelo Brasil.
Segdo B — Fretamento de navios.........0.0000ec eevee
14-10. Fretamento, e afretamento; 14-11. Carta-partida,
las e expressdes usadas nas cartas-partidas; 14-13. Estadia; 14-14. So-
brestadia (demurrage) e resgate de estadia (despatch money); 14-15.
Conhecimento de carga.
Se¢éo C — Acidentes Maritimos Pag. 772
14-16. Avarias; 14-17. Avarias grossas ou comuns; 14-18. Avarias sim-
ples ou particulares; 14-19. Abalroamento; 14-20. Arribada; 14-21. Dia-
rio de Navegac4o; 14-22. Protesto Maritimo; 14-23. Documentos e Li-
vros de Bordo; 14-24. Definigdes.
CAPITULO XV
EMBARCAGOES DE PLASTICOS REFORCADOS
COM FIBRAS DE VIDRO
Segdo A — A matéria-prima. 1.60.00 cece eee fee ce Pag. 779
INDICE GERAL XXII
15-1. Generalidades; 15-2. Fibras de vidro; 15-3. As resinas; 15-3-1. Resinas
poliésteres ndo saturadas; 15-3-2. Resinas etoxilinicas; 15-3-3. Resinas
fendlicas; 15-4. Produtos complementares; 15-4-1. As Cargas; 15-4-2.
Aditivos especiais; 15-4-3, Separadores.
Segdo B — Caracteristicas e fabricagao dos PRFV... Pag. 795
15-5, Caracteristicas dos PRFV; 15-5-1. Resisténcia direcional; 15-5-2.
Resisténcia ao choque; 15-5-3. Estabilidade dimensional; 15-5-4, Facili-
dade e Economia de Formacao; 15-5-5. Condig&des Térmicas; 15-5-6,
Resisténcia quimica; 15-5-7. Resisténcia 4 intempérie; 15-5-8, Calor e
transmisséo da luz; 15-5-9. Propriedades elétricas; 15-5-10. Conserva-
¢&o e Envelhecimento; 15-6. Métodos de fabricacao; 15-6-1. Fabricaco
4 mao por contato; 15-6-2. Fabricagdo com saco elastico; 15-6-3. Fabri-
cacdo com pistom flexivel; 15-6-4. Fabricagdo com molde duplo e inje-
¢40; 15-6-5. Fabricagdo com matrizes metdlicas acopladas; 15-6-6. Fa-
bricacdo por centrifugagdo; 15-6-7. Fabricac&o por enrolamento (WIN-
DING); 15-6-8. Fabricacées especiais.
Segdo C — Aplicagées Nduticas e Terminologia............ Pag. 821
15-7, Fabricagdes especiais; 15-7-1. Revestimentos — Forro dos cascos;
15-7-2. Estruturas do tipo “sandwich’’ combinadas; 15-7-3. Construgao
de Moldes em PRFV; 15-8. Projeto; 15-8-1. Maquinas e Reparos;
15-8-2. Ensaios; 15-8-3. Falhas de fabricagao; 15-9. Terminologia.
APENDICE
Tabelas
Notas diversas.
. Pag, 851
.. Pag. 885 -
CAPITULO |
NOMENCLATURA DO NAVIO
Secdo A — Do Navio, em geral
1-1. Embarcagiio e navio — Embarcaco 6 uma construcio feita
de madeira, ferro, ago, ou da combinacao desses e outros materiais, que
flutua e 6 destinada a transportar pela 4gua pessoas ou coisas.
Barco tem o mesmo significado, mas usa-se pouco. Navio, nau,
nave, designam, em geral, as embarcacées de grande porte; nau e nave, so
palavras antiquadas, hoje empregadas apenas no sentido figurado; vaso de
guerra e belonave significam navio de guerra, mas sdo também pouco
usados.
Em nossa Marinha, 0 termo embarcagdo é particularmente usado
para designar qualquer das embarcacdes pequenas transportaveis a bordo
dos navios, e também as empregadas pelos estabelecimentos navais, ou
particulares, para seus servicos no porto.
1-2. Casco — E 0 corpo do navio sem mastreacdo, ou aparelhos
acessorios, ou qualquer outro arranjo. O casco nao possui uma forma
geométrica definida, e a principal caracteristica de sua forma 6 ter um
plano de simetria (plano diametral) que se imagina passar pelo eixo da
quilha.
Da forma adequada do casco dependem as qualidades ndéuticas de
um navio: resisténcia minima a propulsdo, mobilidade e estabilidade de
plataforma (p4g. 225; art. 5-28 b).
1-3. Proa (Pr) (fig. 1-3) — E a extremidade anterior do navio no
sentido de sua marcha normal. Tem a forma exterior adequada para mais
facilmente fender o mar. Ver o art. 16.
1-4, Popa (Pp) (fig. 1-4) — E a extremidade posterior do navio.
Tem a forma exterior adequada para facilitar a passagem dos filetes I {qui-
dos que vao encher 0 vazio produzido pelo navio em seu movimento, a fim
de tornar mais eficiente a ag3o do leme e do hélice. Ver o art. 1-6.
1-5. Bordos — Sao as duas partes simétricas em que o casco é
dividido pelo plano diametral. Boreste (BE) é a parte 4 direita e bombordo
(BB) é a parte 4 esquerda, supondo-se 0 observador situado no plano dia-
metral e olhando para a proa. Em Portugal se diz estibordo, em vez de
boreste.
1-6. Meia-nau (MN) — Parte do casco compreendida entre a proa
@ a popa. As palavras proa, popa e meia-nau nao definem uma parte deter-
minada do casco, e sim uma regido cujo tamanho é indefinido. Em seu
significado original, o termo me/a-nau referia-se & parte do casco proxima
do plano diametral, isto 6, equidistante dos lados do navio. Ainda hoje se
diz assim em Portugal.
CASTELO
ARTE NAVAL
A DE COLTSAO
5 DA 2e,COBERTA
CHAPA QUILHA
yaus 00 CASTELO
ANTEPARA FRONTAL 00 CASTELO
VAUS 0A Ta. COBERTA
FORRO EXTERTOR
FORRO 00 EXTERIOR
FIG, 1-3 —Proa
NOMENCLATURA DO NAVIO. 3
1-7. Bico de proa — Parte extrema da proa de um navio.
1-8. Avante e a ré — Diz-se que qualquer coisa 6 de vante ou esté
avante (AV), quando esta na proa, e que é de ré ou esté aré (AR), quan-
do est4 na popa. Se um objeto est4 mais para a proa que outro, diz-se que
esta por ante-a-vante (AAV) dele; se est4 mais para a popa, diz-se por ante-
-a-ré (AAR).
1-9. Corpo de proa (em arquitetura naval) — Metade do navio
Por ante-avante da seco a meia-nau.
1-10. Corpo de popa (em arquitetura naval) — Metade do navio
Por ante-a-ré da seco a meia-nau.
1-11. Obras vivas (OV) e carena —- Parte do casco abaixo do plano
de flutuagao em plena carga (pag. 53; art. 2-2) isto é, a parte que fica total
ou quase totalmente imersa. Carena 6 um termo empregado muitas vezes
em lugar de obras vivas, mas significa com mais propriedade o invélucro
do casco nas obras vivas.
1-12, Obras mortas (OM) — Parte do casco que fica acima do
plano de flutuagao em plena carga e que esta sempre emersa.
1-13. Linha d’dgua (LA) — E uma faixa pintada com tinta especial
no casco dos navios, de proa a popa; sua aresta inferior é a linha de flutua-
do leve (pag. 53; art. 2-2). Normalmente s6 é usada nos navios de guerra.
Linha d’égua, em arquitetura naval, tem outra significagdo (pag. 65; art.
2-42 a).
1-14, Costado — Invélucro do casco acima da linha d’égua. Em
arquitetura naval, durante a constru¢Zo do navio, quando ainda nao est4
tragada a linha d’gua, costado é o revestimento do casco acima do bojo.
1-15. Bojo (fig. 1-15) — Parte da carena, formada pelo contorno
de transi¢do entre a sua parte quase horizontal, ou fundo do navio, e sua
parte quase vertical.
1-16. Fundo do navio — Parte inferior do casco, desde a quilha até
0 bojo; quando o fundo é chato, diz-se que o navio tem fundo de Prato,
como é 0 caso da fig. 1-15.
1-17, Forro exterior (fig. 1-3) — Revestimento exterior do casco
de um navio, no costado e na carena, constitu(do por chapas ou por
taébuas.
1-18. Forro interior do fundo (fig. 1-15) — Revestimento interior
do fundo do navio, constituindo 0 teto do duplo-fundo (art. 1-59).
1-19. Bochechas — (fig. 1-3) — Partes curvas do costado de ume
de outro bordo, junto a roda de proa.
1-20. Amura (fig. 1-3) — O mesmo que bochecha. Amura é tam-
bém uma diregao qualquer entre a proae o través,!
1-21. Borda (fig. 1-21) — E 0 limite superior do costado, que pode
terminar na altura do convés (se recebe balaustrada) ou elevar-se um
pouco mais, constituindo a borda-falsa.
* Través 6 a direcdo normal ao plano longitudinal do navio.
NOMENCLATURA DO NAVIO 5
1-22. Borda-falsa — Parapeito do navio no convés, de chapas mais
leves que as outras chapas do costado. Tem por fim proteger o pessoal e o
material que estiverem no convés, evitando que caiam ao mar. Na borda-
-falsahé sempre sa/das d’égua (pég. 28; art. 1-91) retangulares cujas porti-
nholas se abrem somente de dentro para fora a fim de permitir a safda das
grandes massas d’4gua que podem cair no convés em mar grosso.
1-23. Amurada (fig. 1-21) — Parte interna dos costados. Mais
comumente usada para indicar a parte interna da borda-falsa.
1-24, Alhetas (fig. 1-4) — Partes curvas do costado, de um e de
outro bordo junto 4 popa.
1-25. Painel de popa ou somente painel (fig. 1-4) — Parte do cos-
tado do navio na popa, entre as alhetas.
1-26. Grinalda (fig. 1-4) — Parte superior do painel de popa.
1-27. Almeida (fig. 1-4) — Parte curva do costado do navio, na
popa, logo abaixo do painel, e que forma com ele um Angulo obtuso ou
uma curvatura.
1-28. Delgados — Partes da carena mais afiladas a vante e a ré, de
um e de outro bordo, respectivamente, da roda de proa e do cadaste (fig.
1-28).
1-29. Cinta, cintura ou cintado do navio (fig. 1-15) — Intersegado
do convés resistente (pag. 18; art. 1-56 r) com o costado. A fiada de cha-
pas do costado na altura da cinta também toma o nome de cinta, cintura
ou cintado; ela 6 sempre cont{nua de proa a popa, tem a mesma largura
em todo o comprimento do navio e as chapas em geral, tém maior espessu-
ra que as chapas contiguas. A cinta fica quase sempre na altura do convés
principal do navio, por ser este usualmente o pavimento resistente.
1-30. Resbordo (fig. 1-15) — A primeira fiada de chapas (ou de
tdbuas, nos navios de madeira) do forro exterior do fundo, de um e de
outro lado da quilha.
1-31. Calcanhar (fig. 1-31) — Parte saliente formada no fundo de
alguns navios pelo pé do cadaste e a parte extrema posterior da quilha. E
comum nos navios que tém leme compensado (ver pag. 313; art. 6-34 b3);
permite maior estabilidade ao navio.
1-32. Quina — Qualquer mudanc¢a brusca de direcdo na superficie
externa do casco, num chapeamento, numa antepara, numa Caverna ou em
coutra peca qualquer da estrutura.
1-33, Costura — Interstfcio entre duas chapas ou entre duas té-
buas cont/guas de um chapeamento ou de um tabuado, respectivamente.
1-34. Bosso de eixo (fig. 1-4) — Saliéncia formada na carena de
alguns navios em torno do eixo do hélice.
1-35. Balango de proa (fig. 1-3) — A parte da proa por ante-a-van-
te da quilha.
6 ARTE NAVAL
convés,
ose
POSICAO 00 CALCANMAR NO NAVIO
&&
Coteannar
Linke Base
FIG. 1-31 —-Calcanhar.
1-36. Balango de popa (fig. 1-31) — A parte dapopa por ante-e-ré
da quilha.
1-37. Superestrutura (fig. 1-37 a, b, c) — Construgao feita sobre o
convés principal, estendendo-se ou nao de um a outro bordo e cuja cober-
tura 6, em geral, ainda um convés. :
Convés do paasedtgo
Convés do Tijupé
Convés superior
Tombadiiho
Castelo
Convés
principal
Convés
principal
Pogo (ARI
Pogo (AV)
FIG, 1-37 a— Superestruturas de um navio mercante.
1-38. Castelo de proa, ou simplesmente, castelo (fig. 1-37a) — Su-
perestrutura na parte extrema da proa, acompanhada de elevacao da bor-
da,
1-39. Tombadilho (fig. 1-37a) — Superestrutura na parte extrema
da popa, acompanhada de elevacdo da borda.
1-40. Superestrutura central (fig. 1-37b) — Superestrutura a meia-
NOMENCLATURA DO NAVIO 7
“Nau. Também chamada incorretamente espardeque, do inglés “spardeck’’.
1-41. Pogo (fig. 1-37a) — Espago entre o castelo, ou 0 tombadi-
lho, e a superestrutura central, num navio mercante; este espaco é limitado
inferiormente pelo convés principal, e lateralmente pelas amuradas e pelas
anteparas frontais do castelo, ou do tombadilho, e as da superestrutura
central.
FIG. 1-37 b — Superestruturas de contratorpedeiros
1-42. Superestrutura lateral (fig. 142) — Superestrutura disposta
junto a um dos costados somente, como é 0 caso dos porta-avides.
1-43, Contrafeito (fig. 1-43) — Parte rebaixada no costado do
navio a fim de se colocar uma pega de artilharia ou alojar uma embarcacao
num navio de guerra, ou por conveniéncia da carga ou do servico, num
navio mercante.
1-44, Contra-sopro (fig. 1-44) — Escudo de chapa que possuem
alguns navios de guerra para proteger a guarni¢do de um canhao ou 0 pes-
soal de um outro posto, do tiro de um outro canhao cuja boca fica imedia-
tamente acima dele.
1-45. Jardim de popa (fig. 1-45) — Espécie de sacada na popa dos
navios de guerra de grande porte, comunicando-se por meio de portas com
as acomoda¢ées do comandante.
1-46. Recesso — Concavidade feita numa antepara a fim de alojar
um aparetho no compartimento, ou para obter melhor arranjo.
1-47. Recesso do tinel (fig. 1-47) — Parte de um tunel ampliada
em sua secdo, tal como os recessos do tunel do eixo, que tem geralmente
maior-altura junto 4 praga de maquinas e junto a bucha do eixo.
1-48, Talhamar (fig. 1-48) — Nos navios de madeira, 6 uma combi-
nagao de varias pegas de madeira, formando um corpo que sobressai da
parte superior da roda de proa; serve geralmente para fornecer o apoio
8 ARTE NAVAL
necessario a fixago do gurupés e principal-
antene do reF THente para dar um aspecto elegante a proa do
navio.
Nos navios de ferro ou ago, o talhamar
faz parte da roda de proa, da qual nao é mais
piaterorna dO que um prolongamento.
oe tame Possuem talhamar a maior parte dos
veleiros e somente alguns navios de propulsdo
a hélice.
O nome talhamar, também pode ser
usado para significar a aresta externa da proa
do navio ou a pega que constitui essa aresta,
colocada externamente 4 roda de proa (pag.
260; art. 6-15).
FIG, 1-37 ¢ — Superestrutura 1-49. Torredo de comando — Abrigo
: Gein lencou! encouracado dos navios de guerra de grande
ragado. porte, situado em posi¢ao tal que de seu inte-
rior se domine com a vista um grande campo no horizonte; é destinado ao
Comandante e também pode ser denominado torre de comando. Localiza-
do sob o passadi¢o, o substitui para o comando do navio em combate. Af
estdo protegidos os aparelhos para governo do navio e transmissdéo de
ordens. E comum, hoje em dia, se usar impropriamente o termo torre de
comando — para significar o passadigo.
1-50. Apéndices — Partes
relativamente pequenas do casco
de um navio, projetando-se além
da superficie exterior do chapea-
mento da carena; esta palavra
compreende geralmente as se-
guintes pecas: a parte saliente da
quilha macica, da roda e do ca-
daste; o leme, as bolinas, os héli-
ces, os pés de galinha dos eixos, a
parte dos eixos fora do costado,
9 cadaste exterior e a soleira da
clara do hélice.
Segdo B -- Pecas principais da estrutura dos cascos metélicos
1-51. Ossada e chapeamento — A estrutura do casco dos navios
consta da ossada, ou esqueleto, e do forro exterior (chapeamento, nos
navios metdlicos, ou tabuado, nos navios de madeira).
Podemos considerar as diferentes pecas da estrutura do casco de
acordo com a resisténcia que devem apresentar aos esfor¢os a que sio
submetidos os navios, os quais so exercidos na dire¢ao longitudinal, na
FIG, 1-42 — Superestrutura lateral de um porta-
-avides.
NOMENCLATURA DO NAVIO 9
diregdo transversal, ou sdo esforgos locais (p4g. 240; art. 5-45). Diremos
entdo que a ossada é constitufda por uma combinacio de dois sistemas de
vigas, as vigas longitudinais e as vigas transversais, além dos reforgos locais.
A continuidade das pegas da estrutura, e particularmente das vigas
longitudinais, é uma das principais consideragdes em qualquer projeto do
navio. Assim, uma pega longitudinal para ser considerada uma viga da
estrutura deve ser cont(nua num comprimento consideravel do navio.
1-52. Vigas e chapas longitudinais — Contribuem, juntamente com
© chapeamento exterior do casco e o chapeamento do convés resistente
(pag. 18; art. 1-56 r) para a resisténcia aos esforcos longitudinais, que se
exercem quando, por exemplo, passa o cavadoou a crista de uma vaga pelo
meio do navio; so as seguintes:
a. . Quilha (fig. 1-15 e 1-52) — Peca disposta em todo o compri-
mento do casco no plano diametral e na parte mais baixa do navio: consti-
tui a “espinha dorsal” e 6 a parte mais importante do navio, qualquer que
seja © seu tipo; nas docagens e nos encalhes, por exemplo, é a quilha que
suporta os maiores esforgos.
b. Sobrequitha (fig. 1-52) — Pega semelhante a quilha assenta-
da sobre as cavernas.
¢. Longarinas, ou Longitudinais (fig. 1-21) — Pecas colocadas
de proa a popa, na parte interna das cavernas, ligando-as entre si.
d. Trincaniz (fig. 1-15 e 1-52) — Fiada de chapas mais proxi-
mas aos costados, em cada pavimento, usualmente de maior espessura que
as demais, e ligando os vaus entre si e as cavernas.
@. Sicordas (fig. 1-21 e 1-52) — Pecas colocadas de proa a popa
num convés ou numa coberta, ligando os vaus entre si.
1-53. Vigas e chapas transversais — Além de darem a forma exte-
rior do casco, resistem, juntamente com as anteparas estruturais, 4 tendén-
cia a deformacao do casco por acao dos esforcos transversais (pag. 236;
art, 5-42); sdo as seguintes:
a, Cavernas (fig. 1-15 e 1-52) — Pecas curvas que se fixam na
quilha em direg3o perpendicular a ela e que servem para dar forma ao
Casco e sustentar o chapeamento exterior. Gigante (fig. 1-21) 6 uma caver-
na reforcada. Caverna mestra é a caverna situada na segdo mestra. Caverna-
me 6 0 conjunto das cavernas no casco. O intervalo entre duas cavernas
contiguas, medido de centro a centro, chama-se espacamento. Os bracgos
das cavernas acima do bojo chamam-se bafizas.
b, Cavernas altas (fig. 1-3 e 1-52) — Sdo aquelas em que as
hastilhas sdo mais altas que comumente, assemelhando-se a anteparas. S30
colocadas na proa e na popa, para reforco destas partes.
c. Vaus (fig. 1-15, 1-21 e 1-53) — Vigas colocadas de BE a BB
em cada caverna, servindo para sustentar os chapeamentos dos conveses e
das cobertas, e também para atracar entre si as balizas das cavernas; os
: ARTE NAVAL
aus tomam o nome do pavimento que sustentam.
d. Hastilhas (fig. 1-15 e 1-52) — Chapas colocadas verticalmen-
te no fundo do navio, em cada caverna, aumentando a altura destas na
parte que se estende da quilha ao bojo.
e. Cambotas (fig. 1-4) — Sao as cavernas que armam a popa do
navio, determinando a configuragdo da almeida.
1-54. Reforgos locais — Completam a estrutura, fazendo a ligacdo
entre as demais pecas ou servem de refor¢o a uma parte do casco.
a. Roda de proa, ou simplesmente roda (fig. 1-3 e 1-52) — Peca
robusta que, em prolongamento da quilha, na dire¢do vertical ou quase
vertical, forma o extremo do navio a vante. Faz-se nela um rebaixo chama-
do alefriz, no qual é cravado 0 topo do chapeamento exterior. Nos navios
de madeira, ha também alefriz da quilha, para fixagao das tébuas do res-
bordo.
b. Cadaste (fig. 1-4 e 1-52) — Peca semelhante a roda de proa,
constituindo 0 extremo do navio a ré; possui também alefriz. Nos navios
de um s6 hélice, ha cadaste exterior e cadaste interior.
c. Pés de carneiro (fig. 1-15) — Colunas suportando os vaus
para aumentar a rigidez da estrutura, quando o espago entre as anteparas
estruturais é grande, ou para distribuir um esfor¢o local por uma extensdo
maior do casco. Os pés de carneiro tomam o nome da coberta em que
assentam.
d. Vaus intermedidrios — So os de menores dimensdes que os
vaus propriamente ditos e colocados entre eles para ajudar a suportar o
pavimento,jem alguns lugares, quando o espago entre os vaus é maior que
ousual. |
e. Vaus secos (fig. 1-21) — Sao os vaus do porao, mais espacados
que os outros e que nao recebem assoalho, servindo apenas para atracar as
cavernas quando 0 pordo é grande.
f. Latas (fig. 1-15) — Vaus que nao sao continuos de BB a BE,
colocados na altura de uma enora, ou de uma escotilha, entre os vaus pro-
priamente ditos. Ligam entre si os chacos das escotilhas (pag. 323; art.
6-36 c(1) e as cavernas.
Bugardas (fig. 1-52) — Pecas horizontais que se colocam no
bico de proa ou na popa, contornando-as por dentro, de BE a BB; servem
para dar maior resisténcia a essas partes do navio.
h. Prumos (fig. 1-21) — Ferros perfilados dispostos vertical:
mente nas anteparas, a fim de reforcé-las.
i. Travessas (fig. 1-21) — Ferros perfilados dispostos horizon-
talmente nas anteparas, a fim de refor¢a-las.
j. Borboletas ou esquadros (fig. 1-54 a) — Pedagos de chapa,
em forma de esquadro, que servem para ligacgdo de dois perfis, duas pecas
quaisquer, ou duas superficies que fazem Angulo entre si, a fim de manter
invariavel este Angulo. As borboletas tomam o nome do local que ocupam.
“@]UEDIAW O1AU WN BP JOLJaIU! EIS! — Sh-L “Old
oayoasay
qWoriwan vHtind. og vavHO VNIuvSNO?
WHITING
vatisvH ‘aonna o7sna Donna oo wOTWSLxa OHUOS
Ofoa oo WNIuVSNOT
evwianus Vo varaNoLNya
2g oroe OO S¥dvHD grog, 00 sour snd
>
<
Zz ocog OG WNI¥VONO7.
Q uonns-07gnd 0131
a FOONNS OC YOTYSINT OYYOS
Lt
ac ‘OWIANEVD 30 ad
2 Vivst svavuo.
& a0 wOIWaLxa vovIa o3vHo
aT
3 VSIWWO! SVdVHO viu3a03
worwainz vovrs
Ww - ian he VO OLNSWW3dVHO
5 woruaixa vovza svwuanya
Zz
VSIWWI! S¥dVHO
30 WOIMSANI WOVIs Tsviv)
VIVS‘S¥dVHO vil¥3G02 WO snv~A
or vavra
‘30 yOIMaLxXa Wa! vuqtu0383
vo viodvaa
vanra vo svavig
Ia {VIN 7M,
30 VovTa‘VINTS op
auisnvwe 47
AY sannod oa | gyiyn
Vavuisaviva vo sogva © = ZINVONTUL
SH SBANOD 0G ZINVONTUL
V 00 VuZaNOLNVD
ouavaosa
viatoguod
WH1IL09S3 vd viodvua
viuaa02
S3ANOD 00 OLNAWV3dvHO wuiz40983 va viodvua
ee eet tt ee
ARTE NAVAL
12
joned wn ap so1103u e181 —
awaiauvio
couossay
ooNnd OG vuvdainy ad Wd¥HO vi310eN0a SWNIBWONOT
Woruaixa OwxOs — VSSBAYEL vearnd
oro
00 svavuaforoe
0:0:0.0 0:0 0-0:0°0 07 ONO
: a Z ° aiNvars
‘SVNTUVONOT } Zz —vavsu0u3¥
of vau3av3
ysiuva— .
‘O 2.
svavno 30 aT) : aie
woruaini Vovie 4 ee ao ve HOUND" SRE 070 ov anonvisa
e = ° ota eens : vevdainy
‘ ; — VEWd3 INV
vivs— : i aT 0 =]
svévio 30, ‘o | 1 =H Se ad 7
WOIM3LX3 VOWIS ‘| id be
‘o rel 0 fev “fo
alc ‘ == aoe
viu3e02 vo O 073s OVA ¥ 0 0035 OWA
OLNSuV32¥K3 L ] | a
: ee. a oyuaa 30 3nowys
0 3 — et \ Ol oO} OU WwwaLv WaWd3LNY
ol
vinta : Aone emcee
vauos S9ANO3 0G OAN3HVEdVHD covsuosaay nya YOXOIIS OYNaA.
aa ‘3n0N¥L
vovunuv \yssaaven ome ae
ZINVONTUL-Vavio-ZINVINTEL ZuNyoNTeL 00 VBESNOINVD
13
NOMENCLATURA DO NAVIO
Ct et
‘OnUaP ap OWSIA ‘OpeISOD — e HS-L “OIA
14 ARTE NAVAL
1. Tapa-juntas — Pedaco de chapa ou pedaco de cantoneira qué
serve para unir a topo duas chapas ou duas cantoneiras.
m. Chapa de reforgo — Chapa colocada no contorno de uma.
abertura feita no costado ou em outro chapeamento resistente, a fim de
compensar a perda do material neste lugar. Estas chapas tomam o nome
do local em que sao colocadas; assim, temos reforgo da escotilha, refor¢o.
da enora, etc.
n. Calgos (fig. 1-54
b) — Chapas que se colocam
para encher os espacos vazios
entre duas chapas ou pecas
quaisquer. Os calgos tomam o
nome dos lugares que ocupam.
o. Colar (fig. 1-54
c) — Pedaco de cantoneira ou
de chapa cglocado em torno
de um ferro perfilado, uma
cantoneira ou um tubo que
atravessa um chapeamento, a
fim de tornar estanque a junta,
ou cobrir a abertura.
p. Cantoneira de contorno (fig. 1-21) — Cantoneira disposta
em torno de um tubo, tunel, escotilha, antepara estanque, etc., com o fim
de manter a estanqueidade da junta.
q. Gola — Cantoneira,
barra, ferro em meia-cana ou
peca fundida que contorna uma
abertura qualquer, para reforco
local; toma o nome do lugar
onde é colocada,
1-55, Chapeamento — E
© conjunto de chapas que com-
pdem um revestimento ou uma
subdiviséo qualquer do casco dos
navios metalicos. As chapas dis-
Postas na mesma fileira de cha 1g 4.56 ¢— Colar soldado, torando estan
peamento constituem uma fiada que a passagam de uma caverna
de chapas. no convés.
a. Chapeamento exterior do casco (fig. 1-55) — Sua fungao
principal é constituir um revestimento externo impermedvel a dgua, mas é
também uma parte importante da estrutura, contribuindo para a resistén-
cia do casco aos esforcos longitudinais. As fiadas mais importantes do
chapeamento exterior sdo: a da cinta, a do bojo e a do resbordo.
conves
FIG, 1-54 b — Calgo.
cd
CAVERNA
conves
NOMENCLATURA DO NAVIO 15
CORREMKD Of BORDA
ESTAT DA BORDA PALSA
CANTONETRA EXTERNA 09 TRINCANTZ
feos ‘CANTONE TRA INTERNA
OD TRINCANTZ yay 20 CONVES.
—FORRO. Of MADEIRA
ORROLETA NN pac rane
CHAPA DA CINTA
TRINCANTZ
cAVERNA——
CAPA INTERIOR —
DUPLO; CARISA
PE be cARNerRo
CHAPA EXTERIOR
bo TRINCADO
BUPLO-SATA
CHAPEARENTO. INTERTOR
‘00 FUNDO
FORRO INTERIOR
0 reNao
CHARA
30 TRE .
DuPLo-cANTSA
FORRO OE MADERA
30 Park —
cnara 00 peso
sue TRO
Forno Cxrerrce ouruaa
tocanri”a "po Funoo)—CHAPA oa HESBOREO
FIG. 1-55 — Meia seco de um navio de uma coberta.
b. Chapeamento do convés e das cobertas (fig. 1-15) — Divi-
dem 0 espaco interior do casco em certo nimero de pavimentos, permi
do a utilizago adequada desses espacos. Além disto, eles também contri-
buem para a estrutura resistente do navio no sentido longitudinal; o pavi-
mento resistente (pag. 18; art. 1-56 r) 6 o mais importante pavimento sob
este aspecto, se bem que as cobertas também contribuam, em menor
extensdo, para a resisténcia longitudinal do casco.
¢, Chapeamento interior do fundo (fig. 1-55) — Constitui o
teto do duplo-fundo e, além de ser um revestimento estanque, contribui,
com as demais pecas de estrutura do duplo-fundo, para a resisténcia longi-
tudinal.
d. Anteparas (fig. 1-15) — Sdo as separacdes verticais que sub-
dividem em compartimentos 0 espaco interno do casco, em cada pavimen-
to. As anteparas concorrem também para manter a forma e aumentar a
resisténcia do casco. Nos navios de aco, as anteparas, particularmente as
transversais, constituem um meio eficiente de proteg%io em caso de veio
d’gua; para isto elas recebem reforgos, séo tornadas impermedveis a dgua,
e chamam-se anteparas estanques (fig. 1-15). Sob o ponto de vista da
estrutura resistente do casco, as que fazem parte do sistema encouracgado
de protegao, sao chamadas anteparas protegidas, ou anteparas encoura¢ga-
das, Conforme a sua posico, as anteparas podem tomar os seguintes
nomes:
16 ARTE NAVAL
(QUARTEL OM EScOTTLMA roRRo 0€
BRACOLA DA MADEIRA D0
Se ESCOTELMA oNves
AU 00 CONVES
ALMA DD TRINCANIZ
‘00 CONVES
CHAPAS DA
CINTA
TONEL OA Ae. COBERTA
escorzina|
TRINCANTZ,
(CHAPEARENTO._OA
‘coBeRTA
rateenna o9 toner |
‘esearieee
tZ
oe ae
ay aa
Se goo
ot eonenra
Pe 0 camezs0
1A ae. cveerta —
BRAGOLA OA.
ESCOTIUMA
“--VAU_DA COBERTA
vau on 3a
COBERTA
TRINCANIZ
PE 06 CARNEIRO NGARINA
bo Pcrho bcc
2030-CHAPAS 00 800
Forno EXTERIOR OO FUNDD
FIG, 1-63 — Meia segdo de um navio de quatro cobertas.
(1) — Antepara de colisio AV ou, somente, antepara de colisio
— E aprimeira antepara transversal estanque, a contar de vante; é destina-
da a limitar a entrada d’4gua em caso de abalroamento de proa, que é 0
acidente mais provavel. Por analogia, a primeira antepara transversal estan-
que a partir de ré 6 chamada antepara de colisao AR.
(2) — Antepara transversal — Antepara contida num plano trans-
versal do casco, estendendo-se ou nao de um a outro bordo. As anteparas
transversais principais sio anteparas estruturais, estanques, e sdo cont{nuas
de um bordo a outro e desde o fundo do casco até o convés de comparti-
mentagem (pag. 22; art. 1-56 t).
a A primeira fungao das anteparas transversais principais é dividir
© navio em uma série de compartimentos estanques, de modo que a ruptu-
ra do casco nao cause a perda imediata do navio.
(3) — Antepara frontal — Antepara transversal que limita a par-
te de ré do castelo, a parte de vante do tombadilho, ou a parte extrema de
uma superestrutura.
(4) — Antepara diametral (fig. 1-21) — Antepara situada no
plano diametral, isto é, no plano vertical longitudinal que passa peia
quilha.
NOMENCLATURA DO NAVIO. 17
(5) — Antepara longitudinal, ou antepara lateral — Antepara
dirigida num plano vertical longitudinal que nao seja o plano diametral.
(6) — Antepara Parcial — Antepara que se estende apenas em
uma parte de um compartimento ou tanque; serve como reforgo da estru-
tura.
(7) — Antepara da bucha — Antepara AR onde fica situada a
bucha interna do eixo do hélice.
Segiio C — Convés, cobertas, plataformas e espacos entre conveses
1-66. Divisio do casco (fig. 1-56 a) — No sentido da altura, o
casco de um navio é dividido em certo numero de pavimentos que tomam
Os seguintes nomes:
(a) 0 primeiro Pavimento continuo de proa a popa, contando
de cima para baixo, que é descoberto em todo ou em parte, toma o nome
de convés principal;
(b) a parte de proa do convés principal chama-se convés a vante,
a parte a meia-nau, convés a meia-nau, e a parte da popa, to/da;
(c) a palavra convés, sem outra referéncia, designa, de modo
geral, o convés principal; na linguagem de bordo indica a Parte do convés
Principal que é descoberta, ou coberta por toldo;
(d) um convés parcial, acima do convés principal, na proa é o
convés do castelo, na popa seré 0 convés do tombadilho; a meia-nau, o
convés superior (fig. 1-57 a, 1-56 a);
(e) um convés parcial, acima do convés superior, do castelo ou
do tombadilho, seré chamado convés da superestrutura;
{f) abaixo do convés principal, que é considerado o primeiro, os
conveses so numerados: segundo convés, terceiro convés, etc., a contar de
cima para baixo, e também podem ser chamados cobertas;
(g) os espagos compreendidos entre os conveses, abaixo do con-
vés principal, tomam o nome de cobertas; assim, temos: primeira coberta,
segunda coberta, etc. Ao espaco entre o convés mais baixo e o teto do
Convée principe
Convés de superestrotora
Roda de proa
Convés do canteto
Porkg| colssse AY
4G. 1-56a — Nomenclatura dos pavimentos.
- ARTE NAVAL
‘duplo-fundo, ou entre o convés mais baixo e o fundo, se 0 navio nao tem
duplo-fundo, dése o nome de pordo. Num navio mercante, pordo 6 tam-
bém © compartimento estanque onde se acondiciona a carga; estes pordes
sto numerados seguidamente de vante para ré, e séo forrados por tabuas
que se chamam sarretas (nos lados) e cobros (no fundo) ;
_ (h) o primeiro pavimento parcial contado a partir do duplo-fun-
do para cima, chama-se bailéu; nele fazem-se paidis ou outros comparti-
mentos semelhantes;
(i) um convés que nao é continuo de proa a popa é um convés
parcial;
(j)_ num navio de guerra, o convés que é protegido por couraga
@ chamado, para fins técnicos, convés balistico. Se houver dois destes
conveses, o de chapeamento mais grosso, que é 0 mais elevado, sera cha-
mado convés encouragado, e o outro sera o convés protegido, além de seus
nomes ordindrios;
(1) se houver um s6 convés protegido por chapas de couraca,
este sera 0 convés protegido; onde houver apenas uma parte protegida,
esta parte seré chamada convés protegido a vante, ou convés protegido a
meia-nau, ou convés protegido a ré, além de seus nomes ordindrios;
(m) numa superestrutura colocada geralmente a vante, onde se
encontram os postos de navegacio, o pavimento mais elevado toma o
nome de tijupé (figs. 1-37 c; 1-56 b; 1-56 c e 1-44); 0 pavimento imediata-
mente abaixo deste, dispondo de uma ponte na direcdo de BB a BE, de
onde o comandante dirige a manobra, chama-se passadi¢o; nele ficam usu-
almente a casa do leme os camarins de navegagao e de radio (figs. 1-56 b e
1-44), e a plataforma de sinais; L
(n) o pavimento mais elevado de qualquer outra superestrutura,
e de modo geral, qualquer pavimento parcial elevado e descoberto, chama-
se plataforma. As plataformas tomam diversos nomes conforme sua utili-
zago, e assim temos: p/ataforma dos holofotes, plataforma de sinais, pla-
taforma do canhao AA, etc. (figs. 1-37 c e 1-44);
(0) qualquer construgao ligeira, acima do convés principal,
servindo apenas de passagem entre o convés do castelo ou o do tombadi-
lho e uma superestrutura, ou entre duas superestruturas, chama-se ponte
(fig. 1-56 c); quando esta passagem fica situada junto a borda toma o
nome de talabardgo;
(p) num navio mercante, quando a superestrutura tem mais de
um pavimento, estes podem ser designados de acordo com a sua utilizagao
principal. Assim temos: convés do tijupa, convés do passadi¢o, convés das
baleeiras, etc;
(q) convés corrido é um convés principal sem estruturas que se
estendam de um a outro bordo;
(r) convés resistente, 6 o convés principal ou outro convés que,
19
NOMENCLATURA DO NAVIO
“outanfueo win ep 11y18g ~ 4 99-1 “DI
GONNS-O7dNG ON T3ALLSNGNOD 0379 av OyST109 301734
VaR vO TOrvd 30 nO 3000 vNay 30 3NONWL 30 3MONVL §=— ng. oss0e
0319 30 3f0NvL oxr3 00 73NOL
3uSvOW3 00 ag
Ay DyST703 30 anONyL eee fom eed STNDYY f= ~~ 3u31
viuze02 "eZ AT Tew ovtoa!™” 2 an owing pe ae BO YOVE | WN vod |S aN Ope
wren et fyaUeaen n= bo eee feces ein 3H
samo “E=> ie 00 aeovN
‘3u1S3W 00 TOrvd a san 3037 00 HoLOW
T oN int 098a ey wnt1ogsa
VWYOSV LVI wt
30 ORTSuvdY
oan V youva 30 sive
youv3 30 Snvd On TEAM
Sih oy yaners ngwvisw A aLONIUd OULSWH
ARTE NAVAL
20
“enbuel-o1neu wn ap 114484 — 9 95-1 “Old
oe you2499 (ang isnaoo
OrWixod 00 vovosa 0379 30 3nONVA3
CONNd SNONVL ‘BOI73H 00 WevIO
3 aunT7 youa
Ca Ay syawog
SvO Voved
‘ang1sng.03
0379 30 anDNL
oysti09 30 anbNvA.
3uIS3W 00 TOIvd
awa
=.
ea
B
OH TTOveHOL
YuIgONve vO Nvd
10 O}
= Re aN on
Sv "Hd VINIVD woavasad
BNO3C 00 Md ‘sapSwouveN3
Svo O3enL VOUWD 30 Md
eee oe :
geese once
wOuWI 30 MWd 3u 30 MAYVISWW pot ‘S3ANOD
BINVA 30 N3VISWW OO TYIS3
BINA 30 GuISvH OO TW4S3 ~ |
INA 30 n3UvisWI
2
NOMENCLATURA DO NAVIO.
“O1epediorenuos Wn 9p IVed ~ by-1 “O14
SVISIA
© oN OYHNVO 00 WaOVIWId
oss 30 O13IS¥
Sand » aN OYHNWD.
(aa (ugngasa oN)
30173H-vowvna yuony
oue0S-vuiNo2
ourag TAL, 2 6N Oya
$3L05070N 39 voe 11 |,
Nemes 30 ont] | Kw veoowwead
BE 30 OBIS¥ aunva | | oydvoanwn 30 wruvva
yeiz03 va aNIWWHO 3a owsyy © yaner,
vaya 30 vNauNy SIVNIS 30 vS108
> ARTE NAVAL
por ser suficientemente afastado do eixo neutro do navio (pag. 234; art.
5-41 a) é considerado parte integrante da estrutura resistente do casco no
sentido. longitudinal, tendo por isto as dimensdes de suas pecas aumenta-
das; é usualmente o convés principal;
(s) convés da borda livre 6 0 convés completamente chapeado,
cujas aberturas possuem dispositivos de fechamento permanente estanque,
e a partir do qual se mede a borda livre (pag. 60; art. 2-28); pode ser o
convés principal ou o 29 convés, dependendo do tipo de navio (pag. 138;
art. 3-29 ¢);
(t) convés de compartimentagem é o convés mais alto e conti-
nuo até onde vao as anteparas estruturais do navio; geralmente é o convés
principal;
(u) convés estanque é o convés construfdo de modo a ser perfei-
tamente estanque a Agua, tanto de cima para baixo, como de baixo para
cima; € 0 caso do convés principal de um navio de guerra, que possui esco-
tilhas de fechamento estanque;
(v) convés estanque ao tempo é 0 convés construfdo de modo a
ser perfeitamente estanque & agua, de cima para baixo, nas condicdes
normais de tempo e mar; 0 convés principal de um navio mercante, que
possui inimeros ventiladores abertos e tem as escotilhas de carga fechadas
por tabuas e lona, 6 um convés estanque ao tempo somente, pois nao pode
ser considerado estanque a agua que invadir o casco de baixo para cima;
(x) convés de véo (fig. 1-42) 6 o convés principal dos porta-
avides, onde pousam e decolam os avides.
Segéio D — Subdivisao do casco
1-57, Compartimentos — Subdivisdes internas de um navio.
1-58. Compartimentos estanques — Compartimentos limitados
por um chapeamento impermeavel. Um chapeamento ligado por rebites
pode ser estanque a 4gua e nao o ser a um gas ou ao Gleo, porque estes
penetram mais facilmente através das costuras; neste livro, a palavra estan-
que, sem outra referéncia, indica impermeabilidade 4 4gua somente.
1-59. Duplo-fundo (DF) (figs. 1-15 e 1-21) — Estrutura do fundo
de alguns navios de aco, constituida pelo forro exterior do fundo e por um
segundo forro (forro interior do fundo), colocado sobre a parte interna
das cavernas,
O duplo-fundo é subdividido em compartimentos estanques que
podem ser utilizados para tanques de lastro, de 4gua potavel, de agua de
alimentagao de reserva das caldeiras, ou de dleo.
Um duplo-fundo que nao ocupa todo o comprimento do fundo da
carena, chama-se duplo-fundo parcial (fig. 1-56 c).
1-60. Tanque (Fig. 1-56 c) — Compartimento estanque reservado
A: gf x ZN
iat BIOS
dR
eee oY 3 3 :
: KW) ;
7 KALA E i
DIN |
SSLY
24 ARTE NAVAL
para 4gua, ou qualquer outro Ifquido, ou para um gas. Pode ser constitu i-
do por uma subdivisio da estrutura do casco, como os tanques do duplo-
fundo, tanques de lastro, etc., ou ser independente da estrutura e instalado
em suportes especiais.
A parte superior dos tanques principais de um navio-tanque nao se
estende de um bordo a outro, constituindo um tunel de expansdo (fig.
1-60), isto 6, um prolongamento do tanque no qual o Ifquido pode se
expandir ao aumentar a temperatura. Desse modo evita-se o movimento de
uma grande superficie Ifquida livre na parte superior do tanque, o que
ocasionaria esforgo demasiado nas anteparas e no convés, e perda de esta-
bilidade do navio.
1-61. Tanques de dleo — Os tanques de dleo sao ligados a atmosfe-
ra por meio de tubos chamados suspiros, que partem do teto. Esses tubos
permitem a safda de gases quando os tanques estdo sendo cheios, e por
eles entra o ar quando os tanques estado se esvaziando. Geralmente os
tanques de dleo sao denominados de acordo com 0 uso. Assim:
a. Tanques de combustivel — Sao os espagos permanentemente
destinados ao transporte de combustivel para uso do navio. Num navio
cargueiro podem ser chamados tanques permanentes: sao excluidos do
célculo da capacidade cibica do navio, mas 0 peso que 0 espa¢o acomoda-
ra 6 incluido no expoente de carga ("total deadweight”). ,
b. Tanques de reserva — Sdo os espacos de um navio cargueiro
que podem ser usados para o transporte de combustfvel ou de carga I fqui-
da. S3o inclufdos no calculo da capacidade ctibica do navio, e 0 peso que o
espaco acomodaré faz parte do expoente de carga.
c. Tanques de verdo (fig. 1-21) — Num navio-tanque, sdo os
tanques nos quais se pode transportar dleo adicional nas zonas tropicais,
onde os regulamentos da borda livre permitem maior calado ao navio, ou
quando a carga é um 6leo leve. Sao tanques laterais (de um lado e de outro
do tunel de expansdo) situados imediatamente acima dos tanques princi-
pais. Podem ser utilizados para o transporte de éleo diesel para uso do
navio.
1-62. Tanques fundos — Tanques que se estendem nos navios car-
gueiros, do fundo do casco ou do teto do duplo-fundo, até o convés mais
baixo, ou um pouco acima deste. Sdo colocados em qualquer das extremi-
dades do compartimento de maquinas e caldeiras, ou em ambas, conforme
© tipo do navio e estendem-se de um bordo a outro, em geral. O objetivo é
permitir um lastro Iiquido adicional sem abaixar muito 0 centro de gravi-
dade do navio, em alguns cargueiros cuja forma nao permite acondicionar
nos duplos-fundos a quantidade necessaria de agua de lastro. No teto ha
uma escotilha especial de modo que, eventualmente, o tanque pode rece-
ber carga seca.
1-63. Céferda, espaco de seguranga, espaco vazio ou espaco de ar
NOMENCLATURA DO NAVIO 25
(figs. 1-56c e 1-63) — Espago entre duas anteparas transversais préximas
uma da outra, que tem por fim servir como isolante entre um tanque de
dleo e um tanque de dgua, um compartimento de méaquinas ou de caldei-
ras, etc. E também o espaco estanque disposto lateralmente junto aos cos-
tados dos encouragados e cruzadores a fim de limitar ao minimo possivel
© volume alagado por um veio d’agua; neste caso pode ser cheio de
substancias leves e faceis de encharcar, e, entao, nao deve ser chamado
espac¢o de ar. Em alguns navios este Ultimo espago é denominado contra
mina. (Ver art. 3-3, d).
1-64, Compartimentos ou tanques de colisdo (figs. 1-56 a, bec) —
Compartimentos extremos a vante e a ré, limitados pelas anteparas de coli-
so AV e AR, respectivamente; estes compartimentos so estanques e
devem ser conservados vazios. Na Marinha Mercante sdo chamados pique-
-tanque de vante e pique-tanque de ré (do inglés “peak tank”).
1-65. Tanel do eixo (figs. 1-56b, 1-65 e 1-47) — Conduto de
chapa de dimensées suficientes para a passagem de um homem, e no inte-
rior do qual ficam alojadas as segdes do eixo propulsor desde a praga de
méquinas até a bucha do eixo; o tunel do eixo deve ser estanque.
1-66. Tunel de esco-
tilha, ou tdnel vertical — Espa-
¢o vertical que comunica as
escotilhas que se superpdem
em diferentes conveses. E tam-
bém 0 espago vertical limitado
pelas anteparas que comuni-
cam as escotilhas de dois con-
veses nao adjacentes: por
exemplo, a praga de maquinas
pode comunicar-se diretamen-
te com o convés por meio de
mel Meh Lica alert FIG. 1-65 — Ténel do eixo.
1-67. Carvoeira — Compartimento destinado a acondicionar car-
vdo nos navios que queimam este combust vel.
1-68. Paiol da amarra (figs. 1-56b, 1-56c e 1-68) — Compartimen-
to na proa, por ante-a-ré da antepara de colisdo, para a colocag4o, por gra-
vidade, das amarras das Ancoras. O paiol da amarra Pode ser subdividido
em paiol de BE e paiol de BB, por uma antepara de madeira ou de ferro.
1-69. Paidis — Compartimentos situados geralmente nos porédes,
onde so guardados mantimentos, ou muni¢ao de artilharia, projéteis, ma-
teriais de sobressalente ou de consumo, etc. O paiol onde sdo guardados o
poleame e o magame do navio toma o nome de paio/ do mestre. Num
navio de guerra, o paiol onde séo guardados os utensilios da artilharia e do
armamento portatil chama-se despensa de artilharia.
InP,
‘30 FUNOO
SAZENTE
‘00 MANCAL
26 ARTE NAVAL
1-70, Pragas — Sao alguns dos principais compartimentos em que
o navio é subdividido interiormente; assim, praca d’armas é o refeitério
dos oficiais num navio de guerra; praca de maquinas é o compartimento
onde ficam situadas as mAquinas principais e auxiliares; praca de caldeiras,
onde ficam situadas as frentes das caldeiras e onde permanece habitual-
mente o pessoal que nelas trabalha.
1-71. Camarotes — Compartimentos destinados a alojar de um a
quatro tripulantes ou passageiros.
1-72. Camara — Compartimento destinado ao comandante de um
navio ou de uma forga naval.
1-73. Antecdamara — Compartimento que precede a camara.
1-74. Diregdo de tiro — Compartimento ou lugar de onde séo
gidas as operagées de tiro da artilharia do navio.
1-75. Centro de Informagdes de Combate (CIC) ou Centro de
Operagdes de Combate (COC) — compartimento ou lugar onde as infor-
mag®es que interessam 4 condugao do combate, obtidas pelos sensores e
demais equipamentos, séo concentradas para analise e posterior deciséo do
Comandante.
1-76. Camarim — Compartimento onde trabalha o pessoal de um
departamento do navio. O camarim de navegacdo (fig. 1-44}, onde se
acham instalados os instrumentos de navega¢o, ¢ situado no passadi¢o ou
numa superestrutura. O camarim do leme (fig. 1-47 }, onde se encontra a
roda do leme, é usualmente chamado casa do ferne. Modernamente o leme
situado no passadi¢o e entdéo confunde-se por vezes 0 nome de casa do
leme com o proprio passadigo. Camarim de rddio, onde esta instalada a
estagdo de radio do navio, é também, em geral, situado numa superestru-
tura. O camarim da maquina é,usualmente, aquele em que trabalha o ofi-
cial de servigo na maquina.
1-77. Alojamentos — Compartimentos destinados a alojar mais de
quatro tripulantes ou passageiros.
1-78. Corredor — Passagem estreita entre as anteparas de um
navio, comunicando entre si diversos compartimentos de um mesmo pavi-
mento.
jiri-
4-79. Trincheira — Era, nos navios antigos, uma espécie de caixdo
formado nas amuradas, no sentido de proa a popa, e utilizado para as
macas da guarni¢io. Tem atualmente o nome de trincheira qualquer local
onde sejam guardadas as macas. As trincheiras situadas no convés possuem
capas de lona, que protegem as macas contra a chuva.
Sec¢do E — Aberturas no casco
4-80. Bueiros (figs. 1-55 e 1-63) — Oriffcios feitos nas hastilhas,
de um e de outro lado da sobrequilha, ou nas longarinas, a fim de permitir
© escoamento das aguas para a rede de esgoto.
NOMENCLATURA DO NAVIO 27
1-81. Clara do hélice (fig. 1-56c) — Espago onde trabalha o hélice,
nos navios de um sd hélice; é limitado a vante pelo cadaste interior, a ré
pelo cadaste exterior, em cima pela abébada e embaixo pela soleira (pag.
266; art. 6-16 h).
1-82. Escotilhas (fig. 1-56b) — Aberturas geralmente retangulares,
feitas no convés e nas cobertas, para passagem de ar e luz, pessoal e carga.
1-83. Agulheiro — Pequena escotilha, circular ou el(tica, destinada
ao servigo de um paiol, praca de maquinas, etc.
1-84, Escotilhao (fig. 1-84) — Nome dado a uma abertura feita em
um convés, E de dimensSes menores que uma escotilha. Nos navios mer-
cantes as escotilhas que se destinam a passagem do pessoal chamam-se
escotilhies.
1-85. Vigia (fig. 1-85) — Abertura no costado ou na antepara de
uma superestrutura, de forma circular, para dar luz e ventilag3o a um
compartimento. As vigias séo guarnecidas de gola de metal na qual se
fixam suas tampas (pag. 325; art. 6-38).
Towpa se
combare,
FIG. 1-84 — Escotilhéo, FIG. 1-85 — Vigia,
1-86. Olho de boi (fig. 1-86) — Abertura no convés ou numa ante-
para, fechada com vidro grosso, para dar claridade a um compartimento.
O1ho de bot
CIRCULAR
RETANGULAR
FIG, 1-86 — Otho de boi,
28 ARTE NAVAL
1-87. Enoras — Aberturas geralmente circulares praticadas nos
pavimentos, por onde enfurnam os mastros.
1-88. Gateiras (fig. 1-68) — Aberturas feitas no convés, por onde
as amarras passam para 0 paiol.
1-89, Escovém (fig. 1-89) — Cada um dos tubos ou mangas de
ferro por onde gurnem as amarras do navio, do convés para o costado.
1-90. Embornal (fig. 1-52) — Abertura para escoamento das aguas
de baldeacao ou da chuva, feita geralmente no trincaniz de um convés ou
uma coberta acima da linha d’4gua, e comunicando-se com uma dala
(pg. 31; art. 1-110) assim as 4guas nao sujam o costado do navio. Algu-
mas vezes os embornais do convés s4o feitos na borda, junto ao trincaniz.
1-91. Safdas d’dgua (fig.
1-91) — Aberturas usualmente re-
tangulares, feitas na borda, tendo
grade fixa ou ent&o uma por-
tinhola que se abre livremente de
dentro para fora, em torno de
um eixo horizontal; servem para
dar safda as grandes massas
d’4gua que podem cair sobre o
convés em mar grosso. Nao con-
fundi-las com escovéns e embor-
nais.
1-92. Portalé (fig. 1-45)
FIG. 1-91 — Safda d’égua, — Abertura feita na borda, ou
passagem nas balaustradas, ou
ainda, aberturas nos costados dos
navios mercantes de grande porte, por onde o pessoal entra e sai do navio,
ou por onde passa a carga leve. Ha um portald de BB e um portal6 de BE,
sendo 0 ultimo considerado o portalé de honra nos navios de guerra. Para
escada do portalé ver o art. 1-112.
FIADA EXTERNA
x /
N,
CHAPA DE
REFORCO <
FINDA INTERNA
FIG. 1-95 ~ Abertura de aspiragao ou descarga.
NOMENCLATURA DO NAVIO 29
1.93. Portinholas — Aberturas retangulares feitas na borda ou no
costado de alguns navios para permitir o tiro de tubos de torpedo, de
canhGes de pequeno calibre, etc., ou para passagem de cargas pequenas.
Portinholas sio também os nomes das abas que fecham estas aberturas ou
os portalés,
1.94. Seteiras — Aberturas estreitas feitas nas torres ou no passa-
digo dos navios a fim de permitir a observacao do exterior.
1.95. Aspiragdes (fig. 1-95) — Aberturas feitas na carena, para
admissdo de 4gua nas valvulas de tomada do mar (‘‘kingstons"'); as aspira-
des tomam o nome do servico a que se destinam.
1.96. Descargas (fig. 1-95) — Aberturas feitas no costado, para a
descarga das aguas dos diferentes servi¢os do navio; as descargas tomam o
nome do servigo a que se destinam.
Secdo F — Acessérios do casco, na carena
1-97. Leme (figs. 1-56b, 1-56c e 1-47) — Aparelho destinado ao
governo de uma embarcacao.
PES De
a" |
jae De
FIG, 1-98 — Pés de’yalinha.
1-98. Pé de galinha do eixo (fig. 1-98) — Conjunto de bracos que
suportam a seco do eixo do hélice que se estende para fora da carena, nos
navios de mais de um hélice.
EIXO 00 HELICE
~,
ie
_|
FIG, 1-99 — Tubo telescépico.
30 ARTE NAVAL
1-99. Tubo telescépico do eixo (fig. 1-99) — Tubo por onde o
eixo do hélice atravessa 0 casco do navio; nele sfo colocados 0 engaxeta-
mento e a bucha do eixo.
1-100. Tubulao do leme (fig. 1-68) — Tubo por onde a madre do
leme atravessa o casco do navio; também recebe bucha e gaxeta.
1-101, Suplemento de
uma valvula (fig. 1-101) — Secdo
tubular de forma troncdnica e
geralmente fundida; liga o orifi-
cio feito na carena para uma val-
vula de aspiragdo do mar (‘‘kings-
ton”) & propria valvula e serve de
suporte a esta.
1-102. Quilhas de doca-
gem — Pecas semelhantes a uma
quilha maci¢ga, colocadas lateral-
mente no fundo da carena dos
‘CARENA~ navios de grande porte; contri-
buem com a quilha para suportar
© navio nas docagens (pag. 289;
art. 6-23).
1-103. Bolinas, ou quilhas de balango (fig. 1-55) — Chapas ou es-
truturas colocadas perpendicularmente em relac&o ao forro exterior, na
altura da curva do bojo, no sentido longitudinal, uma em cada bordo, ser-
vindo para amortecer a amplitude dos balancgos. Bo/ina é também o nome
de uma chapa plana e resistente, em forma de grande faca, colocada verti-
calmente por baixo da quilha das embarcagdes de vela, para reduzir as
inclinagdes e o abatimento.
1-104. Zinco protetor — Pedago de chapa grossa de zinco, cortado
na forma mais conveniente e preso por meio de parafuso ou estojo na care-
na, ou no interior de um tanque, nas proximidades de pecas de bronze, a
fim de proteger as pecas de ferro contra a aco galvanica da agua do mar.
Os zincos protetores devem ser laminados e nunca fundidos. Chamados
impropriamente isoladores de zinco.
1-105, Buchas — Pecas de metal, borracha ou pau de peso, que se
introduzem nos oriffcios que recebem eixos, servindo de mancal para eles.
Ha assim, bucha do eixo do hélice, bucha da madre do leme, etc. Nos
tubos telescopicos longos ha duas buchas, a bucha externa junto a carena,
e a bucha interna, junto a antepara de coliséo AR.
HASTE OA VALVULA
SUPLEnENTO.
DA VALWULA
FIG. 1-101 -- Suplemento de valvula.
Secio G — Acessérios do casco, no costado
1-106. Verdugo (fig. 3-11) — Peca reforgada, posta na cinta de
NOMENCLATURA DO NAVIO 31
alguns navios pequenos como os rebocadores, ou nas embarcacdes peque-
nas, para proteger o costado durante as manobras de atracacao.
1-107. Guarda-hélice (figs. 1-44 e 1-107) — Armagao colocada no
costado AR, e algumas vezes na carena, a fim de proteger, nas atracagdes,
os hélices que ficam muito disparados do casco, de um e de outro bordo.
1-108. Pau de surriola (fig. 1-108) — Verga colocada horizontal-
mente AV, no costado de um navio de guerra, podendo ser disparada per-
pendicularmente ao costado para amarrarem-se as embarcacdes quando o
navio no porto. Para a nomenclatura, ver a figura.
ABO 00 VAI-€-VEH
MANGUAL
‘Andor inno
FIG. 1-108 — Pau de surriola.
1-109. Verga de sécia — Verga colocada horizontalmente na popa,
no costado, podendo ser disparada perpendicularmente a ele, para indicar
a posi¢&o do hélice nos navios que tem hélices para fora e ndo tem guarda.
1-110. Dala — Conduto
ou tubo que, partindo de um em-
bornal, atravessa o costado na al-
tura do convés, ou desce pelo in-
terior do navio até proximo a
linha d’4gua; tem por fim fazer o
escoamento das aguas do embor- a
nal sem sujar 0 costado,
1-111, Dala de cinzas, 1
dala da cozinha (fig. 1-111) -- saton ovacua
Tubul&o mével, de sec&o retan-
gular, que se adapta a uma safda
da borda para serem despejadas,
respectivamente, as cinzas ou o
lixo da cozinha. FIG, 1-111 — Dala da cozinha,
32 ARTE NAVAL
1-112. Escada do portalé (figs. 1-112 e 1-45) — Escada de acesso
ao portalé, colocada por fora do casco, ficando os degraus perpendicular-
mente ao costado. A escada tem duas pequenas plataformas nos seus
extremos, as quais s30 chamadas patim superior e patim inferior.
1-113. Escada vertical (fig. 1-113) — Escada vertical fixa, cujos
degraus sdo vergalhdes de ferro, e situada numa antepara, no costado, num
mastro, etc.
PATIM
‘SUPERI
PATIM INFERIOR
FIG. 1-112 — Escada do portalé,
1-114, Patim — Pequena plataforma disparada para fora do costa-
do ou ce uma superestrutura e geralmente movel.
CHAR ESTRIADA
TATURLRENTEUSAR-SE TRAGOS DE SOLDA
i Vez OA CHAPA ESTRIADAD
‘conntmko—_
ruse ONvEs suPERTOR
ESCADA VERTICAL
(POU NAG TER CORRIMAG)
ESCADA THCLENADA,
: CORRIMAG
HARA gl
ASTANA CONVES PRINCTPAL CASTANHAS
FIG, 1-113 — Escada.
1-115. Raposas (fig. 1-48) — Nos navios antigos, que usavam anco-
ras tipo almirantado, eram pecgas macigas salientes do costado sobre as
quais descansavam as unhas dessas ancoras; modernamente sao os recessos
feitos no costado de alguns navios, junto ao escovém, para alojar a cruz e
os bragos das ancoras, tipo patente. Nos navios modernos que possuem
NOMENCLATURA DO NAVIO 33
Ancoras tipo Danforth (pag. 537; art. 10-3 c) as raposas devem ser salientes
do costado.
1-116. Figura de proa (fig. 1-48) — Emblema, busto, ou figura de
corpo inteiro, que se coloca na parte superior e extrema da roda de proa
de um navio.
1-117. Castanha (fig. 1-113) — Peca de metal apresentando uma
abertura circular ou quadrangular onde se enfia um ferro ou pau de toldo,
um cabo, etc; fixada no costado, numa antepara, num balatistre, no
convés, etc, serve para fixar as extremidades de pegas remov{veis tais como
escadas, turcos, etc. As castanhas que suportam os turcos tém os nomes es-
peciais de pa/matéria, a superior, e cachimbo, a inferior (fig. 1-117 a).
Seo H — Acessérios do casco, na borda
1-118. Baladstre (fig. 1-15) — Colunas de ferro ou de outro metal,
fixas ou desmontéveis, que sustentam o corrimo da borda, ou os cabos de
arame, OU as Correntes que guarnecem a borda de um navio, as bracgolas
das escotilhas, escadas, plataformas, etc. O conjunto dos balaistres e cor-
rentes, cabos de arame ou vergalhdes que o guarnecem chama-se ba/aus-
trada.
1-119. Corriméo da borda (fig. 1-55) — Peca de madeira que se co-
loca sobre a borda de um navio formando o seu remate superior.
1-120. Buzina
(fig. 1-120) — Pegas de
forma elftica de ferro
ss (C >) anzente
ou outro metal, fixa- (C7
das na borda, para ser-
virem de guia aos ca- | ae
bos de amarracgdo dos
navios. Onde for poss/-
vel as buzinas sao aber- FIG. 1-120 — Buzina
tas na parte superior a fim de se poder gurnir 0 cabo pelo seio.
As buzinas situadas no bico de proa do navio e no painel tomam os nomes
de'buzina da roca e buzina do painel, respectivamente.
Buzina da amarra 6 0 conduto por onde gurne a amarra do navio do
convés ao paiol.
BUZINA ABERTA BUZINA FECHADA
RoveTES,
FUNDTERO
SAZENTE
FIG. 1-121 ~ Tamanca.
34 ARTE NAVAL
1.121, Tamanca (fig. 1-121) — Pega de ferro ou de outro metal,
com gorne e roldana, fixada no convés ou na borda, para passagem dos
cabos de amarracao dos navios.
Segio | — Acessérios do casco, nos compartimentos
1-122. Carlinga — Gola metdlica colocada no convés ou numa
coberta, onde se apdia o pé de um mastro; nos navios de madeira € 0
entalhe feito na sobrequilha para o mesmo fim.
1-123. Corrente dos bueiros — Corrente colocada nos bueiros do
fundo dos navios e que pode alar para vante ou para ré, a fim de conserva
los desentupidos.
1-124. Jazentes (fig. 1-65) — Chapas fortes, cantoneiras, ou pegas
de fundicdo, onde assenta qualquer maquina, peca ou aparelho auxiliar do
navio.
1-125. Quartel — Seco desmontavel, de um assoalho, de um
estrado, ou uma cobertura qualquer; nos navios que ndo tém duplo-fundo,
0 estrado do porao pode ser constitufdo por quartéis a fim de serem visita-
das as cavernas.
1-126. Xadrez (fig, 1-112) — Tabuado em forma de xadrez que se
coloca no patins, junto a uma porta ou num posto de manobra para servir
de piso.
1.127. Estrado (fig. 1-127)
— Assoalho do pordo da praca de
méaquinas, da praca de caldeiras, de
uma plataforma de maquina ou de
caldeiras, etc; pode ser liso ou vaza-
i \ do, fixo ou desmontavel, sendo
neste caso constituido por quartéis.
E geralmente de ferro.
FIG, 1-127 — Estrado de grade. 1-128. Tubos acisticos —
Tubos que transmitem diretamente
a voz de um posto de manobra a outro.
1-129. Telégrafo das maquinas, do leme, das manobras AV e AR
(fig. 1-129) — Transmissores de ordens, mecanicos ou elétricos, do posto de
comando para o pessoal que manobra nas maquinas, no leme a mao, nos
postos de atracagao AV e AR.
1-130. Portas (fig. 1-130) — Aberturas que do passagem franca a
um homem de um compartimento para outro, num mesmo pavimento.
Portas sio também as abas de madeira ou de metal que giram sobre gonzos
(ou se movem entre corredigas, servindo para fechar essas aberturas.
4-131, Portas estanques (fig. 1-131) — Portas de fechamento
NOMENCLATURA DO NAVIO. 35
estanque, que estabelecem ou interceptam as comunicacées através as
anteparas estanques.
1-132. Portas de visita (fig. 1-132) — Portas de chapa, que fecham
as aberturas circulares ou eliticas praticadas no teto do duplo-fundo ou em
qualquer tanque.
1-133. Beliche — Cama de pequena largura colocada num camaro-
te ou alojamento.
1-134. Servigos gerais — Designac¢ao geral que corresponde as ma-
quinas, bombas, valvulas e canalizacdes dos seguintes servicos: esgoto e ala-
gamento dos porées e tanques de lastro; ventilagao e extrag3o de ar; aque-
cimento e refrigeragao; prote¢ao contra incéndio; sanitarios; ar comprimi-
do; comunicagées.
1-135. Rede de esgoto, de ventilacgao, de ar comprimido, etc. —
Conjunto de tubos das instalagdes respectivas.
FIG. 1-130 — Porta de ago, nao estanque. FIG. 1-131 — Porta estanque de ago.
1,136. Painéis — Partes do forro interno de um compartimento,
no teto ou na antepara; séo geralmente de chapa fina ou folha de alum(-
nio, ou de madeira.
Secio J — Acessorios do casco, no convés
1-137. Cabegos (fig. 1-137) ~- Colunas de ferro, de pequena altu-
ra, montadas aos pares e colocadas geralmente junto a amurada ou as ba-
laustradas; servem para dar-se volta as espias e cabos de reboque. Nos cais,
Para amarragao dos navios, os cabecos nao sio montados aos pares.
1-138. Cunho (fig. 1-138) — Pega de metal, em forma de bigorna,
que se fixa nas amuradas do navio, nos turcos, ou nos lugares por onde
possam passar os cabos de laborar, para dar-se volta neles.
36 ARTE NAVAL
1-139. Escoteira (fig. 1-139) — Pega de metal, em forma de cruz,
fixada ao convés, para dar volta aos cabos, como nos cunhos.
ANG =
FIG. 1-137 — Cabegos. FIG, 1-138 — Cunho, FIG, 1-139 — Escoteira.
1-140. Reclamos — Pegas de ferro ou outro metal, de forma curva,
e abertas na parte de cima, fixadas nos mastros ou em partes altas, ser-
vindo de guia aos cabos do aparelho. Nos reclamos, 0 cabo é gurnido pelo
seio.
FIG, 1-141 — Mataguete.
1-141. Malagueta (fig. 1-141) — Pino de metal ou madeira que se
prende verticalmente num mastro, numa antepara, num turco, etc., a fim
de dar-se volta aos cabos.
1-142. Retorno (fig.
1-142) — Qualquer pega que
serve para mudar a direc&o de
an oe sem permitir atrito ae —f{
1-143. Othal (fig. Sara
1-143) — E um anel de metal; (_— arse
pode ter haste, e 6 aparafusa. 747°NTE-————
do, cravado ou soldado no
convés no costado, ou em
qualquer parte do casco, para FIG, 1-142 — Retorno de rodete.
nele ser engatado um aparelho ou amarrado um cabo.
NOMENCLATURA DO NAVIO 37
De paretuse Pare 2 esteis Pare 1 estat Comum acigede
FIG, 1-143 — Tipos de olhal,
1-144, Arganéu (fig. 1-144) — E um
olhal tendo no ane! uma argola mével, que pode
ser circular ou triangular.
OLNAL 1-145. Picadeiros (fig. 1-145) — Supor-
tes, de madeira ou de chapa, onde assenta uma
embarcacéo mitida do navio; tém a configuracdo
do fundo da embarcag4o que devem receber.
FIG. 1-144 — Arganéu, 1-146. Bergo — Suporte colocado sobre
um convés, uma coberta, etc., para nele apoiar-se uma pega volante.
1-147, Pedestal — Base sobre a qual assentam pecas que sdo
méveis em torno do eixo vertical, como os canhées, metralhadoras, cabres-
tantes, turcos, etc,
1-148, Cabide — Armagao fixa ou portatil, com oriffcios ou
bragos, nos quais se introduzem ou se penduram armas, instrumentos,
correame, roupas, etc. Os cabides s4o, geralmente, colocados nas ante-
paras.
-ARGANEU
Grane
nedetre
FIG. 1-145 —Picadeiro de embarcago.
1-149. Gaidta (fig. 1-149) — Armagiio de ferro ou de outro metal,
tendo abas envidragadas, que cobrem as escotilhas destinadas a entrada de
ar e luz para os compartimentos. Também se chama a/béio.
38 ARTE NAVAL
FIG, 1-149 — Escotithade gaidta.
1-150, Bucha do escovém, da gateira, etc. — Peca de madeira ou
de ferro que se coloca nos escovéns, nas gateiras, etc., para evitar que a
agua em alto-mar penetre no navio por estas aberturas. As buchas para as
gateiras e os escovéns das amarras tém um entalhe proporcional a grossura
da amarra.
1-151. Quebra-mar (fig. 1-89) — Chapa ou tabua, vertical ou um
pouco inclinada para vante, colocada sobre o convés, na proa de alguns
navios, a fim de diminuir a violéncia das aguas que possam cair ali e tam-
bém para dirigir 0 escoamento destas aguas até os embornais.
1-152, Ancora (fig. 1-89) — Peca do equipamento que, lancada ao
fundo do mar, faz presa nele e agiienta o navio a que se acha ligada por
meio da amarra.
1-153. Amarra (fig. 1-89) — Corrente especial constitufda por elos
com malhete (estai) utilizada para talingar a ancora com que se aglienta o
navio num fundeadouro.
1-154. Aparelho de fundear e suspender (fig. 1-89) ~ Compreende
a maquina de suspender (cabrestante ou guincho utilizado para igar a
Ancora), e os acessrios que agiientam a amarra, tais como a abita, 0 mor-
dente e a boca de amarra.
1-155. Cabrestante (fig. 1-155) — Aparelho constitufdo por um
tambor vertical comandado por motor elétrico ou por maquina a vapor,
podendo também ser manobrado a mao; é situado num convés e serve para
alar uma espia ou para suspender a amarra, fazendo parte, neste caso, do
aparelho de fundear e suspender.
1-156. Molinete (fig. 1-89) — Aparelho constitufdo por um ou
dois tambores (saias) ligados a um eixo horizontal comandado por motor
elétrico ou por maquina a vapor; é situado num convés e serve para alar
uma espia, 0 tirador de um aparelho de icar, etc., e também para suspen-
der a amarra, neste caso fazendo parte do aparelho de suspender.
41-157. Mordente (fig. 1-89) — Pega fixa no convés para agiientar a
amarra, mordendo-a em um dos elos; faz parte do aparelho de fundear.
1-158. Boga da amarra (fig. 1-89) — Pedaco de cabo ou corrente
com que se aboga a amarra; faz parte do aparelho de fundear.
NOMENCLATURA DO NAVIO 39
1-159. Abita (fig. 1-89) — Cabeco de ferro, dispondo de nervuras
salientes chamadas tetas; colocado entre o cabrestante (ou guincho) e o
escovém da amarra. E uma pega do aparelho de fundear e serve para nela a
amarra dar uma volta redonda. Em desuso.
1-160. Aparelho de governo (fig. 1-160) — Termo que compreen-
de as rodas do leme, os gualdropes, a maquina do leme e os acessérios por
meio dos quais o leme é movimentado.
Burine _- Quebre-mar
rede,
aATerRA
Amarce
FIG. 1-89 — Aparelho de fundear e suspender.
1-161, Aparetho do navio — Denominacao geral compreendendo
Os mastros, mastaréus, vergas, paus de carga, moitdes e os cabos necessé-
rios as manobras e a seguranga deles. Aparelho fixo 6 0 conjunto dos cabos
fixos e aparelho de laborar 6 0 conjunto dos cabos de laborar do aparelho
do navio,
1-162. Mastro (fig. 162a) — Pega de madeira ou de ferro, de
se¢do circular, colocada no plano diametral, em direcdo vertical ou um
Pouco inclinada para ré, que se arvora nos navios; serve para nele serem
envergadas as velas nos navios de vela ou para agiientar as vergas, antenas,
40 ARTE NAVAL
paus de carga, luzes indicadoras de posig¢ao ou de marcha, nos navios de
propulsdo mecanica, e diversos outros acessérios conforme o tipo do
navio. Faz parte do aparelho do navio.
Os navios mercantes de propulséo mecanica tém geralmente dois
mastros; 0 mastro de vante e o mastro principal ou mastro de ré.
Os navios de guerra podem ter um ou dois mastros: quando tém
dois mastros, o de ré é considerado o mastro de honra e nele se iga o pa-
vilh3o ou flamula que indica 0 comando dos oficiais da Marinha de
Guerra. Nos navios de guerra em viagem, a Bandeira Nacional é igada na
carangueja (fig.1-162 a) do mastro de ré, ou num pequeno mastro colocado
na parte de ré de uma superestrutura e chamado de mastro de combate.
No mastro de vante estao fixadas as luzes de sinalizacdo e de
navegacao as adricas onde sao i¢ados os sinais de bandeiras (fig. 1-162 b).
Radesre
chap convés principal
Jezente
FIG. 1-155 — Cabrestante.
1-163. Langa ou pau de carga (fig. 1-56b) — Verga de madeira, ou
de aco, que tem uma extremidade presa a um mastro ou a uma mesa junto
a este, ligando-se a outra extremidade ao topo do mastro por meio de um
amante e servindo de ponto de aplicagao a um aparelho de i¢ar. E em geral
colocada junto a uma escotilha e serve para igar ou arriar a carga nos
pordes do navio. Quando no local em que esté situado o pau de carga nao
ha um mastro, o amante fixa-se a uma coluna vertical chamada toco, ou
pescador.
1-164. Guindaste — Alguns navios, em vez de paus de carga
possuem no convés um pequeno guindaste movido a vapor, a pressdo hi-
draulica ou a eletricidade.
1-165. Pau da Bandeira (fig. 1-162a) — Mastro pequeno colocado
no painel de popa dos navios, onde se i¢a a Bandeira Nacional. Nos navios
de guerra ela sé 6 igada no pau da bandeira enquanto o navio estiver
parado.
NOMENCLATURA DO NAVIO 41
Flamule de comande
estar
Penol da caranguese
CererES°S nay ge Bendoire
Brangel (as)
FIG. 1-162 a — Mastros @ aparstho fixo,
1-166. Pau da bandeira de cruzeiro (fig. 1-162a) — Pequeno
mastro colocado no bico de proa onde se i¢a a bandeira de cruzeiro, distin-
tivo dos navios de guerra nacionais. Também chamado pau do jeque, do
inglés “Jack”.
1-167. Faxinaria — Caixa ou armario em que o pessoal do convés
guarda o material de limpeza e tratamento do navio.
1-168. Toldo — Cobertura de lona que se estende sobre as partes
do convés ou de uma superestrutura que nao tem cobertura fixa, a fim de
proteger o pessoal contra a chuva ou sol. O toldo é geralmente dividido em
se¢Ges, que séo numeradas de vante para ré, ou tomam os nomes dos luga-
res onde s&o colocadas,
1-169. Sanefas — Cortinas de Iona ou de brim que se amarram em
todo o comprimento no vergueiro do toldo para resguardar o convés do
sol, chuva ou vento, quando o navio esta no porto.
Nas embarcagGes mitidas essas cortinas sao cosidas aos toldos para
resguardar 0 paineiro.
1-170. Espinhago (fig. 1-43) — Cabo de arame ou viga de madeira
colocada no plano diametral do navio e que suporta um toldo a meio.
1-171. Vergueiro (figs. 1-43 e 1-45) — Cabo de arame colocado
nos ferros de toldo da borda, ou vergalhao fixado a uma antepara, onde
s&o amarrados os fiéis de um toldo.
1-172. Ferros do toldo (fig. 1-43) — Colunas de ferro ou de ago,
desmontaveis, que sustentam o espinhago e os vergueiros de um toldo; o
pé enfia em castanhas colocadas no convés, e a cabega tem ofha/ ou
dentes, que sustentam o espinhago ou o vergueiro.
1-173. Paus do toldo — Vigas de madeira constituindo a armacgao
onde & apoiado um toldo. A central, que substitui o espinhago, é a
cumieira e as transversais s8o fasquias.
42 ARTE NAVAL
FIG, 1-174 — Meia -laranja, FIG, 1-178 — Saritho.
1-174. Meia-laranja (fig. 1-174) — Armacao de metal que se coloca
numa escotilha de passagem de pessoal, para sustentar uma cobertura de
lona que a protege contra a chuva.
1-175. Capuchana — Capa de lona, com que se cobre a meia-laran-
ja. Pode ser também uma capa de metal leve.
1-176. Cabo de vaivém (fig. 1-108) — Cabo que se passa acima de
uma verga, ou no convés, para © pessoal :segurar-se nele quando em mano-
bra ou com o navio em alto-mar.
1-177. Corrim&o da antepara — Vergalhdo fixo a uma antepara
para servir de corrimao.
1-178. Sarilho (fig. 1-178) — Tambor horizontal manoprado a
mao, na qual dao volta as espias para se conservarem colhidas e bem acon-
dicionadas.
1-179. Selha (fig. 1-179) — Vaso de madeira, em forma de tina ou
de cilindro, com aberturas para permitir a ventilagao e fixado no convés
para acondicionar um cabo de manobra; sdo muito usadas nos veleiros mo-
dernos, e em alguns cargueiros.
i
FIG. 1-179 ~ Setha (pode ter tampa).
NOMENCLATURA DO NAVIO. 43
1-180. Estai da borda, estai do balatistre, estai de um ferro (fig.
1-43) — Coluna de ferro inclinada apoiando a borda, um balatistre ou um
ferro de toldo.
1-181. Turco (fig. 1-117) — Coluna de ferro tendo a parte supe-
rior recurvada para receber um aparelho de icar; serve para i¢ar embarca-
Ges ou outros pesos.
1-182. Visor (fig. 1-182) — Pedago de chapa que se coloca na
parte externa do passadi¢o, por cima das janelas ou seteiras, para proteger
© pessoal evitando que recebam diretamente os raios ou os pingos de
chuva,
1-183. Ventiladores (fig. 1-183) — Arranjos pelos quais o ar puro
é introduzido e o ar viciado é extrafdo de qualquer compartimento do
navio. S&o, em geral, tubos de grande seco, mas terminam no convés sob
varias formas que tomam nomes diferentes: cachimbo, cogumelo, pesco¢o
de cisne, cabegos. Os cachimbos podem ter dois furos para fazer a extra-
¢ao do ar com maior tiragem, s4o quase sempre méveis, permitindo isto
colocé-los na diregao do vento. Os cabegos so os empregados para amar-
rag3o de espias, e neste caso, terminam em uma tampa com rosca que
Pode ser aberta ou fechada.
cabeco =
Castanne.
Tirador (amarrade
‘20 cunho)
ane Turco
cunho
> Polmatérta Pedestal
Cachimbo Mancal esférico
(soldado ao convés}
Fi ‘ADO
(a1 No cost, (b) NO TRINCANIZ
FIG, 1-117 — Turcos giratorios. |
44 ARTE NAVAL
A ventilagio pode ser natural ou artificial. Se for artificial,é feita
por meio de redes e tubos que terminam no convés também em bocas de
diversas formas. Estas bocas tomam o nome de ventiladores, se introdu-
zem 0 af puro nos compartimentos e extratores, se servem para extrair 0
ar viciado, Também chamam-se ventiladores e extratores os motores que
fazem a introducio ou a extrag3o do ar, e so colocados nas respectivas
redes. :
Convés do tijupé ou
teto do passedigo
Visor
Painel
sino
: Corda do sino
(8 © Gnico cabo que se chama corda) Foee ao prove (cy bujoae
nas extremidades; levemen-
te inclinedo para fecilitar
2 drenagem.
FIG, 1-182 — Visore sino.
NOMENCLATURA DO NAVIO 45
PESCADOR CACHTNBO DE succAa
PESCOCO OE CISNE COGUMELOS NOS CABEcOS
FIG. 1-183 — Ventiladores e extratores.
46 ARTE NAVAL
Luzes para atnats morse
hartge de sinats
adriga se sinats
acs0
tur dene
Bréneny
Luz de nave
pelee ee eee ge vente (oranca)
9 sin
Pietarorms
FIG. 1-162 b — Luzes de navegagao e equipamento de sinais.
1-184, Ninho de pega (figs. 1-44 e 1-162) — Armacao especial fixa
por ante-avante do mastro para posto de vigia. Nos navios mercantes
chama-se cesto de gévea, ou somente gévea.
FIG, 1-28 — (A) Delgado AR — (B) Deigado AV,
(Para interpretar a Fig. ver Art. 2-42)
NOMENCLATURA DO NAVIO 47
ESPINHAGO
ce
xeon
>, oe
TURRTOLA
PORTALO
FIG. 1-45 — Jardim de popa.
48 ARTE NAVAL
DE POPA
Auneron nectsso
0 TOWEL
One 00
erxo
CLARA DO HELICE — erxo DD NELICE
Tueo TeLescorrco
FIG. 1-47 — Detalhe da popa.
unures
escoven
eu7mNa
TABUAS OA
CINTA
PALSA QUTLMA urLH
FIG. 1-48 — Detathe da proa.
NOMENCLATURA DO NAVIO 49
TRINCANTZ
QUILMA —ASTILHAS M
SOBREQUTLHA AS renas
FAG. 1-52 — Vista das partes estruturais da proa e da popa
FIG. 1-68 — (A) — Detaihe da proa.
(8) — Detathe da popa,
ARTE NAVAL
GUAROA 00 HELTCE GUARD DO HELICE
PES 0 GALINHA
FIG, 1-107 — Vista da popa.
FIG, 1-132 — Porta de visita,
FIG, 1-129 — Telégrafo da méquina.
ve
NOMENCLATURA DO NAVIO
FIG. 1-160 — Aparelho de governo.
51
CAPITULO II
GEOMETRIA DO NAVIO
Segdo A — Definigdes
2-1, Plano diametral, plano de flutuagao e plano transversal (fig.
2-1) — Uma caracterfstica geométrica dos navios 6 possufrem no casco um
plano de simetria; este plano chama-se plano diametral ou plano longitu-
dinal e passa pela quilha. Quando o navio est aprumado (pag. 86; art.
2-83), o plano diametral 6 perpendicular ao plano da superficie da agua,
que se chama plano de flutuagaéo. Plano transversal é um plano perpendi-
cular ao plano diametral e ao de flutuagao.
PLANO OTANETRAL
| PLANO OE FLUTUAGAD
SEGKO No PLANO |> TRANSVERSAL
FIG. 2-1 —Planos do casco.
2-2. Linha de flutuagio (fig. 2-2) — Linha de flutuagao (LF), ou
simplesmente flutuagao, é a intersecao da superficie da 4gua com o con-
torno exterior do navio. A flutuac¢ao correspondente ao navio completa-
mente carregado denomina-se flutua¢do carregada, ou flutuagao em plena
carga. A flutuacao que corresponde ao navio completamente vazio chama-
se flutuagdo leve. A flutuagao que corresponde ao navio no deslocamento
normal (pag. 79; item 2-70) chama-se flutuagao normal.
2-3. FlutuagSes direitas, ou retas — Quando o navio nao esta in-
clinado, as flutuagdes em que podera ficar sdo paralelas entre si e chamam-
se flutuagées direitas ou flutuagGes retas. O termo flutuacdo, quando nao
se indica o contrario, 6 sempre referido 4 flutuagao direita e carregada.
2-4. Flutuagdes isocarenas — Quando dois planos de flutuagao
limitam volumes iguais de 4gua deslocada, diz-se que as flutu 1¢3es sao iso-
carenas. Por exemplo, as flutuagdes sdo sempre isocarenas, quando o navio
se inclina lateralmente: a parte que emergiu em um dos bordos é igual &
parte que imergiu no outro, e a por¢ao imersa da carena modificou-se em
forma, mas no em volume.
ARTE NAVAL
LINHA DE
—
FLUTUAGAO LEVE
FIG, 2-2 — Linha de flutuacdo.
2-5. Linha d’4gua projetada, ou flutuagao de projeto (LAP) —E
a principal linha de flutuago que o construtor estabelece no desenho de
linhas do navio (fig. 2-41). Nos navios mercantes corresponde a flutuacao
em plena carga. Nos navios de guerra refere-se 4 flutuacdo normal, A LAP
pode, entretanto, nao coincidir com estas linhas de flutuagao devido a dis-
tribuicgdo de pesos durante a constru¢do.
2-6. Zona de flutuagao (fig. 2-2) — E a parte das obras vivas com-
preendida entre a flutuacdo carregada e a flutuacio leve, e assinalada na
carena dos navios de guerra pela pintura da linha d’agua. O deslocamento
da zona de flutuacdo indica, em peso, a capacidade total de carga do
navio.
2-7. Area de flutuagéo — E a drea limitada por uma linha de flu-
tuagao.
2-8. Area da linha d’4gua — E a area limitada por uma linha
d’agua no projeto do navio (pag. 65; art. 2-42).
2-9. Superficie moldada (fig. 2-9) — E uma superficie continua
imagindria que passa pelas faces externas do cavername do navio e dos
vaus do convés. Nos navios em que o forro exterior é liso (pag. 268; art.
6-17 d-1} esta superficie coincide com a da face interna deste forro.
Nas embarcacdes de casco metilico, o contorno inferior da super-
ficie moldada coincide com a face superior da quilha sempre que o navio
tiver quilha macica (p4g. 245; art. 6-6 a), e algumas vezes, se a quilha é
chata (pag. 247; art. 6-6 c); nas embarcagées de madeira, coincide com a
projecdo, sobre o plano diametral, do canto superior do alefriz da quilha.
2-10. Linhas moldadas — Sao as linhas do navio referidas 4 super-
ficie moldada. Em navios de aco, a diferenca entre as linhas moldadas e as
linhas externas é muito pequena; por exemplo, a boca moldada de deter-
minada classe de CT é de 35 pés e 5 polegadas e a boca maxima é de 35
pés e 6 polegadas. As linhas do desenho de linhas s3o moldadas (fig. 2-10).
2-11. Superficie da carena — E a superficie da carena, tomada por
fora do forro exterior, nao incluindo os apéndices. Nos navios de forro
exterior em trincado (pag. 268; art. 6-17 d-1), a superficie da carena é me-
dida na superficie que passa a meia espessura deste forro exterior.
GEOMETRIA DO NAVIO 55
LINHA 00
CENTRO
| A supenerere roLonoa cor
CIDE COM A FACE INTERNA 00
CCHAPENTENTO
Lanaa DA BASE
PETA BOCA
= mavoaon
(A) CAAPEAHENTO. A TOPO
% conves ;
[A SUPERFICIE MOLOADA PASSA
NA FACE INTERNA DAS CHAPAS.
INTERIORES NA CARENA
‘AS CHAPAS EXTERTORES NAO TO
CAN NA SUPERFICTE MOLOAOA
(6) CHAPEARENTO EN TRINCADO
FIG, 2-9 ~Superficie moldada.
A superficie da carena, somada 4 superf{cie do costado, representa
a area total do forro exterior e permite calcular aproximadamente o peso
total do chapeamento exterior do casco.
2-12. Superficie molhada — Para um dado plano de flutuagao, é a
superficie externa da carena que fica efetivamente em contato com a dgua.
Compreende a soma da superficie da carena e as dos apéndices. E necessa-
rio para o calculo da resisténcia de atrito ao movimento do navio; somada
a superficie do costado permite estimar a quantidade de tinta necessaria
para a pintura do casco.
2-13. Volume da forma moldada — E o volume compreendido
entre a superficie moldada da carena e um determinado plano de flu-
tuagao.
2-14, Volume da carena — E 0 volume compreendido entre a su-
perffcie molhada e um dado plano de flutuagao. Este volume 6, as vezes,
chamado simplesmente carena, pois, nos calculos, nao ha possibilidade de
confusao com a parte do casco que tem este nome.
Para embarcacdes de ago, o volume da carena é calculado pelo vo-
lurne do deslocamento moldado mais o do forro exterior e dos apéndices
tais como a parte saliente da quilha, o leme, o hélice, os pés de galinha dos
eixos, as bolinas, etc. Para as embarcagées de madeira, é 0 volume do
casco referido ao forro exterior mais os volumes dos apéndices. O volume
da carena é o que se emprega para 0 calculo dos deslocamentos dos navios.
ARTE NAVAL
LINHA 00 CENTRO
SekO A. EIA-NAU NA
nor mee
+ LINHA BASE
La
FIG, 2-15 — Dimenstes da seco a meia-nau.
ALTURA DO
*FUNDO
2-15. Curvatura do vau (fig. 2-15) — Os vaus do convés, e algumas
vezes os das cobertas acima da linha d’4gua, possuem uma curvatura de
modo a fazer com que a 4gua possa sempre escorrer para o costado, facili-
tando o escoamento. Esta curvatura é geralmente um arco de circunferén-
cia ou de parabola e da uma resisténcia adicional ao vau.
2-16. Linha reta do vau (fig. 2-15) — Linha que une as intersegdes
da face superior do vau com as faces exteriores da caverna correspondente.
2:17. Flecha do vau (fig. 2-15) — E a maior distancia entre a face
superior do vau ea linha reta; 6, por definicdo, medida no plano diametral
do navio.
2-18. Mediania — Interseg3o de um pavimento com o plano dia-
metral do navio.
2-19. Segéo a meia-nau — E a seco transversal a meio comprimen-
to entre perpendiculares (pg. 69; art. 2-50).
2.20. Segdo transversal; segao mestra — Chama-se segao transversal
qualquer se¢ao determinada no casco de uma embarcagao por um plano
transversal. A maior das secdes transversais chama-se se¢do mestra. A secao
mestra 6 situada em coincidéncia com a se¢ao a meia-nau, ou muito proxi-
mo desta, na maioria dos navios modernos, qualquer que seja o seu tipo.
Em muitos navios modernos, e particularmente nos navios mercan-
tes de carga, certo comprimento da regido central do casco é constitufdo
por segdes iguais 4 se¢3o mestra numa distancia apreciavel, quer para van-
te, quer para ré da sec&o a meia-nau; diz-se ent&o que estes navios tém for-
mas cheias. Nos navios que tém formas finas, a forma das segées transver-
sais varia muito em todo o comprimento do navio a vante e a ré da segao
mestra.
GEOMETRIA DO NAVIO 57
2-21. Centro de gravidade de um navio (CG) — O centro de gravi-
dade é importante para os célculos de flutuabilidade e de estabilidade,
porque o peso do navio pode ser considerado como uma forga nele con-
centrada (G, fig. 2-21).
Como, em um navio, os pesos séo usualmente distribufdos por
igual de um lado e do outro do plano diametral, o CG esta, em geral, neste
plano. Nos navios de forma usual, o CG é situado no plano da secdo a
meia-nau, ou muito proximo dele. A posic&o vertical do CG varia muito de
acordo com 0 projeto de cada navio.
Conforme sua definic¢o em mecanica, 0 centro de gravidade é 0
ponto de aplicagado da resultante de todos os pesos de bordo e a soma dos
momentos de todos os pesos em relagao a qualquer eixo que passe por ele
é igual a zero.
A posi¢éo do CG se altera com a distribuigao de carga, nos tan-
ques, nos porées, no convés, etc.
2-22. Centro de carena, de empuxo, ou de volume (CC) — Eo
centro de gravidade do volume da agua deslocada (C, fig. 2-24) eé0 ponto
de aplicagao da forga chamada empuxo (pag. 58; art. 2-24). E contido no
plano diametral, se o navio estiver aprumado (pag. 86 ;-art. 2-83); na dire-
¢ao longitudinal, sua posigao depende da forma da carena, nao estando
muito afastada da se¢3o a meia-nau nos navios de forma usual. Esta sem-
pre abaixo da linha d’dgua.
Nos navios de superficie, o centro da carena esta quase sempre
abaixo do centro de gravidade do navio, Pois ha pesos que esto colocados
acima da linha de flutuagao, mas nenhuma parte do volume imerso poderé
estar acima desta linha,
A determinagao da posi¢do do centro de carena é de grande impor-
tancia para a distribuic¢do dos pesos a bordo, pois o CG do navio deve estar
na vertical do CC e a uma distancia para cima nao muito grande; sem estes
requisitos 0 navio nao ficaria aprumado, nem teria o necessario equilibrio
estavel.
ereUXG
RESERVA DE FLUTUABTL LDADE
SYMLLILYLIML Lh Lh.
FIG. 2:24 — Empuxo.
58 ARTE NAVAL
2-23. Centro de flutuagéo (CF) — E 0 centro de gravidade da 4rea
de flutuacdo, para uma determinada flutuagao do navio.
2-24. Empuxo (fig. 2-24) — Em cada ponto da superficie imersa
de um corpo, ha uma pressdo que age normalmente a superficie. Esta pres-
so cresce com a profundidade do ponto abaixo da superficie da agua; ela
é medida pelo produto A x p, na profundidade / abaixo do nfvel da agua
cujo peso especffico é p.
Suponhamos, por exemplo, que hd um orif{cio de 0,10 m? em um
ponto da carena situado a 5 metros abaixo da superficie do mar; 1 metro
clbico da agua do mar pesa 1 026 quilos. A press&o d’agua neste ponto
sera igual a 5 x 1 026 quilos por metro quadrado, e um tampéo para
agiientar o veio d’agua naquele oriffcio deve exercer um esforgo de
5x 1026 x1= 513 quilos
10
No caso de um corpo flutuante como é um navio, estas pressdes,
sendo normais 4 superficie imersa, agem em muitas diregdes; entretanto,
cada uma pode ser decomposta em trés componentes em angulo reto:
(1) horizontal, na diregao longitudinal do navio;
(2) horizontal, na dirego transversal do navio;
(3) vertical.
Estando o navio em repouso, as componentes horizontais equili-
bram-se entre si, pois nao ha movimento em qualquer direcao horizontal.
Os pesos parciais que compdem um navio tém uma forga resultan-
te simples que se chama o peso do navio; esta for¢a é aplicada no centro
de gravidade e age numa vertical para baixo. E 0 efeito combinado de
todas as componentes verticais das presses que se opde ao peso do navio.
Chama-se empuxo 4 forca resultante da soma de todas as compo-
nentes verticais das pressdes exercidas pelo Iiquido na superficie imersa de
um navio (fig. 2-24),
Portanto, um navio em repouso é submetido a agdo de duas forgas
verticais; 0 peso de navio, agindo verticalmente para baixo, e o empuxo,
agindo verticalmente para cima.
Como o navio nao tem movimento para cima, nem para baixo,
conclui-se que 0 empuxo é igual ao peso do navio; como ele esta em equi-
\{brio, os pontos de aplicagao destas forgas, isto é, o CG e o CC, estdo
situados na mesma vertical.
2-25. Principio de Arquimedes — ‘‘Um corpo total ou parcialmen-
te mergulhado num fluido é submetido a agao de uma for¢a de intensidade
igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo, de diregao verti-
cal, do sentido de baixo para cima, e aplicada no centro de empuxo"’ (CC).
Consideremos um navio flutuando livremente e em repouso em
GEOMETRIA DO NAVIO 59
Aguas tranqililas. Vimos, no item anterior, como se exercem as pressdes da
agua sobre a superficie imersa do casco.
Suponhamos agora que o navio foi retirado da agua e deixou uma
cavidade, como se pudéssemos por um momento agientar as pressdes da
Agua e manté-la no mesmo nivel (fig. 2-25). Enchemos esta cavidade, que
representa o volume do liquido deslocado pelo navio, com agua da mesma
densidade; esta agua serd equilibrada pela pressdo da que a circunda, exata-
mente como 0 foi 0 casco do navio e como qualquer outra porcdo da mas-
sa liquida; as componentes horizontais das pressdes equilibram-se e as
componentes verticais sustentam 0 peso em cada ponto.
SUPERFICIE 0A AGUA
AGUA DESLOCADA
FIG, 2-25 — Agua deslocada,
Portanto, a forga resultante das pressdes da Agua, isto é, 0 empuxo,
opde-se ao peso do volume Ifquido deslocado num caso, e no outro ao
peso do navio; o empuxo é aplicado no centro da carena.
Fica assim demonstrado o principio que citamos acima e, ainda
mais, que o peso do navio é igual a0 peso da 4gua por ele deslocada.
2:26. Flutuabilidade — A flutuabilidade, que é a propriedade de
um corpo permanecer na superficie da gua, depende, pelo que acima
ficou dito, da igualdade entre 0 peso do corpo e o empuxo do Ifquido.
Como, no nosso caso, 0 liquido é sempre a gua, a flutuabilidade varia
Principalmente com o peso especifico do corpo, isto é, o seu peso por
unidade de volume.
As madeiras leves tem um peso especifico menor que o da agua;
um pedago de madeira leve flutua sempre. O ferro, por exemplo, tem um
Peso especffico maior que o da gua e por isto um pedago de ferro maci¢o
nao pode flutuar. E tornando oco um material que se diminui enormemen-
te O seu peso por unidade de volume e, portanto, aumenta-se a flutuabi
dade. E poss/vel assim a construgao de navios feitos com materiais mais
pesados que a dgua, como 0 ferro e 0 ago.
As leis de flutuabilidade aplicam-se nao somente a qualquer navio
de superficie, como a um submarino, ou a qualquer objeto totalmente
imerso. Quando imerso, um objeto permanece em repouso e na sua posi-
¢4o imersa somente no caso em que o seu peso for igual ao peso do volu-
me deslocado. Mas um objeto totalmente imerso quase sempre pesa mais
Ou pesa menos que o volume da dgua que desloca. Nestes casos, a fim de
You might also like
- Navegação - A Ciência e A Arte - Livro 1Document483 pagesNavegação - A Ciência e A Arte - Livro 1Christiano97% (35)
- FM 31-19 - Military Free Fall ParachutingDocument224 pagesFM 31-19 - Military Free Fall ParachutingAlex100% (2)
- FAA-H-8083-17 Parachute Rigger HandbookDocument344 pagesFAA-H-8083-17 Parachute Rigger HandbookDavid Russo100% (4)
- FAA-H-8083-25 - Pilot's Handbook-Of-Aeronautical Knowledge - Edition 2003Document353 pagesFAA-H-8083-25 - Pilot's Handbook-Of-Aeronautical Knowledge - Edition 2003AlexNo ratings yet
- Static Line Parachuting Techniques and Training - FM 3-21-220Document436 pagesStatic Line Parachuting Techniques and Training - FM 3-21-220USMedicPA100% (2)
- FM 4-20.116 (FM 10-516) To 13C7!1!13 - Reference Data For Airdrop Plataform LoadsDocument182 pagesFM 4-20.116 (FM 10-516) To 13C7!1!13 - Reference Data For Airdrop Plataform LoadsAlex100% (1)
- FM 3-21.71 Pathfinder OperationsDocument181 pagesFM 3-21.71 Pathfinder OperationsJared A. Lang100% (3)
- Fm4!20!102 Rigging Airdrop PlatformsDocument158 pagesFm4!20!102 Rigging Airdrop PlatformsAlexNo ratings yet
- Fm4!20!102 Rigging Airdrop PlatformsDocument158 pagesFm4!20!102 Rigging Airdrop PlatformsAlexNo ratings yet
- ARTENAV2Document434 pagesARTENAV2Dominique100% (8)
- US Navy Course NAVEDTRA 14338 QuartermasterDocument486 pagesUS Navy Course NAVEDTRA 14338 QuartermasterAlex100% (1)
- FM 10-500-3 - Airdrop Derigging and Recovery ProceduresDocument48 pagesFM 10-500-3 - Airdrop Derigging and Recovery ProceduresAlex100% (1)
- FM 10-500-3 - Airdrop Derigging and Recovery ProceduresDocument48 pagesFM 10-500-3 - Airdrop Derigging and Recovery ProceduresAlex100% (1)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- TM 10-1670-268-20&P (T.O. 13C7-52-22) - Plataforma Tipo VDocument228 pagesTM 10-1670-268-20&P (T.O. 13C7-52-22) - Plataforma Tipo VAlex100% (1)
- Dicionario de Termos NauticosDocument5 pagesDicionario de Termos NauticosRomer Silva100% (1)
- O Pináculo da Serpente com Alas: A Viagem do Figkaham: O Pinaculo da Serpente com Alas, #1From EverandO Pináculo da Serpente com Alas: A Viagem do Figkaham: O Pinaculo da Serpente com Alas, #1No ratings yet
- O código das profundezas: Coragem, patriotismo e fracasso a bordo dos submarinos argentinos nas MalvinasFrom EverandO código das profundezas: Coragem, patriotismo e fracasso a bordo dos submarinos argentinos nas MalvinasNo ratings yet
- O descobrimento do Brasil por Pedro Alvares CabralFrom EverandO descobrimento do Brasil por Pedro Alvares CabralRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- O Pináculo da Serpente com Alas: A Viagem da Alma Velejante: O Pinaculo da Serpente com Alas, #2From EverandO Pináculo da Serpente com Alas: A Viagem da Alma Velejante: O Pinaculo da Serpente com Alas, #2No ratings yet
- As garras do cisne: O ambicioso plano da Marinha brasileira de se transformar na nona frota mais poderosa do mundoFrom EverandAs garras do cisne: O ambicioso plano da Marinha brasileira de se transformar na nona frota mais poderosa do mundoNo ratings yet
- O Pináculo da Serpente com Alas: A Viagem do Omobuay: O Pinaculo da Serpente com Alas, #4From EverandO Pináculo da Serpente com Alas: A Viagem do Omobuay: O Pinaculo da Serpente com Alas, #4No ratings yet
- Memoria hydrografica das ilhas de Cabo Verde para servir de instrucção a carta das mesmas ilhas, publicada em o anno de 1790From EverandMemoria hydrografica das ilhas de Cabo Verde para servir de instrucção a carta das mesmas ilhas, publicada em o anno de 1790No ratings yet
- COLREGS - Ship Collission RegulationsDocument229 pagesCOLREGS - Ship Collission Regulationschrisp22040100% (1)
- Ship ControlDocument15 pagesShip ControlAlexNo ratings yet
- Airforce ManualDocument38 pagesAirforce Manualkgb_261No ratings yet
- AERODINAMICADocument5 pagesAERODINAMICAAlexNo ratings yet
- Iluminacao Artificial ConceitosDocument6 pagesIluminacao Artificial ConceitosAlexNo ratings yet
- Curso INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIALDocument46 pagesCurso INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIALWilliam Cabral GuimarãesNo ratings yet