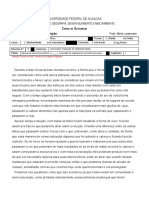Professional Documents
Culture Documents
Carloslucena Mundializacaotrabalho Navegando Librum Ebook2
Uploaded by
smithangelo2Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Carloslucena Mundializacaotrabalho Navegando Librum Ebook2
Uploaded by
smithangelo2Copyright:
Available Formats
MUNDIALIZAO
DO TRABALHO
TRANSIO
HISTRICA e
REFORMISMO
EDUCACIONAL
Jos Claudinei Lombardi
Carlos Lucena
Fabiane Santana Previtali
ORGANIZADORES
1 edio eletrnica
Mundializao do Trabalho, Transio Histrica e Reformismo Educacional
Edio Eletrnica
Organizadores
Jos Claudinei Lombardi, Carlos Lucena e Fabiane Santana Previtali
Preparao dos Originais
Ftima Ferreira da Silva
Projeto Grfco, Capa e Diagramao
Librum Solues Editoriais
Ana Carolina Maluf e Gustavo Bolliger Simes
Produo Editorial
Coordenador
www.librum.com.br
librum@librum.com.br
Campinas/SP
Brasil - 2014
Jos Claudinei Lombardi
www.navegandopublicacoes.net
navegandopubl@gmail.com
Catalogao na Publicao (CIP) elaborada por
Vicente Estevam Junior CRB-8/7122
Apresentao 6
Modo de produo, transformaes do trabalho e educao
em Marx e Engels
Jos Claudinei Lombardi
11
Abordagem histrica da relao trabalho e educao
Olinda Maria Noronha
60
Polticas pblicas francesas: formao profssional conti-
nuada e preveno de riscos profssionais
Pierre Henri Trinquet
82
Formao para o trabalho: histria e mtodo
Lcia Maria Wanderley Neves
Marcela Alejandra Pronko
119
SUMRIO
Mundializao e trabalho: um debate sobre a formao dos
trabalhadores no brasil
Carlos Lucena
Robson Luiz de Frana
Fabiane Santana Previtalli
Adriana Omena
Lzara Cristina da Silva
Lurdes Lucena
162
Discurso sobre a inexorabilidade. FHC anuncia a panaceia
do atual monetarismo vigente no pas
Joo dos Reis Silva Jnior
183
Reforma e qualidade da educao no Brasil
Antnio Bosco de Lima
Mara Rbia Alves Marques
Sarita Medina Silva
Maria Vieira Silva
Gabriel Humberto Munz Palafox
208
Aspectos metodolgicos de mediao em uma poca de
transio
Istvn Mszros
233
O Estado e as polticas educacionais no tempo presente
Entrevista de Michael Apple
284
Sobre os autores 297
E
sta obra o resultado de um conjunto de refexes referen-
ciadas a partir de uma discusso sobre a gnese sociohistrica
do trabalho, seu valor universal para o capital a partir do
modelo imposto pelo capitalismo mundial, bem como, a
roupagem que essas exigncias se impem pela nova base tcnica em
virtude da presena de novas tecnologias microeletrnicas na produo.
Esse fator tem exigido uma participao, na formao do trabalhador/
operrio, cada vez maior por parte da escola e, como consequncia, uma
educao voltada para a subordinao tanto intelectual quanto formal
do trabalhador ao modelo de trabalho e de relaes de trabalho vigentes.
Nessa perspectiva, esse livro aponta para um mapeamento do
trabalho sob os aspectos histricos-sociais, da reforma do estado e da
educao para a formao do trabalhador.
O primeiro texto, da autoria de Jos Claudinei Lombardi Modo
de Produo, Transformaes do Trabalho e Educao em Marx e Engels , basicamente
APRESENTAO
7
Apresentao
evidencia seu entendimento sobre a categoria modo de produo e faz
uma importante articulao terica da educao e do modo capitalista
de produo, buscando entender as implicaes analticas do uso dessa
relao, em Marx e Engels; no que se refere educao, Lombardi
retoma a anlise marxiana a partir da discusso sobre o modo capitalista
de produo.
No segundo captulo, Abordagem Histrica da Relao Trabalho e Educa-
o, Olinda Maria Noronha busca compreender como se do as relaes
estabelecidas entre Trabalho e Educao. A pesquisadora considera que
essas relaes no devem ser tratadas como naturais, ou ainda, sob as
perspectivas essencialista, existencialista ou economicista, mas, do pon-
to de vista histrico, tendo em vista a considerao da prxis humana.
Para ela esse debate, pelo vis histrico, fundamental no contexto do
materialismo histrico-dialtico que no concebe uma discusso entre
Trabalho e Educao de forma dicotmica, porm no contexto das rela-
es histricas construdas e determinantes objetivamente.
O captulo de autoria de Pierre Trinquet Polticas Pblicas Fran-
cesas: formao profssional continuada e preveno de riscos profssionais aborda a
poltica pblica francesa no domnio do trabalho considerada sob o
enfoque de dois eixos: a formao profssional continuada e a preveno
de riscos do trabalho. Parte do prisma de que a formao continuada, na
Frana, pode ser situada no contexto dos domnios social, econmico
e da modernizao das ferramentas de produo. No eixo da proteo
dos riscos do trabalho, sob a gide europeia, as polticas pblicas de
preveno resguardam aspectos bastante especfcos da Frana.
O captulo de Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejan-
dra Pronko, intitulado Formao para o Trabalho: histria e mtodo resultado
da pesquisa Determinantes das mudanas na formao para o trabalho
complexo no Brasil de hoje, desenvolvida com recursos CNPq/Fiocruz
, apresenta uma discusso sobre as mudanas da educao escolar bem
como das polticas educacionais implementadas tanto pelos agentes go-
vernamentais quanto pelos aparelhos privados de hegemonia, culturais
e polticos, para a construo de uma nova sociabilidade conforme os
requisitos do capital em tempo de novo imperialismo.
8
Apresentao
J o captulo de Carlos Lucena, Robson Frana, Fabiane
Santana Previtali, Adriana Omena, Lzara Cristina da Silva e Lurdes
Lucena Mundializao e Trabalho: um debate sobre a formao dos trabalhadores no
Brasil , busca discutir questes relacionadas formao profssional e
ao avano do capitalismo monopolista partindo do vis dialtico en-
tre o trabalho, a formao humana e os complexos processos sociais
presentes na dimenso econmica, poltica e social. Considera que as
polticas pblicas de formao de trabalhadores so infuenciadas pela
diviso internacional do trabalho de maneira a expressar nacionalmen-
te: diferenas e desigualdades, materializao das relaes de poder e
dominao do seu tempo.
Joo dos Reis Silva Jnior, com o capitulo intitulado Discurso
sobre a Inexorabilidade FHC anuncia a panaceia do atual monetarismo vigente no pas,
aborda a reforma do aparelho do Estado bem como a relao entre o
Estado e a sociedade civil e a relao entre os trs poderes do Estado.
Desenvolve uma refexo sobre o desenho da sociedade civil a partir
da interlocuo do Estado, sem a participao dos sindicatos, partidos
polticos, centrais sindicais, movimentos sociais que, por sua vez, rei-
vindicavam no s as polticas de demanda social, mas a participao
na defnio dessas polticas que por sua vez privilegiaram os fundos
calculados segundo a lgica das necessidades da valorao do capital
produtor de valor.
No captulo de autoria de Antnio Bosco de Lima, Mara R-
bia Alves Marques, Sarita Medina Silva, Maria Vieira Silva e Gabriel
Humberto Munz Palafox, que traz como ttulo Reforma e Qualidade da
Educao no Brasil, analisa os elementos da racionalidade da reforma edu-
cacional contempornea, no contexto de ressurgimento do interesse
mundial pela mudana educacional as dcadas de 1980 e 1990 ,
como condio de desenvolvimento econmico, transformao cultural
e solidariedade nacional, nos pases centrais, e de insero no processo
global de desenvolvimento, nos pases perifricos. Considera que nos
anos de 1990
9
Apresentao
[...] emergiu mundialmente uma preocupao em solucio-
nar os dfcits educacionais nos pases em desenvolvimento,
sendo que tal preocupao centralizou discursos em torno do
controle de natalidade, da adequao dos sujeitos aos novos
padres e processos de trabalho e da necessria tolerncia
e convivncia dos povos educados, to necessrios para
o novo milnio; aspectos que sintetizam os princpios e as
diretrizes difundidos pelas agncias internacionais.
Esta linha levou articulao do novo padro de modernizao
ou mudana social, reforma do Estado e reforma educacional.
Na sequncia, Istvn Mszros produz uma profunda refexo
sobre a questo da transio histrica no contexto do capitalismo sob o
enfrentamento de uma concepo intelectualmente coerente e verdadeira-
mente abrangente da mediao. Considera que
[...] impensvel instituir na ordem social estabelecida as mu-
danas qualitativas exigidas sem adotar as formas apropriadas
de mediao prtica que podem fazer historicamente vivel
no futuro nosso ineludvel modo de reproduo sociometa-
blica como seres mediados por si prprios da natureza
que devem assegurar at no mais longo prazo suas condies
de existncia numa interao plenamente adequada com a
natureza.
E para fechar o livro, uma entrevista com Michael Apple, rea-
lizada por ocasio do V Simpsio Internacional O Estado e as Polticas
Educacionais no Tempo Presente, ocorrido na Faculdade de Educao
da Universidade Federal de Uberlndia. Foi conduzida pelas Profas. Dras.
Maria Vieira Silva e Mara Rbia Alves Marques, tendo como tradutor o
Lus Armando Gandin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A transcrio foi feita por Paulo Vinicius Lamana Diniz da Universidade
Federal de Uberlndia. O fo norteador da entrevista considera, princi-
palmente, a questo das polticas curriculares no contexto multicultural,
a partir da teorizao crtica na busca do entendimento sobre as novas
dinmicas sociais, de classe, gnero, gerao e etnia.
10
Apresentao
Essas refexes contribuem fortemente para a ampliao do
debate sobre trabalho, educao e formao profssional no contexto
da formao humana e oferece aos pesquisadores, professores e alunos,
tanto de cursos de graduao como de ps-graduao lato sensu e stricto
sensu, da rea de Cincias Humanas e Sociais, um aporte terico a respei-
to da temtica proposta.
Robson Frana
Universidade Federal de Uberlndia
Vero/2014
1. BURGUESIA E PROLETARIADO: PROPOSTAS
PEDAGGICAS CONTRRIAS
M
arx e Engels jamais tomariam a educao como uma di-
menso estanque e separada da vida econmica e social,
inserindo-a, ao contrrio, no contexto histrico em que
surge e se desenvolve, notadamente nos movimentos
contraditrios que emergem do processo das lutas entre classes e fraes
de classe. Trataram a educao como uma dimenso da vida dos homens
que se transforma historicamente, acompanhando e articulando-se s
transformaes dos modos de produzir a existncia dos homens.
Estudando-se sistematicamente o conjunto da obra de Marx e
Engels, pode-se constatar que as esparsas observaes sobre educao,
ensino e qualifcao profssional esto colocadas no interior da anlise
que fzeram sobre o modo capitalista de produo, juntamente com a
crtica s teorizaes e prticas burguesas, como foi a crtica da eco-
nomia poltica e, antes dela, da flosofa alem e das vrias matizes de
socialismo.
MODO DE PRODUO,
TRANSFORMAES DO
TRABALHO E EDUCAO
EM MARX E ENGELS
Jos Claudinei Lombardi
12
Jos Claudinei Lombardi
J busquei, em trabalho anterior, refetir sobre o carter con-
traditrio da educao e de seu carter classista, ao tratar da educao
implementada na rpida experincia da Comuna de Paris, entendida
como um movimento revolucionrio desencadeado em 1871 pelo
proletariado parisiense. Nesse estudo explicitei o carter contradi-
trio da implantao da educao pblica na Frana revolucionria
(LOMBARDI; SAVIANI; SANFELICE, 2002). Recorri imagem do mo-
vimento do pndulo para tentar explicitar o carter contraditrio do
movimento histrico e das lutas de classes. Em se tratando da confor-
mao e do desenvolvimento da educao capitalista, esta acompanhou
os vaivns da luta entre a burguesia e o proletariado, assumindo as
caractersticas e particularidades prprias dos processos histricos de
cada uma das formaes sociais articuladas na ampla teia de relaes e
divises do trabalho, prprias da gnese e desenvolvimento do modo
capitalista de produo.
Meu entendimento sobre a questo que quando se instauram
processos revolucionrios, nos quais h ampliao da presena e partici-
pao social e poltica do proletariado e das fraes de classes populares,
igualmente avanam as propostas pedaggicas e as formas organizadas
do ensino, adquirindo um carter pblico, gratuito, popular e laico;
quando, em seguida, se reorganiza a burguesia e esta hegemoniza o
poder do Estado, volta a educao a ter um carter dual, com a defesa
de uma educao pblica (mas que na verdade no passa de estatal)
que deve coexistir com escolas privadas nos diferentes nveis escolares,
em que a gratuidade aparece como concesso do Estado aos que no
podem pagar por seus estudos etc. Essa postura da burguesia, passado o
perodo revolucionrio de formao capitalista e viabilizao das con-
dies de acumulao, desde a Revoluo Francesa e a tomada do poder
pela burguesia, passou a ser cada vez mais politicamente reacionria,
mesmo quando travestida da ideologia liberal. (LOMBARDI; SAVIANI;
SANFELICE, 2002)
Esse movimento contraditrio entre burguesia e proletariado,
bem como de suas ressonncias na educao, caracterstica do processo
histrico do modo capitalista de produo, apontado no somente
por marxistas, mas tambm por intelectuais comprometidos com um
13
Jos Claudinei Lombardi
entendimento contextualizado da educao. Entre outros autores, Fran-
co Cambi, em sua Histria da Pedagogia, numa abordagem diferenciada em
relao a que adoto, entende o sculo XIX como aquele caracterizado
pela existncia de uma frontal oposio entre as duas classes fundamen-
tais da sociedade capitalista e que se refetia em todas as dimenses da
vida e organizao da sociedade, seja a econmica, a social, a poltica e a
ideolgica. Cambi enfatiza o confronto entre a burguesia e o proletaria-
do, afrmando que esse embate tambm produziu projetos antagnicos
e radicais no que diz respeito educao e pedagogia. (CAMBI, 1999,
p. 407) Para esse autor, nenhuma regio do planeta fcou livre das pro-
fundas e aceleradas transformaes, ento, em curso. Conservadores,
reformistas e revolucionrios colocavam na educao um papel essencial,
quer para manter o equilbrio e a harmonia social, quer para promover
ajustes que resolvessem disfunes sociais ou mesmo para revolucionar
a ordem existente.
Para Cambi, ao longo do sculo XIX foram redefnidos os
objetivos e os instrumentos da pedagogia, assumindo a educao os
contornos dos embates polticos de ento e, por volta de meados desse
sculo, dois projetos antitticos passaram a se contrapor - o burgus e o
proletrio - correspondendo a dois modelos ideolgica e epistemologi-
camente contrapostos e inspirados, respectivamente, no positivismo e no
socialismo. (CAMBI, 1999, p. 465) Para o autor, essas duas concepes
interpretam a oposio de classe da sociedade capitalista e articulam
dois diferentes e opostos universos de valores e de organizao social,
inclusive no mbito educacional.
A concepo pedaggica burguesa tem sido sistematicamente
tratada e defendida pela intelectualidade orgnica dessa classe. Figuram
entre esses os nomes de Basedow (1723-1790), Filangieri (1752-1788),
Condorcet (1743-1794), Pestalozzi (1746-1827) e Herbart (1776-
1841), certamente os principais propositores de uma nova proposta
pedaggica, adequada burguesia industrial. Em termos pedaggicos,
foi uma poca marcada pela adoo do Mtodo Mtuo (ou Mtodo Monito-
rial), desenvolvido pelo quaker ingls Joseph Lancaster (1778-1838), a
partir do trabalho pedaggico do pastor anglicano Andrew Bell (1753-
1832); e tambm do Mtodo Intuitivo ou Lies de Coisas (SAVIANI, 2006;
14
Jos Claudinei Lombardi
SCHELBAUER et al., 2006), surgido na Alemanha no fnal do sculo
XVIII e divulgado pelos discpulos de Pestalozzi no decorrer do sculo
XIX na Europa e nos Estados Unidos. (SAVIANI, 2007, p. 138) Tambm
fez poca, quando a burguesia est plenamente consolidada e tendendo
ao conservadorismo, as expresses do Positivismo e do Pragmatismo
e o forjamento da Pedagogia Experimental. Bem conhecemos os desdobra-
mentos da perspectiva burguesa, com Dewey (e a Nova Escola) e Norman
Allison Calkins (com uma verso requentada das Lies de Coisas); depois
com Edouard Claparde, Alfred Binet e Thodore Simon; Leon Walter,
Theodore Schultz e Jean Piaget, resultando no sculo XX no Tecnicismo
(Psicologia Experimental, Engenharia Comportamental), a Teoria do Capital Huma-
no e, mais recentemente, no construtivismo.
A profunda crise capitalista, acompanhada de novo revolucio-
nar das foras produtivas, de reorganizao na produo e no trabalho,
tambm gerou na pedagogia as formulaes de Edgar Morin, Emlia
Ferreiro, Jacob Levy Moreno, Philippe Perrenoud e as diversas verses
requentadas e caractersticas da decadncia burguesa como a Pedagogia do
aprender-a-aprender, a Pedagogia das Competncias e que, tal como as entendo,
constituem a expresso educacional do aprofundamento da decadncia
ideolgica burguesa, com a ps-modernidade e a apologia novidadeira,
expressa no Neotecnicismo, Neoescolanovismo, Neoconstrutivismo. De
modo geral, a exposio do contedo da concepo pedaggica burguesa,
entre ns, tem sido analisada por Newton Duarte em uma aguda crtica
ao que ele tem denominado de pedagogias do aprender-a-aprender e
que expressam o amplo leque das perspectivas ideologicamente ligadas
ao liberalismo e sua verso novidadeira: o neoliberalismo. (DUARTE,
2000a; 2000b; 2003) Duarte inclui nesse leque o escolanovismo, o
construtivismo, a Pedagogia das Competncias, a Pedagogia dos Proje-
tos, a Pedagogia do Professor Refexivo etc.
Com relao ao projeto pedaggico socialista, vale lembrar que
este teve incio com as posies do chamado socialismo utpico, no-
tadamente com Fourier e Owen, confuindo para a elaborao de Marx
e Engels, iniciada com a divulgao do Manifesto do Partido Comunista, em
1848. a perspectiva educacional marxianaengelsiana que ser tratada
a seguir.
15
Jos Claudinei Lombardi
2. A CATEGORIA MODO DE PRODUO E O PRINCPIO
DA UNIO ENTRE ENSINO E TRABALHO
A partir de um amplo acerto de contas com suas respectivas
heranas intelectuais, Marx e Engels colocaram centralidade na mate-
rialidade das coisas, em oposio s ideias e ao Esprito, colocando o
homem como demiurgo de sua prpria histria. O pressuposto primei-
ro de que partem que o homem, como um ser real, precisa produzir
sua prpria existncia, bem como garantir a produo material dos bens
que tornem possvel sua vida no meio natural em que vive. O modo
de produo, portanto, foi tomado como uma categoria central para
a explicao da prpria existncia dos homens, bem como de todas as
relaes que estabelecem, com a natureza e com outros homens, de suas
diferentes formas de organizao, de seus pensamentos e teorizaes as
mais diversas, como j explicitado.
Partindo do entendimento da centralidade da categoria modo
de produo, tenho colocado, nas disciplinas e nos seminrios que tenho
realizado na ps-graduao, a necessidade de aprofundamento dessa
discusso, uma vez que tem sido relativamente comum a tnica sobre
outros aspectos e categorias - como o trabalho, o ser social, a cultu-
ra ou a prpria educao. Alm da interlocuo gerada com algumas
dissertaes e teses produzidas, a primeira principal sistematizao foi
para os textos que escrevi para o livro Marxismo e Educao, organizado
por mim e por Dermeval Saviani (LOMBARDI; SAVIANI, 2005), e mais
recentemente das participaes em debates promovidas pelo Grupo de
Estudos e Pesquisas Marxismo, Histria, Tempo Livre e Educao (MHTLE)
1
.
Apresentarei na sequncia como entendo a categoria modo de
produo e, depois, farei a articulao terica da educao e do modo
capitalista de produo, buscando entender as implicaes analticas do
uso dessa relao, em Marx e Engels.
1 O grupo, vinculado Universidade Estadual de Londrina, tem a liderana de Elza Peixoto e Maria
de Ftima Rodrigues Pereira.
16
Jos Claudinei Lombardi
2.1 MODO DE PRODUO COMO CATEGORIA CENTRAL
Para Marx e Engels a categoria modo de produo foi tomada
para se referir materialidade e historicidade da vida social do homem.
isso o que emerge da leitura de A ideologia alem, particularmente a
primeira parte denominada Feuerbach: oposio entre a concepo
materialista e a idealista. (MARX; ENGELS, [s.d.], pp. 11 e ss.] J de
incio Marx e Engels explicitaram as premissas de que partiram, e que
constituem o fundamento da materialidade ontolgica e gnosiolgica,
expostas como segue:
As premissas de que partimos no constituem bases arbitr-
rias, nem dogmas; so antes bases reais de que s possvel
abstrair no mbito da imaginao. As nossas premissas so
os indivduos reais, a sua aco e as suas condies mate-
riais de existncia, quer se trate daquelas que encontrou j
elaboradas quando do seu aparecimento das que ele prprio
criou. Estas bases so portanto verifcveis por vias puramente
empricas. A primeira condio de toda a histria humana
evidentemente a existncia de seres humanos vivos. O pri-
meiro estado real que encontramos ento constitudo pela
complexidade corporal desses indivduos e as relaes a que
ela obriga com o resto da natureza. [...] Toda historiografa
deve necessariamente partir dessas bases naturais e da sua
modifcao provocada pelos homens no decurso da histria.
(MARX; ENGELS, [s.d.], pp. 18-19)
Diversamente dos animais, os homens tm, antes de qualquer
outra coisa, que produzir os meios necessrios ao seu prprio existir.
A produo de sua existncia , assim, o processo pelo qual os homens
produzem sua prpria vida material. O modo de produo , portanto,
a categoria que expressa a prpria materialidade ontolgica da histria
dos homens.
Pode-se referir a conscincia, a religio e tudo o que se quiser
como distino entre os homens e os animais; porm, esta
distino s comea a existir quando os homens iniciam
a produo dos seus meios de vida, passo em frente que
conseqncia da sua organizao corporal. Ao produzirem os
17
Jos Claudinei Lombardi
seus meios de existncia, os homens produzem indiretamente
a sua prpria vida material. A forma como os homens produ-
zem esses meios depende em primeiro lugar da natureza, isto
, dos meios de existncia j elaborados e que lhes necess-
rio reproduzir; mas no deveremos considerar esse modo de
produo deste nico ponto de vista, isto , enquanto mera
reproduo da existncia fsica dos indivduos. Pelo contr-
rio, j constitui um modo determinado de atividade de tais
indivduos, uma forma determinada de manifestar a sua vida,
um modo de vida determinado. A forma como os indivduos
manifestam a sua vida refete muito exatamente aquilo que
so. O que so coincide portanto com a sua produo, isto ,
tanto com aquilo que produzem como com a forma como
produzem. Aquilo que os indivduos so depende portanto
das condies materiais da sua produo. (MARX; ENGELS,
[s.d.], pp. 18-19)
Assim considerado, ao mesmo tempo em que entendem que
o modo como os homens produzem sua existncia (isto , o modo de
produo) uma categoria fundamental, tambm registram que o modo
de produo no deve ser considerado como mera reproduo da exis-
tncia fsica dos indivduos. (MARX; ENGELS, [s.d.]) Trata-se de um
modo determinado de atividade e de manifestao da vida, isto , como
um modo de vida determinado, em que o que se produz indissocivel
da forma como os homens produzem.
Homens determinados, produzindo de modo determinado,
estabelecendo uma teia indissocivel de relaes, como Marx e Engels
teceram teoricamente seu entendimento. Assim, foras produtivas, apro-
priao dos meios de produo, relaes de produo, diviso social
do trabalho, relaes sociais (e estrutura social), relaes polticas (e
Estado), ideias ou representaes (ou conscincia dos homens), ideolo-
gias (como teorizao invertida de um mundo invertido) so categorias
que vo aparecendo teoricamente, dando complexidade contraditria
ao existir social dos homens, desvelando um encadeamento sincrnico
e diacrnico que se expressa como totalidade na categoria modo de
produo.
Isso decorria da perspectiva onto-gnosiolgica de Marx e Engels,
pela qual articularam e pela qual pressupunham no a primazia da ideia,
18
Jos Claudinei Lombardi
do pensamento absoluto que se auto-engendra; no a centralidade sobre
o dito, pensado, teorizado ou documentado pelos homens. preciso,
ao contrrio, partir do processo de vida real, construdo teoricamente
(isto , abstratamente), buscando apreender o viver dos homens, seu
modo de produo, suas relaes naturais e sociais, suas organizaes
e as instituies que as instituem, suas representaes, suas teorizaes.
(MARX; ENGELS, [s.d.], p. 26) Marx e Engels, porm, no tomaram
a categoria modo de produo como uma categoria geral e abstrata,
idealizadora e mistifcadora, a-histrica, mecnica ou determinista. Por
se tratar de uma articulao terica de premissas onto-gnosiolgicas,
fundadas num homem que, cotidiana e historicamente, tem de produ-
zir e reproduzir as condies necessrias sua existncia fsica, social
e espiritual, a concepo resultante tem que apreender o processo de
desenvolvimento real dos homens, realizados sob condies historica-
mente determinadas.
Uma vez feita a aguda crtica s formulaes idealistas, a partir
da crtica Hegel e Escola Hegeliana, a crtica Feuerbach e seu ma-
terialismo fenomnico e a-histrico, afrmaram que era fundamental
a construo de uma perspectiva ao mesmo tempo materialista, dialtica e
histrica.
Marx retomou de modo sistemtico a discusso sobre modo
de produo no Prefcio Crtica da Economia Poltica (MARX, 1983), em
grande medida retomando sinteticamente a discusso feita em A Ideologia
Alem. Tambm os fundamentos dessa viso histrica, com a expresso
terica que deram a ela, foi objeto de anlise de Marx e Engels em v-
rias de suas outras obras. O simples arrolamento dos ttulos de algumas
dessas obras j constitui estmulo para a continuidade dos estudos e
aprofundamento do tema: Formaes econmicas pr-capitalistas (Marx); Origem
da Famlia, da propriedade privada e do Estado (Engels); Sobre o papel do trabalho na
transformao do macaco em Homem (Engels); e, principalmente, a gigantesca
e magna obra de Marx, O Capital.
19
Jos Claudinei Lombardi
2.2 EDUCAO E MODO DE PRODUO CAPITALISTA
Nos dias atuais, bem cabem as crticas de Marx e Engels s
perspectivas que tratam a educao contemporaneamente, quais sejam:
como uma ideia que paira sobre nossas cabeas, iluminando nossos
destinos; como uma expresso de pensamentos e ideias de sujeitos mais
ou menos ilustres e que marcam toda a educao de uma poca; como
discurso articulado e passvel de conhecimento; como memria; como
fenmeno empiricamente observvel etc.
Ao contrrio dessas abordagens, as observaes j elencadas de
Marx e Engels com relao s tradies flosfcas alems, objeto da
cida e satrica crtica que produziram como acerto de contas com a
trajetria anterior, permitem buscar um entendimento materialmente
determinado, histrico, contraditrio, objetivamente apreensvel en-
quanto concreto pensado.
A educao um campo da atividade humana e os profssionais
da educao no construram esse campo segundo ideias prprias, mas
em conformidade com condies materiais e objetivas, correspondendo
s foras produtivas e relaes de produo adequadas aos diferentes
modos e organizaes da produo, historicamente construdas pelos
homens e particularmente consolidadas nas mais diferentes formaes
sociais.
A discusso da educao a partir de sua articulao com o modo
capitalista de produo, na obra marxiana e engelsiana, expressa trs movi-
mentos articulados (ou indissociveis):
1. Possibilita uma profunda crtica do ensino burgus;
2. Traz tona como, sob as condies contraditrias desse
modo de produo, se d a educao do proletariado,
abrindo perspectivas para uma educao diferenciada, ain-
da sob a hegemonia burguesa;
3. Contraditoriamente, a crtica do ensino burgus e o des-
velamento da educao realizada para o proletariado torna
possvel delinear as premissas gerais da educao do fu-
20
Jos Claudinei Lombardi
turo; no como utopia, mas como projeto estratgico em
processo de construo pelo proletariado.
Marx e Engels insistiram, em praticamente todas as obras,
quanto a necessria articulao entre trabalho produtivo e formao
intelectual, entendendo que esta relao deveria ser aberta a todos os
educandos, e no somente aos flhos dos trabalhadores. Parece haver
relativo consenso de que essa anlise marxista expressa que trabalho e
educao so atividades especifcamente humanas, no sentido de que
apenas o ser humano trabalha e educa. (SAVIANI, 2007, p. 152) Mas
essa articulao entre trabalho e educao, teoricamente, tratada por
Marx e Engels, em A Ideologia Alem, a partir do entendimento do trabalho
como um modo de ser do homem, como meio de produzir sua pr-
pria existncia. Expressavam com isso que, diferentemente dos animais,
que no mais fazem do que se adaptar natureza, os homens que a
ajustavam e a transformavam adequando-a s suas necessidades. O ato
de agir sobre a natureza transformando-a em funo das necessidades
humanas o que conhecemos pelo nome de trabalho. Podemos, pois,
dizer que a essncia do homem o trabalho. Mas o sentido marxista de
essncia humana no o da metafsica: como o conjunto das propriedades
imutveis e eternas do homem, como algo dado ao homem, uma ddiva
divina ou natural. Ao contrrio, a essncia humana usada no sentido
de caracterstica fundamental dos homens, sendo esta produzida pelos
prprios homens. O que o homem , o pelo trabalho. A essncia do
homem um feito humano. um trabalho que se desenvolve, se apro-
funda e se complexifca ao longo do tempo: um processo histrico.
, portanto, na existncia efetiva dos homens, nas contradies
de seu movimento real, e no em uma essncia externa a essa existncia,
que se descobre o que o homem : tal e como os indivduos mani-
festam sua vida, assim so. O que so coincide, por conseguinte, com
sua produo, tanto com o que produzem como com o modo como
produzem. (MARX; ENGELS, [s.d.], pp. 18-19)
21
Jos Claudinei Lombardi
2.3 PRINCPIO DA UNIO ENTRE ENSINO E TRABALHO
No simples defnir o conceito marxiano de trabalho, como
trabalho produtivo, pois uma expresso usada em duas acepes:
por um lado, o termo designa todo e qualquer trabalho que tenha por
resultado um produto. Por outro lado, porm, o termo tambm usado
para se referir ao trabalho realizado nas condies particulares da produ-
o capitalista. Como o objetivo do capital a obteno do lucro, sendo
sua lgica a da acumulao desse lucro, o trabalho tomado como uma
mercadoria que capaz de produzir um valor muito maior do que o
que lhe pago, um valor excedente, uma mais-valia.
Na primeira acepo, o trabalho diz respeito ao meio geral
de reproduo da vida humana e, na segunda, traduz as condies
especfcas em que o trabalho se realiza sob a gide do capital. Para
Nogueira, quando Marx e Engels falam de coordenao dos estudos
com o trabalho produtivo, empregam o conceito de trabalho em seu
sentido geral e no para se referir ao trabalho sob o capitalismo. Seu
entendimento est baseado em duas ordens de razes: por um lado,
a unio do ensino e do trabalho deveria, no entender de Marx e Engels,
corroborar com a derrubada das condies capitalistas de explorao;
por outro, a ideia de unio do ensino com a produo usa vrias ex-
presses para trabalho produtivo, como trabalho fsico, trabalho
manual, trabalho fabril, produo material, e que apontam para
o sentido geral da noo de trabalho. (NOGUEIRA, 1990, pp. 90-91)
Penso que Marx e Engels no tratavam o trabalho como uma
categoria abstrata, mas o entendiam a partir das condies em que se
realizava no modo capitalista de produo. Mas concordo com Noguei-
ra, quando afrma que trataram da unio entre educao e trabalho na
perspectiva de superao da explorao capitalista e, portanto, como
um meio para a formao inalienada e revolucionria dos flhos da
classe trabalhadora. Marx e Engels efetivamente defenderam a insero
dos educandos na produo material, no contexto e nas condies da
produo e no na perspectiva de a escola recriar, imitativamente, o
mundo da produo. isso, em linha gerais, o que est contido nas
22
Jos Claudinei Lombardi
Instrues aos Delegados do Conselho Central Provisrio. As Diferentes
Questes (MARX, 1982a), onde Marx recomenda que a instruo das
crianas deveria ser iniciada antes dos nove anos, considerando as reais
condies de vida dos operrios. Como a utilizao do trabalho infantil
era uma prtica usual, pressupunham a articulao do ensino com o
trabalho remunerado, com os exerccios corporais e a aprendizagem
politcnica. Essa educao deveria incluir formao geral e formao
cientfca necessria compreenso de todo o processo de produo e,
ao mesmo tempo, iniciar as crianas e jovens no manejo das ferramentas
dos diversos ramos industriais. (MARX; ENGELS, 1983, p. 60) A educa-
o dos jovens deveria ser dada dos 9 aos 18 anos, cobrindo a formao
intelectual, corporal e politcnica; sendo as escolas politcnicas man-
tidas, em parte, com a venda de seus prprios produtos. Defendia-se,
pois, que:
Esta combinao do trabalho produtivo pago com a educao
mental, os exerccios corporais e a aprendizagem politcnica,
elevar a classe operria bem acima do nvel das classes bur-
guesa e aristocrtica. (MARX; ENGELS, 1983, p. 60)
Para Marx e Engels a expropriao dos saberes e conhecimentos
tcnicos dos trabalhadores deu-se pela crescente introduo da diviso
do trabalho na produo, culminando com a separao do trabalho
manual e do trabalho intelectual, resultado da separao dos trabalha-
dores dos instrumentos de trabalho, das matrias-primas e, enfm, dos
prprios produtos produzidos. A revoluo era para eles o caminho para
a superao das condies de vida e explorao do trabalho pelo capi-
tal, com a superao da estrutura de classes burguesa e de uma diviso
social e tcnica do trabalho que separa e aliena o trabalhador dos meios,
processos e resultados da produo.
23
Jos Claudinei Lombardi
3. ANLISE MARXIANA SOBRE EDUCAO NO MODO
CAPITALISTA DE PRODUO
Gostaria de iniciar esta incurso, relembrando que a anlise
marxiana sobre a educao tratada no interior e a partir do modo ca-
pitalista de produo, como processo articulado s relaes de produo
capitalista. Apesar dos vrios estudos existentes sobre o assunto, consi-
dero necessrio reforar que a problemtica educacional no tratada
em si mesma, mas parte integrante do quadro terico fundamental da
anlise de Marx sobre o processo de subordinao do trabalho ao capi-
tal. Nessa perspectiva, pensar historicamente a educao acompanhar
o prprio processo de transformao das relaes fundamentais desse
modo de produo.
Invertendo a ordem de exposio feita por Marx no Livro Primei-
ro de O Capital, que comea pela mercadoria e fecha com a acumulao
primitiva de capital e a teoria moderna da colonizao, o entendimento
sobre o processo histrico de aparecimento e transformao do modo
capitalista de produo me leva exposio das origens da acumulao
e, subsequentemente, a tratar a transformao das diferentes formas
histricas da acumulao capitalista.
Como dialeticamente um novo modo de produo engen-
drado no seio do modo de produo e reproduo que lhe era anterior,
comeo por tratar sobre a transio do Feudalismo ao Capitalismo,
caracterizado por Marx como de acumulao primitiva de capital. Na
sequncia do texto, analiso o processo de transformao das relaes
fundamentais do modo capitalista de produo, exposta por Marx na
quarta parte de O Capital, A produo da mais-valia relativa, na qual
o autor se dedica ao estudo da constituio do modo capitalista de
produo. A partir das formas elementares do processo de produo,
ele aborda as metamorfoses sofridas pelo trabalho ao se subordinar ao
capital. Tratando as diferentes formas histricas que o capital engendrou
para produzir mais-valia, Marx examina cada uma das diferentes for-
mas historicamente produzidas, a saber: a cooperao, a manufatura e a
grande indstria.
24
Jos Claudinei Lombardi
Esse processo foi, fundamentalmente, de separao do traba-
lhador de seus meios de produo, no mbito do trabalho, como bem
destaca Nogueira (1990, p. 94), foi marcado pela separao das ativi-
dades de concepo daquelas de execuo e que, j estando presente
nas formas mais elementares da cooperao simples e da manufatura,
s encontrou sua forma caracterstica com a mecanizao da produo.
3.1 A ACUMULAO PRIMITIVA DE CAPITAL
A transio do feudalismo ao capitalismo foi o longo perodo
em que a desagregao do modo de produo feudal foi se dando con-
comitantemente produo das relaes capitalistas, em que o velho
modo de produo ainda no tinha morrido e as novas relaes do
novo modo de produo estavam sendo gestadas. Esse longo perodo
foi caracterizado, por Marx, como de acumulao primitiva de capital,
j fundado numa economia mercantil, em que a produo se destinava
a trocas e no apenas ao uso imediato.
Esse processo tratado por Marx na ltima parte do Livro Pri-
meiro de O Capital, a stima parte, dedicada anlise da acumulao de
capital. Nesse captulo Marx reafrma o pressuposto de que, para existir,
o homem tem que produzir as condies de sua existncia, tem que
produzir e consumir os bens que so necessrios vida. (MARX, 1982b)
Constituindo-se o capital numa relao social, na qual o dinheiro
usado para valorizao, para produzir mais capital, era preciso encon-
trar os meios e condies necessrias que possibilitassem a acumulao
capitalista. Foi preciso um longo processo para que ocorressem as trans-
formaes necessrias que possibilitassem a acumulao capitalista; foi
necessria uma acumulao primitiva de capital. Foram processos em
que a autossufcincia do feudo rompeu-se, desde meados do sculo XII,
impulsionada pelas inovaes tcnicas na agricultura, pelo crescimento
populacional e renascimento urbano. Foi um perodo de transio em
que os ltimos sculos medievais caracterizaram, simultaneamente, a
dissoluo do sistema feudal e a formao do sistema capitalista.
25
Jos Claudinei Lombardi
Esse processo foi explicado pela burguesia de modo idlico e
mtico, pelo qual justifcavam ideologicamente a apropriao privada e
a explorao do trabalho do homem pelo homem. Marx diz que, para
tanto, a idlica economia poltica recorreu ao Velho Testamento que ex-
plica que Abrao gerou Isaac, Isaac gerou Jac etc. (MARX, 1982b,
p. 215), pelo qual os corifeus da economia poltica explicam a origem
do capital primitivo. Para estes, o possuidor de capital o obteve, origi-
nalmente, com seu prprio trabalho e o de seus antepassados. (MARX,
1982b, pp. 215-216)
Foi um processo que correspondeu, historicamente, ao duplo
e simultneo movimento de transformao social que resultou: a) na
transformao dos meios sociais de existncia e de produo em capital,
originando-se tambm a formao do capitalista; b) na dissociao dos
trabalhadores dos meios de produo, processo no qual o trabalhador
foi obrigado a vender sua fora de trabalho para sobreviver, surgindo
trabalhadores livres, assalariados, para os quais s restou o cuidado com
seus prprios flhos (sua prole, da proletariado). Tratava-se de um
mesmo e nico processo contraditrio que teve suas razes na sujeio
do trabalhador e que era, ao mesmo tempo, a transformao da explo-
rao feudal em capitalista. (MARX, 1982b, p. 341)
Essa histria marcada pelas transformaes que serviram de
alavanca nascente classe capitalista, principalmente pela expropriao
do trabalhador rural, do campons, que fcou privado do acesso terra,
meio fundamental para que produzisse e reproduzisse sua prpria exis-
tncia. Uma vez expropriado o campons, era necessrio submet-lo
e coloc-lo disposio da manufatura nascente ou da explorao ca-
pitalista da terra. Como o capital no tinha como empregar a massa
de trabalhadores expropriados, no mesmo ritmo em que ocorria sua
expulso, os que no encontravam emprego acabavam se transformando
em mendigos, ladres e vagabundos que perambulavam pelas estradas
e periferias, garantindo como era possvel os meios necessrios para a
sobrevivncia.
Com o desenvolvimento da produo capitalista e da produo
de uma superpopulao relativa, no sem contradies, as relaes de
trabalho passaram a ser marcadas pela lei da oferta e da procura de
26
Jos Claudinei Lombardi
trabalho. Para que se chegasse a esse ponto foi necessrio o desenvolvi-
mento de uma classe trabalhadora que aceitava as exigncias do modo
capitalista de produo como leis naturais evidentes, para o que concor-
reu a educao, a tradio e o costume:
Na evoluo da produo capitalista, desenvolve-se uma classe
de trabalhadores que, por educao, tradio, costume, reco-
nhece as exigncias daquele modo de produo como leis
naturais evidentes. A organizao do processo capitalista de
produo plenamente constitudo quebra toda a resistncia,
a constante produo de uma superpopulao mantm a lei
da oferta e da procura de trabalho e, portanto, o salrio em
trilhos adequados s necessidades de valorizao do capital,
e a muda coao das condies econmicas sela o domnio
do capitalista sobre o trabalhador. Violncia extra-econmica
direta ainda, verdade, empregada, mas apenas excepcio-
nalmente. (MARX, 1996, Tomo 2, pp. 358-359)
Como em poucas oportunidades da obra, claramente apareceu
na elaborao terica marxiana sobre a transio do feudalismo para o
capitalismo, como parte dos processos e instrumentos de acumulao
primitiva de capital, a educao e a mudana nos costumes e nas tra-
dies como importante meio para o desenvolvimento de uma classe
trabalhadora que aceitasse a explorao capitalista como lei natural
evidente. Mesmo estando a anlise voltada para o desvelamento das trans-
formaes histricas que conduziram constituio do capital como
relao social hegemnica, trata-se de uma observao interessante e
que registra o entendimento de Marx da educao como instrumento
de mudana ideolgica e comportamental, pela qual os trabalhadores
eram levados aceitao e naturalizao de normas, padres e valores
da sociedade capitalista.
No mesmo e contraditrio processo em que se deu a formao
do proletariado, no qual os camponeses foram transformados em traba-
lhadores livres, submetidos a uma disciplina sanguinria, com uma
srdida ao do soberano e do Estado que possibilitou e elevou o grau
de explorao do trabalho, se originaram os capitalistas. Foram vrias as
transformaes econmicas e sociais que resultaram na burguesia, com
suas vrias fraes de classe, entre as quais Marx analisa detidamente as
27
Jos Claudinei Lombardi
transformaes ocorridas no campo, como a gnese do arrendatrio ca-
pitalista (MARX, 1982b, p. 363), as repercusses da revoluo agrcola
na indstria e a formao do mercado para o capital industrial (MARX,
1982b, p. 365); a formao do capitalista industrial (MARX, 1982b, p.
369), processo no qual se deu a formao do capital e sua ampliao, e
que foi alavancado por poderosos mecanismos como o sistema colonial,
o sistema das dvidas pblicas, o sistema tributrio e o sistema prote-
cionista.
3.2 DIVISO DO TRABALHO, COOPERAO E
MANUFATURA
Para Marx a produo capitalista s teve incio quando um
mesmo capital ocupou, simultaneamente um nmero considervel de
trabalhadores, quando o processo de trabalho ampliou sua escala e for-
neceu produtos em maior quantidade. Para Marx, o incio da produo
capitalista, quando considerada lgica e historicamente, ocorreu quando
a produo de mercadorias se deu sob o comando do mesmo capita-
lista, que empregou um grande nmero de trabalhadores, ocupados ao
mesmo tempo e no mesmo espao, ou no mesmo ramo de atividade.
(MARX, 1996, Tomo 1, p. 438)
No comeo, a diferena entre a produo manufatureira e a
produo artesanal das corporaes quase no existia, sendo puramente
quantitativa. Essa primeira forma de manufatura apenas ocupava, sob o
comando de um mesmo capital, um maior nmero de trabalhadores.
Aparentemente era uma diferena apenas quantitativa, pois aparenta ser
mera questo de quantidade se trabalham para o capital um ou mil
trabalhadores, pois a acumulao do capital se d pela apropriao da
mais-valia produzida pelo trabalho. Para alm da aparncia, observa Marx
que, dentro de certos limites, ocorreu uma modifcao fundamental
nas condies materiais do processo de trabalho. A citao de Marx
lapidar para caracterizar a transformao ocorrida:
28
Jos Claudinei Lombardi
Mesmo no se alterando o modo de trabalho, o emprego
simultneo de um nmero relativamente grande de traba-
lhadores efetua uma revoluo nas condies objetivas do
processo de trabalho. Edifcios em que muitos trabalham,
depsitos para matria-prima etc., recipientes, instrumentos,
aparelhos etc., que servem a muitos simultnea ou alternada-
mente, em suma, uma parte dos meios de produo agora
consumida em comum no processo de trabalho. [...] Essa eco-
nomia no emprego dos meios de produo decorre apenas de
seu consumo coletivo no processo de trabalho de muitos. E
eles adquirem esse carter de condies do trabalho social ou
condies sociais do trabalho em contraste com os meios de
produo dispersos e relativamente custosos de trabalhadores
autnomos isolados ou pequenos patres, mesmo quando os
muitos apenas trabalham no mesmo local, sem colaborar en-
tre si. Parte dos meios de trabalho adquire esse carter social
antes que o prprio processo de trabalho o adquira. (MARX,
1996, Tomo 1, pp. 441-442)
A revoluo capitalista da produo foi analisada por Marx
em dois captulos, no XI onde tratou sobre a cooperao simples e no
XII onde se deteve sobre a manufatura. Essa dupla formao, tal como
explorada teoricamente por Marx, que sistematizarei em seguida,
focando a cooperao simples e a manufatura propriamente dita e, ao
fnal, analisando as implicaes que a diviso do trabalho e a manufatura
tiveram para a educao e para o ensino.
a. A Cooperao Simples
evidente que, para Marx, houve uma verdadeira revoluo
na produo, com a transformao do trabalho isolado em trabalho so-
cial, realizado graas cooperao dos trabalhadores, caracterstica que
distingue a produo artesanal daquela realizada sob um modo especi-
fcamente capitalista de produzir. Essa caracterstica levou Marx a usar
uma nova categoria de anlise para expressar lgica e historicamente
esse primeiro momento do capitalismo: cooperao.
Marx caracteriza, portanto, a cooperao simples como uma fora
coletiva de trabalho em que, sob o comando do capitalista, muitos tra-
29
Jos Claudinei Lombardi
balhadores cooperam e se completam para a execuo da mesma tarefa
ou de tarefas da mesma espcie. (MARX, 1982b, p. 444) A escala da
produo e a explorao do trabalho foram necessrias para liberar o
mestre arteso do trabalho manual, transformando uns em empregados
assalariados e outros em empregadores capitalistas. Da mesma forma,
separando o trabalho manual (o fazer) do trabalho intelectual (o saber).
Depois de consolidada a diviso entre trabalho manual e traba-
lho intelectual (planejamento e direo), na mesma medida em que a
produo se ampliava, ocorreu uma nova diviso entre capital e trabalho,
pela qual o capitalista se liberava da superviso direta e contnua dos
trabalhadores, entregando-a a um tipo especial de trabalhador (um ca-
pataz), assumindo o capitalista o comando do conjunto das atividades
econmicas necessrias mxima valorizao do capital.
Desde seus primrdios, portanto, com a cooperao simples,
acompanhando a reorganizao classista da sociedade, com a confor-
mao do trabalhador assalariado e o capitalista, houve uma recriao
da diviso entre trabalho manual e trabalho intelectual que, gradativa-
mente, implicou na crescente perda de controle do trabalhador sobre a
produo e, no mesmo movimento, tambm se recriou, sob o controle
do capital, a diviso entre concepo e execuo, com a introduo da
necessria organizao que garantisse a explorao da mais valia e, as-
sim, fosse possvel a explorao do trabalho e a consequente ampliao
do capital.
b. A Manufatura
Esse processo de separao entre trabalho e capital que, na
produo, se caracterizava pela separao entre concepo e execuo, foi
aprofundado na manufatura, quando a cooperao fundada na diviso
do trabalho adquire sua forma clssica. (MARX, 1996, Tomo 1, p. 452)
Com a perda do controle da produo e graas introduo da divi-
so do trabalho, o trabalhador passou a executar uma nica operao,
transformando todo o seu corpo em rgo automtico unilateral dessa
operao, reduzindo o tempo necessrio para sua realizao, quando
30
Jos Claudinei Lombardi
comparado ao tempo que o arteso tinha que executar toda a srie de
diferentes operaes. O mecanismo produtivo da manufatura era, com
isso, o trabalhador coletivo combinado que, alm de reduzir o tempo
necessrio de produo, tambm tornou o aprendizado das tcnicas
produtivas um resultado da convivncia coletiva.
Os saberes implicados na produo, antes sob o controle do
mestre arteso, acabaram apropriados pelo capital e passaram a ser parte
integrante da prpria manufatura. A manufatura passou a incorporar a
habilidade e a virtuosidade do trabalhador, ao reproduzir na ofcina a
especializao dos ofcios. (MARX, 1982b, p. 456) Entretanto, isso no
se deu para aliviar o trabalhador de atividades pesadas ou degradantes,
mas para que o capital se apropriasse do acrscimo de produtividade do
trabalho.
Com a manufatura, a racionalizao do tempo de trabalho
necessrio produo, implementada com a diviso de trabalho, bem
como a reduo do tempo necessrio produo das mercadorias, alm
de depender da virtuosidade do trabalho, tambm dependia das ferra-
mentas utilizadas. Comparando o artesanato com a manufatura, a anlise
marxiana enftica em afrmar que o perodo manufatureiro teve que
simplifcar, aperfeioar e diversifcar as ferramentas, adequando-as s
necessidades de um trabalhador organizado coletivamente para a pro-
duo, mas individual e parcial na realizao de seu trabalho.
A diviso do trabalho representou na manufatura um colossal
desenvolvimento das foras produtivas, uma vez que a introduo de
mquinas se deu de maneira espordica, sobretudo para certos pro-
cessos iniciais simples que tm de ser executados maciamente e com
grande emprego de fora, como era o caso da triturao de trapos por
meio de moinhos de papel na manufatura de papel, e dos moinhos de
piles para a fragmentao de minrios na metalurgia. (MARX, 1982b,
p. 464)
No artesanato, o produtor reunia em si mesmo os conheci-
mentos, a virtuosidade, as habilidades, a destreza e a fora necessria
produo. Como o arteso tinha que dominar o conjunto dos conhe-
cimentos e habilidades necessrias ao seu ofcio, se constituindo num
31
Jos Claudinei Lombardi
trabalhador polivalente e politcnico, a manufatura introduziu, com a
diviso do trabalho, foras de trabalho que, por natureza, s so aptas
para funes especfcas unilaterais, rearticuladas no trabalhador cole-
tivo, sob controle do capital.
Com a unilateralidade exigida do trabalhador manufatureiro,
o capital, ao introduzir diferentes funes no trabalhado coletivo, es-
tabeleceu uma hierarquia na organizao do trabalho, qual tambm
correspondeu uma escala de salrios. As diferentes funes do trabalha-
dor coletivo podiam ser mais simples ou mais complexas, mais baixas
ou mais elevadas, exigindo-se diferentes graus de formao para o
desenvolvimento das foras individuais de trabalho. (MARX, 1982b,
p. 465)
Com a manufatura ocorreu, assim, um aprofundamento da
ciso entre trabalho qualifcado e no qualifcado, criando uma diviso
entre trabalho manual e trabalho intelectual. Aprofundando ainda mais
a diviso do trabalho, o controle capitalista da produo possibilitou a
utilizao dos trabalhadores no qualifcados na manufatura, neles de-
senvolvendo uma especialidade unilateral, reduzindo ainda mais o valor
da fora de trabalho, pela reduo com custos de aprendizagem e, com
isso, ampliando a parte de mais-valia aproprivel pelo capital.
Considerando que a manufatura operou uma revoluo no
modo de trabalhar do indivduo, quando comparada cooperao sim-
ples, Marx enfaticamente afrmou que, com isso, a fora individual de
trabalho foi apoderada profundamente pelo capital, levando o trabalha-
dor a artifcialmente desenvolver uma habilidade parcial, deformadora
do trabalhador, provocadora de monstruosos aleijamentos
2
, enfm con-
vertendo o trabalhador numa anomalia.
Ela aleija o trabalhador convertendo-o numa anomalia, ao
fomentar artifcialmente sua habilidade no pormenor me-
diante a represso de um mundo de impulsos e capacidades
produtivas [...]. Os trabalhos parciais especfcos so no s
distribudos entre os diversos indivduos, mas o prprio indi-
vduo dividido e transformado no motor automtico de um
2 Aqui estou usando os termos da traduo para o portugus feita por Reginaldo SantAnna, editado
pela Difel (MARX, 1982b, Livro 1, volume 1, p. 413)
32
Jos Claudinei Lombardi
trabalho parcial, tornando assim a fbula insossa de Menenius
Agrippa, segundo a qual um ser humano representado
como mero fragmento de seu prprio corpo, realidade. Se
o trabalhador originalmente vendeu sua fora de trabalho ao
capital, por lhe faltarem os meios materiais para a produo
de uma mercadoria, agora sua fora individual de trabalho
deixa de cumprir seu servio se no estiver vendida ao capital.
Ela apenas funciona numa conexo que existe somente depois
de sua venda, na ofcina do capitalista. (MARX, 1996, Tomo
1, p. 474-475)
A profunda diviso que o capital imps sobre o trabalho, nas
condies de produo manufatureira, deformando e fragmentando o
trabalhador, foi resultado da revoluo manufatureira do trabalho e esta
estava baseada na diviso que introduziu na produo a oposio entre
trabalho intelectual e trabalho manual, aprofundada com a transforma-
o da cincia em fora produtiva independente, a servio do capital.
O controle do capital sobre a produo, originado da diviso
e apropriao pelo capital dos conhecimentos necessrios produo,
e da apropriao da cincia e sua transformao em fora produtiva,
sob controle do capital, deu-se na manufatura de modo limitado,
enriquecendo o trabalhador coletivo de foras produtivas sociais, mas
deformando e empobrecendo o trabalhador individual, submetido ig-
norncia e superstio. Exatamente ao discutir essas questes, Marx
registrou as observaes de Adam Smith sobre a diviso do trabalho e,
como o trabalhador no tinha oportunidade de exercitar a inteligncia,
aparecia a consequente ignorncia e estupidez do trabalhador. Citando
Smith, observa Marx que a habilidade do trabalhador em seu ofcio
particular parece adquirida custa de suas virtudes intelectuais [...] esse
o estado no qual tem de cair o pobre que trabalha. (MARX, 1982b,
p. 476) Completa com a conhecida afrmao de Marx sobre a perspec-
tiva educacional de Adam Smith, contestada at por seu tradutor:
A fm de evitar a degenerao completa da massa do povo,
originada pela diviso do trabalho, A. Smith recomenda o
ensino popular pelo Estado, embora em doses prudentemente
homeopticas. Seu tradutor e comentarista francs, G. Garnier,
que no primeiro imprio francs metamorfoseou-se em sena-
33
Jos Claudinei Lombardi
dor, polemiza conseqentemente contra essa idia. O ensino
popular contraria as leis primordiais da diviso do trabalho e
com ele se proscreveria todo o nosso sistema social. (MARX,
1996, Tomo 1, p. 476)
As bases sobre as quais se assentava a diviso manufatureira do
trabalho, conforme Marx, s poderia ter se dado sob a forma especif-
camente capitalista, no passando de um mtodo especial de produzir
mais-valia relativa ou aumentar a autovalorizao do capital [...] custa
dos trabalhadores. (MARX, 1996, Tomo 1, p. 478) Entretanto, no que
diz respeito s bases tcnicas de produo, com a manufatura o processo
de trabalho no sofreu transformaes profundas.
Entre os vrios entraves ao pleno desenvolvimento da produo
capitalista, Marx foi explcito em apontar os custos decorrentes da longa
formao do trabalhador. Em pleno perodo manufatureiro, e que exigia
o treinamento do trabalhador para executar operaes parcelares, estava
em vigor na Inglaterra, ento principal centro de desenvolvimento capi-
talista, leis de aprendizagem que estabeleciam sete anos de formao
e que representava, para a poca, a continuidade da longa formao
exigida no artesanato.
Mas o estreito fundamento tcnico da produo manufatureira,
ao atingir certo grau de desenvolvimento [...] entrou em contradio
com as necessidades de produo que ela mesma criou; da ofcina para
a produo dos prprios instrumentos de trabalho, resultou a produo
das mquinas e estas levaram superao da atividade artesanal como
princpio regulador da produo social. Com isso, por um lado, foi
removido o motivo tcnico da anexao do trabalhador a uma funo
parcial; por outro, caram as barreiras que o mesmo princpio impu-
nha ao domnio do capital. (MARX, 1996, Tomo 1, p. 482)
3.3 MAQUINARIA E GRANDE INDSTRIA
A introduo e generalizao das mquinas signifcou uma
profunda alterao da base tcnica da produo (NOGUEIRA, 1990,
p. 97), que em seus processos fundamentais foi designado como
34
Jos Claudinei Lombardi
Revoluo Industrial pela historiografa. A indstria moderna e sua
base tcnica de produo a maquinaria constituram-se em pode-
roso meio de valorizao do capital, elevando a capacidade de gerar
mais-valia, atravs do aumento da produtividade e da intensidade do
trabalho. Comparando a manufatura e a grande indstria, Marx se ex-
pressou afrmando que na manufatura o revolucionamento do modo
de produo toma [...] como ponto de partida a fora de trabalho; na
grande indstria, o meio de trabalho. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 7)
As transformaes na produo, possibilitadas pela introduo
das mquinas no processo produtivo, permitiram a emancipao da
produo dos limites colocados pela fora humana. Uma vez desenca-
deado o processo de desenvolvimento da maquinaria, o resultado foi
a ampliao crescente da escala da produo que, concomitantemente,
ampliava a independncia em relao aos limites da fora humana.
A introduo da maquinaria foi fundamental para acelerar a
transformao do processo produtivo, do controle individual e subjetivo
(caracterstico do artesanato) para outra organizao em que predomina
a objetividade, na qual o controle e a velocidade da produo passam a
ser exercidas pela mquina. Com isso, o trabalhador teve que se adaptar
ao processo produtivo, e no ao contrrio, como ocorria na manufatura.
A revoluo operada pela maquinaria logo se expandiu de um ramo
para outro, at atingir todos os ramos industriais, inclusive aquele res-
ponsvel por produzir mquinas.
A introduo da maquinaria que conduziu necessidade de
produzir mquinas por meio de mquinas (MARX, 1996, Tomo 2,
p. 19) levou substituio da fora humana por fora motriz inde-
pendente da fora natural do homem, da rotina emprica aplicao
consciente da cincia, a articulao subjetiva do processo de trabalho
por outra objetiva, a diviso do trabalho fundada na cooperao simples
pela cooperao coletiva como imposio tcnica da produo. A ma-
quinaria, resultado da incorporao da cincia e tecnologia como fora
produtiva, acaba sendo extremamente compensadora ao capital, j que
torna o trabalho nela incorporado praticamente gratuito, como se fosse
uma fora natural.
35
Jos Claudinei Lombardi
Aps analisar a revoluo que a maquinaria promoveu sobre
o trabalho, Marx passou a analisar as consequncias da introduo da
maquinaria sobre o prprio trabalhador. Em linhas gerais, respondia
aos questionamentos que ento eram feitos sobre as consequncias da
produo mecanizada no trabalhador. Organizou a exposio em trs
pontos e, em cada um deles, foi analisando as consequncias, quer con-
siderado individualmente, quer enquanto classe, a saber: a) ocupao
de foras de trabalho suplementares; b) o prolongamento da jornada
de trabalho; c) a intensifcao do trabalho. No que diz respeito
apropriao das foras de trabalho suplementares pelo capital, a an-
lise de Marx o levou a concluir que, com a introduo da maquinaria,
foi possvel o emprego de trabalhadores sem fora muscular ou com
desenvolvimento fsico incompleto. O resultado foi o emprego, pelo
capitalista, do trabalho de mulheres e crianas, aumentando o nmero
de assalariados e colocando todos os membros da famlia para trabalhar.
(MARX, 1996, Tomo 2, pp. 28 e ss.)
[...] a maquinaria torna a fora muscular dispensvel, ela se
torna o meio de utilizar trabalhadores sem fora muscular
ou com desenvolvimento corporal imaturo, mas com mem-
bros de maior fexibilidade. Por isso, o trabalho de mulheres
e de crianas foi a primeira palavra-de-ordem da aplicao
capitalista da maquinaria! Com isso, esse poderoso meio de
substituir trabalho e trabalhadores transformou-se rapida-
mente num meio de aumentar o nmero de assalariados,
colocando todos os membros da famlia dos trabalhadores,
sem distino de sexo nem idade, sob o comando imediato
do capital. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 28)
Com tintas fortes, Marx narra o envolvimento de toda a famlia
pelo trabalhador, que antes vendia somente sua prpria fora de traba-
lho, agora vende mulher e flho, que na prtica tornou-se mercador
de escravos. Citando passagens dos Reports dos inspetores de fbrica, da
Childrens Employment Commission e, notadamente, nos Reports on Public Health,
Marx demonstra que apesar da existncia de uma lei fabril limitando a
quantidade de horas e a idade das crianas para o trabalho, na prtica
no era cumprida. No s crianas eram vendidas como escravas ao
capitalista, pelos pais ou outros agentes de assistncia social, como cres-
36
Jos Claudinei Lombardi
ciam os maus tratos s crianas nos lares, a falta de cuidados bsicos, a
ausncia de alimentao, elevando-se o ndice de mortalidade infantil
devido ausncia da fgura feminina no lar. Mercado pblico de criana,
uso dessas como mquinas vivas para limpar chamins, maus tratos
aos flhos, uso de narcticos e infanticdio eram prticas que se alastra-
vam onde o capital penetrava e transformava rapidamente a vida social.
(MARX, 1996, Tomo 2, p.29)
As cores fortes tambm aparecem nas observaes sobre os
efeitos intelectuais do trabalho fabril sobre as crianas e adolescentes.
Marx entendia que o trabalho fabril promovia uma devastao inte-
lectual nos imaturos, artifcialmente produzida pela transformao
de pessoas imaturas em meras mquinas de produo de mais-valia.
Diferentemente da preguia ou da ignorncia natural, essa devastao
afetava a prpria capacidade de desenvolvimento, sua prpria fecundi-
dade natural. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 33)
Essa obliterao do esprito obrigou o Parlamento ingls a
fazer do ensino primrio a condio legal para o uso produtivo de
crianas com menos de 14 anos. (MARX, 1996, Tomo 2) precisa
a observao de Roger Dangeville que essa obrigatoriedade do ensino
primrio foi arrancada com grande luta pelos trabalhadores, quer pe-
las suas reivindicaes econmicas [...], quer pelas suas reivindicaes
polticas, no sendo, entretanto, mais que expresso do corolrio do
sufrgio universal. (MARX e ENGELS, 1978, p. 65, nota 12) A citao do
trecho de um relatrio de um dos inspetores de fbrica, Leonard Hor-
nes, de abril de 1857, feita por Marx ilustra essas observaes, na qual
o fabricante chamado de usurio da criana e que nada o obriga a
cumprir a exigncia de escolaridade:
Apenas o Legislativo para ser culpado por ter passado uma
lei ilusria (delusive law) que, sob a aparncia de providenciar
educao para as crianas, no contm nenhum dispositivo
pelo qual esse pretenso objetivo possa ser assegurado. Nada
determina, exceto que as crianas devam ser encerradas por
determinado nmero de horas (3 horas) por dia dentro das
quatro paredes de um local, chamado de escola, e que o usu-
37
Jos Claudinei Lombardi
rio da criana deva receber semanalmente um certifcado a
respeito de uma pessoa que lhe ape o nome como professor
ou professora. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 33)
Essa citao seguida da observao de que, antes da lei fabril
de 1844, no eram raros os casos de certifcados de frequncia escola,
subscritos com uma cruz por professores que eram analfabetos. A par-
tir da lei de 1844, os certifcados tinham que ser subscritos, de prprio
punho, pelo mestre-escola, buscando-se com isso equacionar ou ao
menos minimizar a situao. Marx cita outros trechos de relatrios de
1855, 1857 e 1858 para mostrar que aps mais de uma dcada e meia
a situao no havia se resolvido: a ignorncia dos mestres-escolas, a
incapacidade destes para lecionar, a baixa remunerao que recebiam, as
precrias condies das instalaes, o mobilirio inadequado e a carn-
cia de livros e material didtico, o efeito deprimente das escolas que
no passavam de lugares com atmosfera fechada e ftida
3
.
Ao visitar uma dessas escolas expedidoras de certifcados
fquei to chocado com a ignorncia do mestre-escola que
lhe disse: Por favor, o senhor sabe ler? Sua resposta foi: Ah!
algo (summat). E, como justifcativa, acrescentou: De todos os
modos, estou frente de meus alunos. (MARX, 1996, Tomo
2, p. 33-34)
A primeira escola que visitamos era mantida por uma Mrs.
Ann Killin. Quando lhe pedi para soletrar o sobrenome, ela
logo cometeu um erro ao comear com a letra C, mas, corri-
gindo-se imediatamente, disse que seu sobrenome comeava
com K. Olhando sua assinatura nos livros de assentamentos
escolares, reparei que ela o escrevia de vrios modos, en-
quanto sua letra no deixava nenhuma dvida quanto a sua
incapacidade para lecionar. Ela mesma tambm reconheceu
que no sabia manter o registro. [...] Numa segunda escola,
encontrei uma sala de aula de 15 ps de comprimento e 10
ps de largura e nesse espao contei 75 crianas que estavam
grunhindo algo ininteligvel. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 34)
3 Lendo, vendo pelos meios multimdias, ou ouvindo relatos de professores e alunos, no difcil
dar-se conta de que, no havendo superao do modo capitalista de produo, a educao dispensada
aos trabalhadores continua a padecer dos mesmos males. Por isso mesmo, qualquer semelhana com os
problemas educacionais do presente, no mera semelhana.
38
Jos Claudinei Lombardi
No , porm, apenas nessas covas lamentveis que as crianas
recebem certifcados escolares mas nenhuma instruo, pois,
em muitas escolas onde o professor competente, os esforos
dele so de pouca valia em face do amontoado atordoante
de crianas de todas as idades, a partir de 3 anos. Sua receita,
msera no melhor dos casos, depende totalmente do nmero
de pence, recebidos do maior nmero possvel de crianas que
seja possvel empilhar num quarto. A isso acresce o parco mo-
bilirio escolar, carncia de livros e outros materiais didticos,
bem como o efeito deprimente, sobre as pobres crianas,
de uma atmosfera fechada e ftida. Estive em muitas dessas
escolas, onde vi sries inteiras de crianas no fazendo abso-
lutamente nada: e isso certifcado como freqncia escolar
e, na estatstica ofcial, tais crianas fguram como tendo sido
educadas (educated). (MARX, 1996, Tomo 2, pp. 33-34)
Marx concluiu o item dedicado anlise da apropriao pelo
capital do trabalho das mulheres e crianas realando que, alm dos
efeitos assinalados, este teve outro papel de fundamental importncia
para o capital:
Com a adio preponderante de crianas e mulheres ao pes-
soal de trabalho combinado, a maquinaria quebra fnalmente
a resistncia que o trabalhador masculino ainda opunha na
manufatura ao despotismo do capital. (MARX, 1996, Tomo
2, p. 36)
A quebra da resistncia do trabalhador masculino resultava no
refuxo, ao menos momentneo, da luta do movimento proletrio por
melhores condies de vida e de trabalho, condio fundamental para
alavancar as lutas polticas mais amplas.
A situao em que, teoricamente, se deu a opo da burguesia em
introduzir a maquinaria, analisada por Marx que denotou a intencio-
nalidade desta classe em manter e ampliar as condies de acumulao.
O aumento da velocidade e da jornada do trabalho humano signifca que
ampliou a prpria intensidade. Quando no era mais possvel ampliar a
mais-valia absoluta, pelo aumento da grandeza extensiva do trabalho,
a maquinaria possibilitou ao capital a converso da grandeza extensiva
em grandeza intensiva ou de grau. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 42)
39
Jos Claudinei Lombardi
Baseando-se nos relatrios dos inspetores de fbrica, Marx res-
saltou que, apesar de se louvar os resultados favorveis das leis fabris de
1844 e 1850, a intensifcao do trabalho foi destruidora da sade dos
trabalhadores e, portanto, da prpria fora de trabalho. A legislao
fabril no representou concesso alguma ao trabalhador, pois da parte
da burguesia, uma vez que o prolongamento da jornada de trabalho
foi defnitivamente vedado por lei, ela buscou ressarcir-se mediante
sistemtica elevao do grau de intensidade do trabalho e transformar
todo aperfeioamento da maquinaria num meio de exaurir ainda mais a
fora de trabalho. (MARX, 1996, Tomo 2)
Aps delinear as principais consequncias da produo me-
canizada sobre o trabalhador, Marx passou a ocupar-se com a fbrica
em seu conjunto e na forma como ento se encontrava. Com a fbrica
superou-se a diviso manufatureira do trabalho, substituindo a hierar-
quia de trabalhadores especializados (caracterstica da manufatura), pela
tendncia em igualar os trabalhos que os operadores executavam nas
mquinas. Isso decorre da transferncia da habilidade e virtuosidade do
trabalhador para a mquina.
No cho da fbrica fcavam (fcam) os trabalhadores efetiva-
mente ocupados com as mquinas-ferramentas, acrescidos de ajudantes
para vigiar ou ento alimentar a mquina-motriz (quase exclusivamente
crianas); alm desses havia (h) um pessoal numericamente insigni-
fcante, ocupados com o controle do conjunto da maquinaria e com
sua constante reparao como engenheiros, mecnicos, marcenei-
ros etc. era () uma classe mais elevada de trabalhadores e que
tinham formao cientfca ou tcnica condizente com o trabalho que
executavam. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 54)
Dessa diviso tcnica do trabalho tambm decorreu a diviso na
aprendizagem e no sistema educacional (ou formativo) em diferentes
nveis, visando formar as geraes de trabalhadores necessrios ao tra-
balho fabril e para os diferentes setores da economia. Numa sociedade
com classes e fraes de classes diferenciadas, tambm a educao era
() adequada a essa estrutura e organizao econmica e social, com
tantas e quantas educaes quantas as classes e fraes de classes a que
se destinam.
40
Jos Claudinei Lombardi
Para o exerccio do trabalho fabril a aprendizagem tinha que
comear desde a infncia, para que o trabalhador adaptasse seu pr-
prio movimento ao movimento uniforme e contnuo de um autmato.
(MARX, 1996, Tomo 2, p. 54) O trabalho com a mquina implicava
adequao ao movimento uniforme da mquina, ao ritmo e velocida-
de de produo imposto pela mesma. O trabalho com a mquina no
impunha nenhuma exigncia em termos de aprendizagem, apesar do
disciplinamento e da exigncia legal para tanto.
Como o movimento agora no parte mais do trabalhador, mas
da mquina, pode-se mudar o empregado a qualquer momento, sem
interromper o processo de trabalho. Na manufatura e no artesanato o
trabalhador se servia da ferramenta; na fbrica ele serve mquina. Na
manufatura, os trabalhadores eram membros de um mecanismo vivo; na
fbrica, eles se tornam complementos vivos de um mecanismo morto
que existe independente dele.
Nas condies de uma produo automatizada, com total sepa-
rao entre trabalho intelectual e trabalho manual, a educao passa a
ser um tema ideolgico e politicamente apreciado pelos burgueses que,
enfaticamente, propugnam pela necessidade de educao profssional
para os trabalhadores. Marx fez importante anotao sobre isso, num
manuscrito anexo obra Trabalho Assalariado e Capital, de 1849, intitulado
O Salrio, enfatizando a necessidade de realar a contradio existente
na indstria moderna que cada vez mais substitui trabalho complexo
por trabalho simples. No plano educacional essa contradio se expres-
sa pela exigncia burguesa de ampliao da educao profssional dos
trabalhadores, quando no h necessidade de qualquer formao,
em decorrncia da simplifcao do trabalho. (MARX; ENGELS, 1978,
p. 74) A ampliao da escolaridade no somente insignifcante para
a empregabilidade (como se diria atualmente) do trabalhador, como
tambm no exerce infuncia direta ou indireta sobre o seu salrio, mas
essa educao somente tem a funo de formao moral, pela qual se
transmite os princpios burgueses.
A ampliao da escolaridade, realizada atravs de um ensino
cada vez mais especializado, centrado em minsculos campos, mesmo
que aparentemente politcnico, no amplia o saber do trabalhador, mas
41
Jos Claudinei Lombardi
contribui fortemente para tornar seu saber fragmentado, ampliando a
subordinao do trabalho ao capital, ao mesmo tempo em que refora a
ideologizao burguesa, que culpabiliza o prprio trabalhador por sua
trgica situao.
Mas a subordinao do trabalho ao capital, radicalizado e apro-
fundado com a maquinaria e a grande indstria, no foi absoluta ou
amainou a luta entre trabalhadores e burgueses. Trata-se de uma luta
histrica que remonta origem do modo capitalista de produo, pas-
sando por formas e contedos diferenciados.
A luta do trabalhador contra os meios de produo percorreu
quase toda a Europa durante o sculo XVII at o sculo XIX, haja vista
que a mquina tornou-se no s uma concorrente do trabalhador, mas
uma forma usada pelo capital para abolir as revoltas e greves dos traba-
lhadores. A mquina era usada pelo capital como meio para neutralizar
a luta de classes.
Os economistas burgueses, entretanto, afrmam que a maquina-
ria, em si mesma, no o problema e que as consequncias decorrentes
de sua aplicao so inevitveis. Marx habilmente observa que esses eco-
nomistas no veem outra aplicao para a maquinaria, seno a capitalista.
No h dvida de que a introduo e expanso da maquinaria leva a um
decrscimo no s relativo, mas absoluto, do nmero de trabalhadores
empregados. preciso enfatizar, entretanto, que Marx, apesar de enten-
der a questo do desenvolvimento da mquina como um progresso,
enftico quanto ao carter de classe da cincia e da tecnologia, des-
velando o comprometimento do desenvolvimento da maquinaria com
o capital. Uma vez iniciado o processo de desenvolvimento do modo
capitalista de produo, tendo a produo mecanizada plenamente se
instalado, o capital expande-se em escala crescente, de um ramo para
outro, da indstria para a agricultura, de um pas para outro, ampliando
a capacidade de acumulao e possibilitando o aumento da produo,
aos saltos. A ampliao das relaes capitalistas em escala internacional
acaba por criar uma diviso internacional do trabalho, transformando
parte do globo em campo de produo agrcola (de matrias-primas) e
outro de produo industrial.
42
Jos Claudinei Lombardi
A mquina e a grande indstria foram desenvolvimentos do
(para e pelo) capital e a fnalidade precpua foi expandir o sistema de
explorao e de acumulao aos saltos. Uma vez instaurado o processo,
foi absorvendo e penetrando em todos os setores e em todos os can-
tos do planeta, at fatiar o globo em conformidade com os interesses
da acumulao capitalista e com uma diviso do trabalho que ultra-
passa todas as barreiras da antiga diviso manufatureira do trabalho,
tornando-se internacional. Mas essa transformao no se deu sem que,
rapidamente, se manifestassem as profundas contradies entre as foras
produtivas que se desenvolviam e exigiam uma produo crescente-
mente social, coletiva, e as relaes de produo que tinham um carter
privado, restritivo. Como essa contradio fundamental no se resolve,
o capitalismo passou a conviver com um movimento cclico, com crises
cada vez mais profundas.
Esse movimento cclico impe maior desenvolvimento da
maquinaria, de sua aplicao capitalista, gerando um movimento
contraditrio, com etapas subsequentes de repulso e de atrao dos
trabalhadores das fbricas. Esse movimento contraditrio gerado em
grande medida pela alternncia de momentos de prosperidade e mo-
mentos de crise.
Aps traar as disposies sobre higiene, caracterizadas como
extremamente pobres, permitindo ao capitalista burl-las e, mais que
isso, tornar as prprias doenas dela decorrentes em condio necess-
ria existncia do capital, Marx teceu algumas consideraes sobre as
disposies dessa legislao quanto educao. Para o autor de O Capital,
as disposies da lei fabril relativas educao fzeram da instruo pri-
mria condio obrigatria para o trabalho infantil. (MARX; ENGELS,
1978, pp. 109-111) Para alm da obrigatoriedade legal, que como j
registrado anteriormente, resultava na construo de uma inefciente
organizao escolar com pssimas instalaes, com mobilirio precrio
e inadequado e mestres despreparados e at mesmo analfabetos, Marx
indica que, contraditoriamente, foram as prprias condies de desen-
volvimento do capitalismo que colocaram a possibilidade e a importncia
de conjugar instruo, ginstica e trabalho manual. Para demonstrar esse
seu entendimento, Marx tomou depoimentos de mestres-escolas, conti-
43
Jos Claudinei Lombardi
dos nos relatrios dos inspetores de fbrica, mostrando que as crianas
trabalhadoras, embora s tivessem meio perodo de frequncia escolar,
aprendiam tanto ou mais que os alunos regulares que tinham frequncia
integral. Vale a pena a citao:
Os inspetores de fbrica logo descobriram, por depoimentos
de mestres-escolas, que as crianas de fbricas, embora s
gozem de metade do ensino oferecido aos alunos regulares
de dia inteiro, aprendem tanto e muitas vezes at mais.
A coisa simples. Aqueles que s permanecem metade do dia
na escola esto sempre lpidos e quase sempre dispostos e
desejosos de receber instruo. O sistema de metade trabalho
e metade escola faz de cada uma dessas atividades descanso e
recreao em relao outra e conseqentemente muito mais
adequadas para a criana do que a continuidade ininterrupta
de uma das duas. Um garoto que desde manh cedo fca sen-
tado na escola no pode concorrer, especialmente quando faz
calor, com outro que chega lpido e fagueiro de seu trabalho.
(MARX, 1996, Tomo 2, p. 111-112)
Essa situao no decorria de ddiva da burguesia ou de seus
representantes legislativos ou executivos, mas como uma exigncia do
prprio desenvolvimento da indstria moderna que, ao atingir certo
nvel, transforma os espritos mediante o revolucionamento do modo
de produo material e das relaes sociais de produo. (MARX,
1996, Tomo 2, p. 112, nota de rodap 285) Essa observao decorreu
de anlise feita por Nassau William Senior, no 7. Congresso Anual da
National Association for the Promotion of Social Science, realizado em Edimburgo,
em 1863, que era de opinio que
[...] a jornada escolar unilateral, improdutiva e prolongada
das crianas das classes alta e mdia aumentava inutilmente o
trabalho dos professores, enquanto desperdia tempo, sade
e energia das crianas no s de modo infrutfero, mas abso-
lutamente prejudicial. (MARX, 1996, Tomo 2, p. 112)
Era assim que Marx caracterizava a educao burguesa: uma
educao unilateral, improdutiva e prolongada, que aumentava inutil-
mente o trabalho docente e desperdiava tempo, sade e energia das
44
Jos Claudinei Lombardi
crianas. Mas, expressando as contradies decorrentes das lutas entre as
classes bsicas da sociedade capitalista, do prprio sistema fabril emer-
gia o germe da educao do futuro e que, diferentemente da educao
burguesa, conjugaria o trabalho produtivo, com o ensino e a ginstica.
Essa educao omnilateral era como que uma resposta do proletariado
diviso do trabalho implementada pela forma capitalista da indstria
moderna e que transformou o trabalhador em mero acessrio da m-
quina. Na fbrica moderna a maquinaria impe ao trabalhador, desde
a mais tenra idade, a repetio de operaes extremamente simples e
que no exigem ou resultam em nenhum aprendizado ou instruo, s
a repetio de tarefas rotineiras no ritmo imposto pela mquina. Marx
exemplifca essa situao com o trabalho nas tipografas inglesas, na ma-
nufatura e depois da introduo da mquina impressora. Na manufatura
o aprendiz passava por todas as etapas do trabalho, do mais simples ao
mais complexo, e saber ler e escrever era uma exigncia do ofcio; com
a mquina passou-se a empregar dois tipos de trabalhadores: um adulto
para supervisionar o trabalho da mquina, e jovens e crianas para o
trabalho manual - como alimentar a mquina e retirar o impresso -, a
escolarizao no era necessria, sendo prefervel fcarem embrutecidos
ou at mesmo serem defcientes ou anormais.
Essa necessidade de educao dos trabalhadores, gerada pelo
prprio capital, carrega um elemento contraditrio e transformador da
sociedade:
Um momento, espontaneamente desenvolvido com base na
grande indstria [...] so as escolas politcnicas e agronmi-
cas, outro so as coles denseignement professionnel, em que flhos de
trabalhadores recebem alguma instruo de tecnologia e de
manejo prtico dos diferentes instrumentos de produo. Se
a legislao fabril, como primeira concesso penosamente ar-
rancada ao capital, s conjuga ensino elementar com trabalho
fabril, no h dvida de que a inevitvel conquista do poder
poltico pela classe operria h de conquistar tambm para o
ensino terico e prtico da tecnologia seu lugar nas escolas
dos trabalhadores. Mas tampouco h dvida de que a forma
capitalista de produo e as condies econmicas dos tra-
balhadores que lhe correspondem esto na contradio mais
diametral com tais fermentos revolucionrios e seu objetivo,
45
Jos Claudinei Lombardi
a superao da antiga diviso do trabalho. O desenvolvimento
das contradies de uma forma histrica de produo , no
entanto, o nico caminho histrico de sua dissoluo e estru-
turao de uma nova. (MARX, 1996, Tomo 2, p.116)
Foi o prprio desenvolvimento capitalista, portanto, que criou
as escolas tcnicas para produzir os trabalhadores necessrios e adequa-
dos ao desenvolvimento tcnico do capitalismo, conjugando trabalho
fabril com ensino elementar. Essa foi a condio para os trabalhadores
desenvolverem um germe da educao futura e que articular trabalho
produtivo com ensino e ginstica, como nico mtodo de produzir
seres humanos desenvolvidos em todas as dimenses. (MARX, 1996,
Tomo 2) Essa educao politcnica e de formao omnilateral somente
ser efetivamente conquistada quando o proletariado conquistar o poder
poltico. Isso no signifca que sob as condies econmicas, sociais e
polticas da forma capitalista de produo no haja possibilidade de, con-
traditoriamente, se avanar na construo dos germes dessa educao do
futuro. Ao contrrio, no entendimento de Marx, ela tambm condio
para aguar as prprias contradies, na medida em que contribui para
a formao de trabalhadores mais conscientes e menos alienados. Uma
educao que, superando a diviso entre trabalho manual e intelectual,
entre saber e fazer, entre trabalho, instruo e ginstica, volte-se para a
formao integral do homem.
Mas no se pense que h ingenuidade nessas observaes.
Apesar da possibilidade de se avanar na direo de uma educao agu-
adora das contradies, recorrendo-se a outras obras pode-se constatar
anlises crticas menos otimistas de Marx e Engels sobre a educao
dos trabalhadores e as escolas profssionais. Um bom exemplo a
carta de Engels a uma antiga professora de ensino profssional russa,
Gorbunova-Kablukova
4
, de 22 de julho de 1880. Afrmando que discu-
4 Em nota de rodap, Dangeville esclarece o leitor sobre a correspondente russa de Engels, a professora
Gorbunova-Kablukova: A correspondente russa de Engels, antiga professora da escola profssional de
Moscovo, dirigira-se no incio de Julho de 1880 a Engels a fm de lhe colocar a questo de saber quais
podiam ser o papel e o futuro das escolas profssionais na Rssia da poca, e quais deviam ser os meios
a utilizar para combinar os grandes empreendimentos nascentes com as condies sociais dos campos
russos, onde predominava a indstria domstica. A correspondente de Engels queria, no tanto em teo-
ria como na prtica, fazer alguma coisa neste domnio para os trabalhadores russos, a fm de lhes evitar
as torturas inteis da fase da acumulao primitiva. (MARX; ENGELS, 1978, p. 75, nota 28)
46
Jos Claudinei Lombardi
tiu a questo com Marx, considera que a melhor fonte de pesquisa sobre
o sistema escolar profssional ingls eram os relatrios ofciais, pois
toda a literatura no ofcial tende quase exclusivamente para pintar de
cor-de-rosa o sistema existente, quando no para fazer o reclame desta
ou daquela charlatanice. (MARX; ENGELS, 1978, p. 75) Referindo-se
educao industrial da juventude, Engels afrma que estava desprezada, na
maior parte das vezes no passando de pura fachada, constituindo-se, na
maior parte das vezes em uma espcie de casas de correo para onde
se mandam as crianas abandonadas durante alguns anos na sequn-
cia de um julgamento em tribunal. As escolas de promoo para os
operrios adultos tinham as mesmas caractersticas que as anteriores,
sendo que as excees resultavam das circunstncias e do trabalho de
personalidades particulares, constituindo-se em instituies locais e
temporrias. Engels foi taxativo em sua avaliao sobre o ensino pro-
fssional: No se pratica, neste domnio, seno uma coisa, de maneira
sistemtica: a charlatanice. (MARX; ENGELS, 1978, p.76)
Certamente que, da poca de Marx e Engels atualidade, o
sistema educacional tcnico para a juventude deu um salto quantitativo
estupendo, em todo o mundo; igualmente ocorreram avanos qualita-
tivos, acompanhando o desenvolvimento das foras produtivas e que
exige, em nveis ampliados, a formao de tcnicos e tecnlogos numa
escala adequada transformao produtiva. Mas com relao aos cursos
de qualifcao profssional, voltados ao que se convencionou denomi-
nar de reciclagem dos trabalhadores desempregados, no outra a
viso que tenho nos dias de hoje: em sua maior parte no passam de
charlatanice.
4. MARX E ENGELS: FUNDAMENTOS DA PROPOSTA
PEDAGGICA COMUNISTA
Marx e Engels no fzeram uma exposio sistemtica sobre a
escola e a educao, j enfatizado neste texto. Ao contrrio de terem pro-
duzido uma teoria pedaggica, as posies que foram desenvolvendo
encontram-se diludas ao longo de toda a vasta obra que produziram.
47
Jos Claudinei Lombardi
Encontramos entre os estudiosos da educao socialista um esforo de
organizao e sistematizao das referncias de Marx e Engels a respeito
da educao e da escola, e que se encontram no conjunto do seu pensa-
mento sobre a economia, a sociedade e a poltica.
Algumas publicaes so elucidativas desse esforo e tiveram,
no Brasil, grande importncia para os estudiosos marxistas da educa-
o. So conhecidos entre ns alguns estudos, tais como o do flsofo
polons Bogdan Suchodolski, que se ocupou em construir uma teoria
pedaggica de acordo com as exigncias e tarefas de uma revoluo
socialista. Em meados da dcada de 1960, o pedagogo italiano Mrio
Alighiero Manacorda se props a fazer uma leitura rigorosa dos textos
de Marx e de Engels sobre a educao, colocando-se como questo a
existncia e a confgurao de uma pedagogia marxiana.
Em meados da dcada de 1970 surgiu uma antologia de textos
de Marx e Engels sobre a educao e o ensino organizada pelo francs
Roger Dangeville, que escreveu uma apresentao na qual situou a
existncia de uma educao comunista nos quadros tericos do mar-
xismo; ademais, cada um dos textos vem acompanhado de comentrios
do organizador, sob a forma de Notas. A antologia de Dangeville foi
publicada em francs em 1976 e traduzida e publicada em portugus
em abril de 1978, recebendo o ttulo de Crtica da Educao e Ensino. Entre
ns tambm conhecido o livro Educao, saber e produo em Marx e Engels,
publicado no Brasil em 1990 e que resultou da tese de doutoramento
de Maria Alice Nogueira, defendida na Universidade de Paris V, em de-
zembro de 1986, no qual a autora se prope o estudo de Marx e Engels
com o objetivo de explicitar o contedo e o signifcado das concepes
educacionais que decorrem da extensa obra desses autores.
Segundo meu entendimento, Suchodolski, Manacorda, Dan-
geville e Nogueira articulam seus escritos partindo do pressuposto de
que existe uma pedagogia marxiana que, acrescida da contribuio de
outros tericos e educadores, conformam uma pedagogia marxista. Em
linhas gerais, os trabalhos publicados por esses autores possibilitam
organizar a contribuio marxiana educao em trs grandes aspectos
ou direes:
48
Jos Claudinei Lombardi
1. Crtica educao, ao ensino e qualifcao profssional burguesa. Ana-
logamente crtica da economia poltica, Marx e Engels
tambm dirigiram ao ensino burgus uma aguda e pro-
funda crtica, desnudando a relao entre a educao e as
condies de vida das classes fundamentais da sociedade
burguesa;
2. Relao do proletariado com a Cincia, a cultura e a educao. O trata-
mento de Marx e Engels dado problemtica da relao do
proletariado com a cultura e a cincia, explicitava como
entendiam a cincia a servio do capital, o processo de
alienao resultante do processo de trabalho industrial e o
aparelhamento burgus da escola, bem como a importn-
cia da educao para a formao da conscincia;
3. Educao comunista e formao integral do homem a educao
como articuladora do fazer e do pensar a superao do
monotcnico pelo politcnico. A concepo educacional
marxiana/engelsiana tinha como ponto de partida a crtica
a sociedade burguesa, a proclamao da necessria supe-
rao dessa mesma sociedade e como ponto de chegada
a constituio do reino da liberdade. Com a instaurao
do comunismo a educao estar a servio do homem e,
rearticulando o trabalho manual e a atividade intelectual,
dever voltar-se plenamente formao integral do ho-
mem.
Penso que o pressuposto de Marx e Engels sobre a educao,
que interessa aos trabalhadores partidrios do comunismo, encontra-se
sistematicamente exposto no prprio Manifesto Comunista, escrito entre
1847 e 1848, s vsperas de junho 1848 quando Paris viu a primeira
revoluo proletria. Entre as medidas que o proletariado poderia co-
locar em prtica ao assumir o poder, Marx e Engels assim redigiram o
dcimo e ltimo item: Educao pblica e gratuita de todas as crianas,
abolio do trabalho das crianas nas fbricas, tal como praticado hoje.
Combinao da educao com a produo material etc.. (MARX; EN-
GELS, [s.d.], Volume 1, p. 37)
49
Jos Claudinei Lombardi
A concepo de instruo marxiana delineada de forma ex-
plcita e detalhada nas Instrues aos delegados ao I Congresso da Internacional dos
Trabalhadores, que se realizou em Genebra em setembro de 1866. Nesse
texto, Marx considera como sendo uma tendncia da indstria moderna
a colaborao de crianas e adolescentes de ambos os sexos na produ-
o, entendendo que esse um processo legtimo e saudvel, desde
que acontea de modo adequado s foras infantis. (MARX, 1982a,
p. 59) Crtico da violenta explorao do trabalho infantil em atividades
econmicas no campo e na cidade, notadamente na indstria, Marx
recomendou, entretanto, que a partir dos nove anos qualquer criana
deveria participar do trabalho produtivo e trabalhar no somente com
o crebro mas tambm com as mos. A explorao nociva sade de
crianas e adolescentes dessa faixa de idade, entretanto, deveria ser se-
veramente proibida por lei. Essa questo tratei de modo mais alongado
anteriormente, mas importante salientar que Marx no est a defender
a explorao do trabalho infantil. Seu entendimento que o trabalho
deveria comear desde a infncia, articuladamente com o ensino, os
exerccios fsicos e o tempo livre. Tendo conhecimento da experincia
educacional levada frente por Owen, bem como outras iniciativas
educacionais, Marx defendeu a combinao da educao com o tra-
balho, inclusive por consider-lo como fundamental para a existncia
econmica, social, psicolgica e moral do homem em qualquer idade,
pois o homem no nasce pronto e acabado, mas faz-se homem (vai se
humanizando) desde a infncia at a velhice.
Defendendo a combinao entre trabalho produtivo e educao,
Marx assim precisou a sua concepo de instruo:
Por instruo ns entendemos trs coisas:
1. Educao intelectual.
2. Educao corporal, tal como a que se consegue com os
exerccios de ginstica e militares.
3. Educao tecnolgica, que recolhe os princpios gerais e
de carter cientfco de todo o processo de produo e, ao
mesmo tempo, inicia as crianas e os adolescentes no manejo
de ferramentas elementares dos diversos ramos industriais.
50
Jos Claudinei Lombardi
diviso das crianas e adolescentes em trs categorias, de
nove a dezoito anos, deve corresponder um curso gradua-
do e progressivo para sua educao intelectual, corporal e
politcnica. Os gastos com tais escolas politcnicas sero par-
cialmente cobertos com a venda de seus prprios produtos.
Esta combinao de trabalho produtivo pago com a educao
intelectual, os exerccios corporais e a formao politcnica
elevar a classe operria acima das classes burguesa e aristo-
crtica. (MARX, 1983, p. 60)
Os fundamentos dessa educao omnilateral e politcnica era uma
decorrncia da prpria transformao da indstria que constantemen-
te revoluciona as bases tcnicas da produo e com ela a diviso do
trabalho. Articulando o desenvolvimento das foras produtivas com a
implementao de transformaes nas bases tcnicas de produo, cujas
dimenses promovem transformaes na diviso do trabalho, que
Marx vislumbrou uma educao mais ampla, integral e fexvel:
Por meio da maquinaria, dos processos qumicos e de outros
modos, a indstria moderna transforma continuamente, com
a base tcnica da produo, as funes dos trabalhadores e
as combinaes sociais do processo de trabalho. Com isso,
revoluciona constantemente a diviso do trabalho dentro
da sociedade e lana ininterruptamente massas de capital e
massas de trabalhadores de um ramo de produo para outro.
Exige, por sua natureza, variao no trabalho, isto , fuidez
das funes, mobilidade do trabalho em todos os sentidos.
(MARX, 1982, pp. 557-558)
Como se constata, portanto, a necessidade de uma educao
fexvel foi uma decorrncia do desenvolvimento da indstria. Foi o
colossal desenvolvimento da indstria que determinou a transformao
de todo o aparato escolar, at ento dominado pela educao familiar,
gremial e religiosa. As transformaes desencadeadas pela Revoluo In-
dustrial e o desenvolvimento terico do liberalismo foram responsveis
pelas proclamaes de pensadores liberais que atribuam educao e ao
conhecimento a responsabilidade de criar condies de igualdade entre
todos os cidados. nesse contexto que verifcamos a institucionaliza-
51
Jos Claudinei Lombardi
o e a ampliao do aparato escolar, como destacado na Introduo
aos Textos sobre Educao e Ensino, de Marx e Engels.
A institucionalizao e necessidade de ampliao do aparato
escolar, porm, levou-o a depender crescentemente do Estado, sob a
justifcativa liberal de que a educao deveria ser considerada como uma
necessidade social, um direito de todos os cidados. Marx e Engels no
duvidavam que era necessrio s instituies pblicas se responsabili-
zarem pela educao. Eles repudiavam o controle que o Estado exercia
sobre ela, j que esse repdio era a forma de impedir que a burguesia
contasse, alm dos outros poderes de que j dispunha, de todo o aparato
escolar posto a seu servio.
As posies de Marx e Engels sobre o controle estatal da edu-
cao fcam claramente expressas a partir da discusso na Associao
Internacional dos Trabalhadores, em uma interveno em duas reunies
de seu Conselho Geral, em que estava em pauta a discusso acerca das
difculdades relacionadas ao sistema de ensino e se o mesmo deveria ser
pblico ou privado. Da Exposio nas Sees dos dias 10 e 17 de agos-
to de 1869 no Conselho Geral da AIT consta que Marx, analisando o
exemplo dos Estados Unidos da Amrica, se posicionou com relao ao
controle estatal da educao, bem como ao direcionamento ideolgico
do contedo educacional pelo partido ou por qualquer classe. O texto
do posicionamento de Marx elucidativo e sobremaneira atual sobre o
sistema de ensino:
O cidado Marx afrma que uma difculdade de ndole par-
ticular est ligada a esta questo. Por um lado, necessrio
modifcar as condies sociais para criar um novo sistema
de ensino; por outro, falta um sistema de ensino novo para
poder modifcar as condies atuais. Conseqentemente,
necessrio partir da situao atual.
O Congresso da AIT colocou a questo se o ensino deve ser
estatal ou privado. Por ensino estatal entende-se aquele que
est sob o controle do Estado. [...]
O ensino pode ser estatal, sem fcar sob o controle do governo
[...]. Sem a menor dvida, o congresso pode decidir que o
ensino seja obrigatrio. [...]
52
Jos Claudinei Lombardi
Os proudhonianos afrmam que o ensino gratuito um ab-
surdo, posto que o Estado deve pagar. evidente que um ou
outro ter de pagar, porm no necessrio que sejam os
que menos podem faz-lo. O ensino superior no deve ser
gratuito. [...]
A discusso avanou aps a proposta de ratifcar a resoluo do
Congresso de Genebra, que exige a combinao do trabalho
intelectual com o fsico, os exerccios fsicos com a formao
politcnica. [...]
Nas escolas elementares e, mais ainda, nas superiores no
faz falta autorizar disciplinas que admitem uma interpretao
de partido ou classe. Nas escolas s se deve ensinar gramtica,
cincias naturais [...]. As regras gramaticais no mudam, seja
um conservador clerical ou um livre pensador que as ensine.
As matrias que admitem concluses diversas no devem ser
ensinadas nas escolas. (MARX; ENGELS, 1983, pp. 96-98)
No h dvida da recusa total de qualquer interferncia
poltico-ideolgica na escola, seja qual for sua origem. As interven-
es de Marx eram no sentido favorvel a uma educao que, sendo
pblica e gratuita, tambm fosse livre e laica. Essas observaes ga-
nham corpo nas refexes de Marx sobre a Comuna de Paris, no
fm da guerra franco-prussiana de 1870-71, onde fcam reafr-
madas suas posies frente s medidas colocadas em prtica pelos
comunards. As medidas educacionais da Comuna foram detalhadamente
registradas e analisadas por Marx no Primeiro Esboo de A Guerra Civil na
Frana e a citao do trecho a seguir esclarecedora sobre o assunto.
Naturalmente, a Comuna no teve tempo de reorganizar a
educao pblica. No entanto, eliminando os fatores religiosos
e clericais, tomou a iniciativa de emancipar intelectualmente
o povo. Em 28 de abril nomeou uma comisso encarregada
de organizar o ensino primrio e profssional. Ordenou que
todos os instrumentos de trabalho escolar, tais como livros,
mapas, papel, etc. sejam administrados gratuitamente pelos
professores, que os recebero de suas respectivas alcaidarias.
Nenhum professor est autorizado, sob nenhum pretexto, a
solicitar de seus alunos o pagamento por estes materiais de
trabalho escolar (28 de abril).
53
Jos Claudinei Lombardi
Diante dos desastres que se abateram na Frana durante esta
guerra, diante de seu afundamento nacional e de sua runa
fnanceira, a classe mdia sabe que no ser a classe corrom-
pida daqueles que tratam de converter-se nos amos da Frana,
a que vai trazer bem-estar, mas sim que ser, somente, a classe
operria, com suas viris aspiraes e seu poder.
Sentem que somente a classe operria pode emancipar-se das
tiranias dos padres, fazer da cincia um instrumento no de
dominao de classe, mas sim uma fora popular; fazer dos
prprios cientistas no alcoviteiros dos prejuzos de classe
parasitas do Estado a espera de bons lugares e aliados do
capital, mas sim agentes livres do esprito. A cincia s pode
jogar seu verdadeiro papel na Repblica do Trabalho.
Os professores da escola de medicina evadiram-se e a Comuna
designou uma comisso tendo em vista fundar universidades
livres que j no sejam parasitas de Estado; esta deu aos estu-
dantes que passaram nos exames a possibilidade de praticar
independentemente do ttulo de doutor (o ttulo ser confe-
rido pela Faculdade).
A Comuna no deve ser uma instituio parlamentar mas sim
um corpo dinmico, executivo e legislativo ao mesmo tempo.
Os policiais devem estar a servio da Comuna e no serem
instrumentos de um Governo central e, como os funcion-
rios de todos os corpos da Administrao, serem nomeados
e destitudos sempre pela Comuna; todos os funcionrios,
de maneira igual aos membros da Comuna, devem realizar
seu trabalho com salrios de operrios. Da mesma forma, os
juzes devem ser eleitos, destitudos e responsveis. Em todas
as questes da vida social, a iniciativa h de partir da Comuna.
Em uma palavra, todas as funes pblicas, inclusive as mais
estranhas propostas pelo Governo central, devem ser assumi-
das por agentes da Comuna, e colocados conseqentemente
sob seu controle.
absurdo afrmar que as funes centrais - no s as fun-
es do governo do povo, mas tambm as necessrias para
satisfazer os desejos gerais e ordinrios do pas - no devem
estar asseguradas. Estas funes teriam subsistido, porm os
prprios funcionrios no podiam - como no velho apara-
to governamental - colocarem-se acima da sociedade real,
porque estas funes deviam estar asseguradas por agentes
da Comuna e serem executadas, portanto, sob seu efetivo e
constante controle.
54
Jos Claudinei Lombardi
A funo pblica deve deixar de ser uma propriedade privada
concedida pelo Governo central a seus auxiliares. O exrci-
to permanente e a polcia do Estado, instrumentos fsicos
da opresso, devem ser eliminados. Expropriando todas as
igrejas na medida em que sejam proprietrios, eliminando o
ensino religioso de todas as escolas pblicas e introduzindo
simultaneamente a gratuidade do ensino, enviando todos
os sacerdotes ao sereno retiro da vida privada para viver da
esmola dos fis, liberando todos os centros escolares da tutela
e da tirania do Governo, a fora ideolgica da represso deve
se romper: a cincia no s tornar-se- acessvel para todos
como tambm livrar-se- da presso governamental e dos
prejuzos de classe.
Os instrumentos da opresso governamental e da dominao
sobre a sociedade se fragmentaro graas a eliminao dos r-
gos puramente repressivos, e ali, onde o poder tem funes
legtimas a cumprir, estas no sero cumpridas por um orga-
nismo situado acima da sociedade, mas por todos os agentes
responsveis desta mesma sociedade. (MARX; ENGELS, 1983,
p.92-94)
Com o texto de Marx fca reafrmado o carter que a educao foi
assumindo, acompanhando a reorganizao dos servios pblicos pela
Comuna: pblica (estatal), gratuita, popular e voltada ao atendimento
de todos; laica e totalmente livre da infuncia da religio, das classes
e do Estado burgus; formativa e pautada exclusivamente no mtodo
experimental e cientfco. Ademais, a educao foi apontada como um
importante instrumento de desalienao do proletariado e vista como
uma ferramenta essencial de formao e, portanto, um instrumento
para a consolidao da revoluo proletria.
Entendo que o mrito de Marx e Engels pode ser sintetizado por
alguns princpios que desvelam o carter revolucionrio de suas propostas.
Em primeiro lugar, est a centralidade dialtica do trabalho enquanto
princpio educativo e que desemboca na proposta de uma educao
omnilateral, em oposio unilateralidade da educao burguesa. Trata-se
de uma educao que deve propiciar aos homens um desenvolvimento
integral de todas as suas potencialidades. Para tanto, essa educao deve
fazer a combinao da educao intelectual com a produo material,
da instruo com os exerccios fsicos e estes com o trabalho produtivo.
55
Jos Claudinei Lombardi
Tal medida objetiva a eliminao da diferena entre trabalho manual e
trabalho intelectual, entre concepo e execuo, de modo a assegurar a
todos os homens uma compreenso integral do processo de produo.
Certamente Marx e Engels tambm defendiam o estabelecimen-
to de relaes necessrias entre educao e sociedade, expressa quer
na anlise do carter ideolgico e utilitrio da educao na sociedade
burguesa, quer como projeto de construo de uma sociedade iguali-
tria. Nesse sentido, em vista do projeto estratgico dos partidrios do
comunismo que se coloca, desde j, a defesa intransigente de uma
educao estatal, gratuita, laica, obrigatria e universal para todas as
crianas. Como explicitado anteriormente por Marx, a educao estatal,
entretanto, deve prescindir dos mecanismos de controle que hoje, por
exemplo, vislumbramos atravs de polticas educacionais ditatoriais,
cujos mandatrios esto a representar instituies fnanceiras expressi-
vas dos interesses capitalistas. Almeja-se com isso assegurar a abolio
do monoplio minoritrio e classista da cultura, do conhecimento, da
literatura, das artes, da flosofa e da cincia.
A transformao da educao com vistas a tais objetivos implica
em uma profunda transformao no modo de produzir dos homens;
isso s ser alcanado quando tambm ocorrer uma transformao da
diviso social do trabalho que, com a abolio da diferena entre traba-
lho intelectual e trabalho manual, conduza a uma reaproximao entre
a cincia e a produo.
REFERNCIAS
CAMBI, F. Histria da Pedagogia. So Paulo: Editora da Unesp, 1999.
DEMARTINI, Z. de B. F. Velhos Mestres das Novas Escolas: um estudo das me-
mrias de professores da 1. Repblica em So Paulo. So Paulo: USP-Ceru
e Inep, 1984. (Relatrio de Pesquisa).
DUARTE, N. Vigotski e o Aprender a Aprender: crticas s apropriaes neoliberais da
teoria vigotskiana. Campinas: Autores Associados, 2000a.
DUARTE, N. (Org.). Sobre o Construtivismo: contribuies a uma anlise crtica.
Campinas: Autores Associados, 2000b.
56
Jos Claudinei Lombardi
DUARTE, N. Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Iluses? Campinas: Autores
Associados, 2003.
DUARTE, O. Nem burguesia, nem estatismo. Teoria & Debate. n. 9, jan./fev./mar.
1990, p. 46.
ENGELS, F. A Situao da Classe Trabalhadora na Inglaterra. So Paulo: Global, 1986.
ENGELS, F. Do Socialismo Utpico ao Socialismo Cientfco. So Paulo: Global, 1980.
3a. ed.
ENGELS, F. A Dialtica da Natureza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 3a. ed.
ENGELS, F. Anti-Dhring. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 2a. ed.
LENIN, V. I. La instruccin pblica. Moscou: Editora Progresso, 1981.
LENIN, V. I. Em memria de Friedrich Engels: Grande lutador e professor do
proletariado moderno. Outono de 1895. Disponvel em: http://www.scien-
tific-socialism.de/FundamentosEngelsLenin.htm. Acessado em 08.05.2008.
LOMBARDI, J. C. Modo de produo e educao: breves notas preliminares.
Germinal: Marxismo e Educao em Debate, Londrina, v. 1, n. 1, p. 43-53, jun. 2009.
Disponvel: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/germinal/article/
view/2642/2296.
LOMBARDI, J. C. Histria e historiografa da educao no Brasil. Revista HISTED-
BR On-line. n. 14, jun., 2004. Disponvel: http://www.histedbr.fae.unicamp.
br/art4_14.pdf.
LOMBARDI, J. C. A educao e a Comuna de Paris: contribuio ao debate co-
memorativo dos 130 anos. In: BOITO JR., A. (Org.) A Comuna de Paris na histria.
So Paulo: Xam, 2001, pp. 157168.
LOMBARDI, J. C. Globalizao, ps-modernidade e educao: histria, flosofa e temas
transversais. Campinas: Autores Associados - HISTEDBR; Caador, SC: UnC,
2001.
LOMBARDI, J. C. A educao e a Comuna de Paris: notas sobre a construo da
escola pblica, laica, gratuita e popular. In: ORSO, P. J.; LERNER, F.; BARSOTTI,
P. (Orgs.) A Comuna de Paris de 1871: histria e atualidade. So Paulo: cone Edi-
tora, 2002, pp. 6588.
LOMBARDI, J. C. Historiografa educacional brasileira e os fundamentos
tericos-metodolgicos da Histria. In: ______. (Org.) Pesquisa em educao: his-
tria, flosofa e temas transversais. Campinas: Autores Associados - HISTEDBR;
Caador, SC: UnC, 1999, pp. 7-32.
57
Jos Claudinei Lombardi
LOMBARDI, J. C. Marxismo e Histria da Educao: algumas refexes sobre a histo-
riografa educacional brasileira recente. Campinas: Unicamp, 1993.
LOMBARDI, J. C. O Xavante e a Poltica Indigenista no Brasil nos Sculos XVIII e XIX. 1985.
Dissertao (Mestrado em Sociologia Rural). Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, Universidade de So Paulo. Piracicaba-SP, 1985.
LOMBARDI, J. C.; NASCIMENTO, M. I. M. (Orgs.). Fontes, histria e historiografa da
educao. Campinas: Autores Associados - HISTEDBR e outras, 2004.
LOMBARDI, J. C.; SANFELICE, J. L. Liberalismo e educao em debate. Campinas: Au-
tores Associados - HISTEDBR, 2007.
LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D. (Orgs.). Marxismo e educao: debates contempor-
neos. Campinas: Autores Associados - HISTEDBR, 2005.
LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; SANFELICE, J. L. Capitalismo, Trabalho e Educao.
Campinas: Autores Associados - HISTEDBR, 2002.
MANACORDA, M. A. O princpio educativo em Gramsci: americanismo e conformis-
mo. Campinas: Editora Alnea, 2008.
MANACORDA, M. A. Marx e a pedagogia moderna. Campinas: Editora Alnea, 2007.
MANACORDA, M. A. Marx e a pedagogia moderna. So Paulo: Cortez Editora; Cam-
pinas: Autores Associados, 1991.
MANACORDA, M. A. O princpio educativo em Gramsci. Porto Alegre: Artes Mdicas,
1990.
MANACORDA, M. A. Histria da Educao: da Antiguidade aos nossos dias. So
Paulo: Cortez Editora; Campinas: Autores Associados, 1989.
MANACORDA, M.A. Marx y la pedagogia moderna. Roma: Editora Riuniti, 1976.
MANACORDA, M. A. Il marxismo e leducazione. Roma: Armando Armando, 1964.
MARX, K. O Capital. Crtica da Economia Poltica. Livro Primeiro. Volume I. O Pro-
cesso de Produo do Capital. Tomo 1 (Prefcios e Captulos I a XII). Tomo
2 (Captulos XIII a XXV). So Paulo: Editora Nova Cultural, 1996. (Srie: Os
Economistas).
MARX, K. A Questo Judaica. So Paulo: Editora Moraes, 1991.
MARX, K. A Misria da Filosofa. So Paulo: Global, 1985.
MARX, K. Contribuio Crtica da Economia Poltica. So Paulo: Martins Pontes,
1983.
58
Jos Claudinei Lombardi
MARX, K. Manuscritos Econmicos e Filosfcos. In: FROMM, E. O Conceito
Marxista do Homem - Apndice: Manuscritos Econmicos e Filosfcos de 1844 de
Karl Marx. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983. 8a. ed., pp. 83-170.
MARX, K. Instrues para os Delegados do Conselho Geral Provisrio. As Diferentes Questes.
Agosto de 1866. Lisboa/Moscovo: Edies Progresso, 1982a. Disponvel em:
http://www.marxists.org/portugues/marx/1866/08/instrucoes.htm.
MARX, K. O Capital: Crtica da Economia Poltica. Livro 1. 2v. So Paulo: DIFEL,
1982b. 7a. ed.
MARX, K. Textos Filosfcos. Lisboa: Editorial Estampa, 1975.
MARX, K. The Victory of the Counter-Revolution in Vienna. Neue Rheinische Zei-
tung n. 136. 11/07/1848. Disponvel em: http://www.marxists.org/archive/
marx/works/1848/11/06.htm.
MARX, K.; ENGELS, F. Textos sobre Educao e Ensino. So Paulo: Editora Moraes,
1983.
MARX, K.; ENGELS, F. Crtica da educao e do ensino. 1a. ed. Lisboa: Moraes Edito-
res, 1978. [Introduo e Notas de Roger Dangeville].
MARX, K.; ENGELS, F. Cartas sobre las ciencias de la natureza y las matematicas. Barcelo-
na: Anagrama, 1975.
MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alem. 2v. Lisboa: Editorial Presena; Brasil:
Livraria Martins Fontes, [s.d.].
MARX, K.; ENGELS, F. Obras Escolhidas. 3v. So Paulo: Alfa-Omega, [198-?].
NOGUEIRA, M. A. Educao, saber, produo em Marx e Engels. So Paulo: Cortez; Cam-
pinas: Autores Associados, 1990.
PAULO-NETTO, J. Prlogo Edio Brasileira. In: ENGELS, F. A Situao da Classe
Trabalhadora na Inglaterra. So Paulo: Global, 1986, pp. I-XIV.
PIAGET. J. As Cincias Nomotticas e as Cincias Histricas do Homem. In:
SILVA, M. B. N. da (org.). Teoria da Histria. So Paulo: Ed. Cultrix, [1976], pp.
30-34.
SAVIANI, D. Modo de produo e a pedagogia histrico-crtica. Germinal:
Marxismo e Educao em Debate, Londrina, v. 1, n. 1, p. 110-116, jun. 2009. Dis-
ponvel em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/germinal/article/
view/2649/2303.
SAVIANI, D. Trabalho e educao: fundamentos ontolgicos e histricos. Revista
Brasileira de Educao, v. 12, n. 34, jan./abr. 2007, pp. 152-180.
59
Jos Claudinei Lombardi
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 38a. ed. Campinas: Autores Associados, 2006.
SAVIANI, D. O trabalho como princpio educativo frente s novas tecnologias.
In: FERRETTI, C. J. et al. (Orgs.). Novas tecnologias, trabalho e educao: um debate
multidisciplinar. Petrpolis: Vozes, 1994. pp. 147-164.
SAVIANI, D. Pedagogia histrico-crtica. Primeiras aproximaes. So Paulo: Cortez.
1991.
SAVIANI, D. Educao: do senso comum conscincia flosfca. So Paulo: Cor-
tez; Campinas: Autores Associados, 1980.
SAVIANI, D. Educao brasileira: estrutura e sistema. So Paulo: Saraiva, 1973.
SCHELBAUER, A. R. et al. (Orgs.). Educao em Debate: perspectivas, abordagens e
historiografa. Campinas: Autores Associados, 2006.
SCHWARTZ, G. Keynes. So Paulo: Brasiliense, 1984.
SUCHODOLSKI, B. A Pedagogia e as Grandes Correntes Filosfcas. Lisboa: Livros Hori-
zonte, 1992.
SUCHODOLSKI, B. Fundamentos de pedagoga socialista. Barcelona: Ed. Laia, 1976.
SUCHODOLSKI, B. Teora marxista de la educacin. Mxico: Grijalbo, 1966.
A
s relaes entre trabalho e educao tem sido sistematica-
mente objeto de estudos e pesquisas tanto por estudiosos e
pesquisadores da temtica quanto por agentes encarregados
de produzir polticas educacionais. No meio acadmico os
estudos e as pesquisas tendem a apresentar um enfoque crtico ainda
que de forma bastante heterognea. J no mbito dos organismos en-
carregados da produo das polticas educacionais, cujo objetivo central
o ajustamento do indivduo s regras do mercado, observa-se que
as propostas podem at estar fundamentadas em uma abordagem cr-
tica, porm, adaptando o contedo desta abordagem aos interesses
da lgica da acumulao capitalista, contribuindo deste modo para a
homogeneizao do discurso sobre a educao e o trabalho.
Pode ser observado ainda que algumas aproximaes deste ob-
jeto, mesmo no meio acadmico, so desenvolvidas a partir de enfoques
que tratam a questo de modo unilateral e parcial tendo como base
abordagens que no tomam como pressuposto as relaes histricas entre
trabalho e educao.
ABORDAGEM HISTRICA
DA RELAO TRABALHO E
EDUCAO
Olinda Maria Noronha
61
Olinda Maria Noronha
A presente refexo tem como princpio metodolgico nortea-
dor que somente a partir da abordagem histrica e por meio das relaes que se
estabelecem entre trabalho e educao, torna-se possvel a compreenso
destas relaes. , portanto, pela via terica e metodolgica da categoria
prxis que esta questo deve ser tratada, compreendida e explicada. De-
corrente desta posio metodolgica assumida, considera-se, portanto,
que estas relaes no devem ser tratadas como naturais, ou ainda, sob
as perspectivas essencialista, existencialista ou economicista, mas, do
ponto de vista histrico. As relaes entre trabalho e educao cons-
tituem o resultado da prxis humana no mago do processo histrico
de produo da existncia do homem. E no mbito destas relaes
histricas que pode ser compreendido e explicado o modo como,
gradativamente, o trabalho foi se afastando da condio ontolgica de
realizao do homem para tornar-se uma atividade estranha e oposta ao
seu aspecto de realizao da sua humanidade criadora.
A incluso da abordagem histrica ao estudo, investigao e
explicao das relaes entre trabalho e educao no representa, deste
modo, um mero recurso acadmico ou de pesquisa visando ampliar
a anlise deste tema. A considerao da abordagem histrica constitui
a prpria condio de realizao do processo de investigao e de
explicao. De acordo com a perspectiva terica e metodolgica do
materialismo histrico-dialtico no existe outro caminho que d conta
de tratar do trabalho e da educao, no como mbitos autnomos, mas
como relaes histricas construdas e determinadas objetivamente.
A partir destas observaes possvel afrmar que somente esta
perspectiva contempla as categorias de anlise: relao sujeitoobjeto,
totalidade, contradio, movimento, tempo, prxis, classes sociais, con-
fito, mediao, hegemonia. Estas categorias representam ferramentas
metodolgicas que orientam o pesquisador a realizar o movimento do
conhecido ao desconhecido. Em geral, o pesquisador tem a iluso de
que a atividade de pesquisa comea sempre por aquilo que se manifesta
na realidade emprica, por aquilo que imediatamente visvel e aparen-
te. No entanto, o caminho para se chegar do concreto real ao concreto
pensado no , em absoluto, linear. No processo de investigao devem
estar presentes, de forma permanente, a teoria, o mtodo e a realidade.
62
Olinda Maria Noronha
Na formulao de Marx, o movimento de construo, conheci-
mento terico; a produo do concreto pensado , portanto, terica.
Neste processo o concreto real (o sujeito, a sociedade) est permanen-
temente presente na representao como pressuposio. Isto signifca
que a realidade concreta informa a teoria, sem confundir-se com ela,
pois a construo do conhecimento guiada pela teoria. (NORONHA,
2006, pp. 21-22)
com este signifcado que Marx considera que,
[...] o concreto concreto porque sntese de muitas deter-
minaes, isto , unidade do diverso. Por isso o concreto
aparece no pensamento como o processo de sntese, como
resultado, no como ponto de partida, ainda que seja o ponto
de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida tambm da
intuio e da representao [...] as determinaes abstratas
conduzem reproduo do concreto por meio do pensamen-
to [...] o mtodo que consiste em elevar-se do abstrato ao
concreto no seno a maneira de proceder do pensamento
para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como con-
creto pensado. (MARX, 1978a, pp. 116-117)
Dependendo do lugar terico de onde o pesquisador investiga,
existem questes que no podem ser colocadas, ou porque o limite
terico e metodolgico no permite ou porque estas questes no
cabem em suas referncias. Neste caso a realidade pode at ser des-
crita, analisada, registrada, comparada por estas abordagens (empirista,
funcionalista, positivista), mas no explicada em suas determinaes
objetivas histricas. No , portanto, qualquer abordagem que consegue
atingir estas determinaes e explic-las de modo cientifco. preciso
indagar a realidade, indagar os dados e os indcios, sempre tendo em
conta que estes no falam nada por si mesmos.
A concepo do materialismo histrico-dialtico considera
que o movimento social sempre dialtico, expressando a atividade
histrica dos homens, articulando-se de modo determinante s lutas
de classes, ao confito social e s superaes das contradies advindas
deste processo. J o conceito de mudana constitui um conceito mais
complexo envolvendo as permanncias, as variaes, as acumulaes de
63
Olinda Maria Noronha
vrias mudanas e os movimentos de rupturas transformadoras. O que
importa reter que a mudana social constitui tambm uma mudana
histrica na sua dimenso cumulativa. Mas a histria no pode ser re-
duzida a uma simples mudana social. A histria concretiza-se a partir
dos elementos constitutivos das aes humanas nos tempos diferenciais
que se articulam em um processo em que se do tanto a prxis criadora
quanto a prxis reiterativa. A histria , portanto, o resultado das mu-
danas e das transformaes sociais. E por isso concebida no como
uma cincia da mudana, mas do que muda, do que se transforma e
tambm do que permanece, na dialtica entre prxis criativa e reiterati-
va. na e pela prxis, portanto, que se resolve a questo do modo como
as prticas sociais so produzidas, apropriadas de modos diferenciados
pelos sujeitos e pelas instituies e organizaes.
Para Marx este processo no tem lugar somente a partir da anti-
ga base (permanncia), porque esta mesma base se amplia no processo
de produo humana. O mais alto grau de desenvolvimento desta base
, desse modo, o ponto em que se conseguiu um maior grau de elabora-
o, que combina com o maior incremento das foras produtivas e, por
conseguinte, tambm um engrandecimento dos indivduos. E, uma vez
que se chegou a esse ponto, o desenvolvimento novo ter lugar sobre
a nova base em um processo de incorporao e de superao histrica
(transformao) que contm a possibilidade do desenvolvimento uni-
versal do indivduo. (MARX e ENGELS, 1978, pp. 64-70)
Este processo, por sua vez, expressa uma unidade dialtica en-
tre o subjetivo e o objetivo considerando-se que a natureza humana
ao mesmo tempo social e histrica. Quanto mais o desenvolvimento
universal das foras produtivas, junto transformao incessante de
sua base como condio de sua reproduo ocorre no processo de
autoexpanso do capital, mais contraditoriamente as possibilidades do
desenvolvimento universal do indivduo fcam potencialmente dadas. A
universalidade do indivduo no se realiza mais no pensamento ou na
imaginao, est viva em suas relaes tericas e prticas na sociedade.
por isto que a sociedade constitui o sujeito da histria. por meio da
compreenso das relaes objetivas, tericas e prticas (prxis) que se
64
Olinda Maria Noronha
do na sociedade, que se torna possvel o entendimento do processo
histrico em seu processo dialtico de permanncias e mudanas.
Este movimento dialtico observado na refexo de Arstegui:
A histria contm mais coisas que a mudana social. Contm
primeiro o fato de que essa mudana cumulativa e depois,
o fato tambm de que a histria se compe de mudanas,
mas tambm de duraes. E no ltimo extremo, o verdadeiro
movimento histrico no se defne na mudana, mas como
resultado da mudana. (ARSTEGUI, 1995, p.261)
Vzquez (1977) observa, a respeito do movimento de articula-
o entre prxis criadora e prxis reiterativa ou cumulativa, que a prxis
criadora - aquela que pode conduzir a mudanas e transformaes em
forma de rupturas - determinante porque o homem um ser que
busca sempre criar, inventar, encontrar novas solues e, ao realizar essas
aes, modifca a si mesmo, a natureza e aos outros homens, conforme
a clebre formulao de Marx. importante, contudo, lembrar que o
homem no vive em permanente estado criador, ele repete, imita, per-
manece, acumula dentro de um processo dialtico de produo e de
superao das contradies inerentes ao movimento social e histrico.
A apropriao da prxis criadora do homem pela lgica da acu-
mulao, visando o lucro, uma questo para a qual se deve fcar atento
nas relaes entre trabalho e educao, pois este o discurso fetichizado
que integra as recomendaes dos organismos multilaterais, bem como
a atual poltica educacional brasileira. Este discurso tem como suporte
ideolgico a centralidade da educao e do trabalho e se expressa no
aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a ser; aprender a convi-
ver juntos, visando formar indivduos mais criativos como estratgia
pragmtica e ideolgica de sobrevivncia autossustentada e solidria.
O propsito de dar conta no somente da investigao, mas,
sobretudo da explicao do processo histrico coloca, portanto, logo
de incio para o estudioso da temtica, a necessidade de defnio de
algumas categorias centrais de anlise como aquelas antes referidas, que
devem integrar sua concepo terica e metodolgica. Esta posio
fundamental para que o conhecimento das aes humanas na sociedade
65
Olinda Maria Noronha
no fque reduzido a uma sucesso evolutiva e natural de realizaes
humanas, que algumas abordagens (como a da Sociologia) costumam
denominar como teoria geral da sociedade. Esta teoria geral da so-
ciedade tem como fnalidade explicar a sociedade em geral e com isso,
escamoteia as determinaes histricas, os confitos, as contradies
produzidas no processo de acumulao capitalista, contribuindo para
consolidar a ordem burguesa e justifcar, ideologicamente, suas iniciati-
vas em nome do progresso geral da civilizao. necessrio analisar no
a sociedade em geral, mas uma formao histrica particular que a
forma capitalista de produo e de organizao da sociabilidade humana.
A partir das refexes de Arstegui (1995, p. 200) de que a
sociedade o sujeito real e nico da histria possvel afrmar que
na sociedade, e, por conseguinte, nas relaes tericas e prticas, que o
processo histrico experimentado. Desta maneira, o fundamento de
uma teorizao do processo histrico deve ter como objetivo identifcar
qual a natureza do social, quais so as formas, os mecanismos e as
aes observadas nas relaes objetivas dos homens em um determi-
nado momento histrico. por estas razes que a teoria do social e a
teoria do histrico so duas questes indissoluvelmente imbricadas.
A partir deste entendimento pode-se inferir que no existe uma
explicao da histria que no contenha uma explicao da realidade
social, pois a sociedade o sujeito real e nico da histria muito embora no se
confundam, pois a historicidade das aes humanas s pode ser com-
preendida pela histria, uma vez que o conhecimento do histrico,
condio de todos os demais conhecimentos sociais. (VILAR apud
ARSTEGUI, 1995, p. 200)
Tendo-se em conta que como prxis que o homem realiza sua
condio humana social e histrica e, considerando-se tambm que a
histria sempre processo e resultado das aes humanas nas relaes
estabelecidas com a natureza (natureza entendida como uma categoria
abrangente e ampliada) e com os outros homens, de modo vivo em suas
relaes tericas e prticas, a categoria prxis passa a ser uma diretriz
fundamental para a investigao, compreenso e explicao das aes
humanas no processo histrico e social e, no interior dele, das relaes
entre trabalho e educao.
66
Olinda Maria Noronha
As articulaes entre trabalho e educao, entre cincia, tecno-
logia e trabalho, entre produo da cultura e trabalho, entre intelectuais
e cultura, so tanto relaes histricas quanto se constituem em ele-
mentos da realidade que necessitam ser historicizados pelo pesquisador.
Este procedimento condio para que seja possvel verifcar os con-
tornos tericos, metodolgicos, polticos e ideolgicos bem como as
consequncias destas articulaes para a formao terica e prtica do
trabalhador.
De maneira geral a histria da educao tem mostrado que a es-
cola nos seus primrdios nasce associada ideia de formao dos flhos
dos grupos proprietrios. Este tipo de formao separava o homem
poltico do homem produtor e realizava a essncia de forma abstrata e
no nas relaes histricas concretas. Somente com o desenvolvimen-
to das foras produtivas e da prpria cincia incorporada como fora
produtiva sob a lgica do capital, com a revoluo industrial e a diviso
tcnica do trabalho (diviso entre trabalho manual e intelectual), um
novo tipo de educao passa a ser exigido pela sociedade, levando
superao da educao abstrata at ento dominante.
O desenvolvimento das foras produtivas, no entanto, ao
mesmo tempo em que permite aos trabalhadores o acesso educao
prope uma escola nica e diferenciadora - que apresenta um curr-
culo comum bsico e se diferencia em ramifcaes profssionalizantes
impedindo-os de ter acesso aos conhecimentos que fundamentam o
seu fazer. No entanto, esta escola nica e diferenciadora, que expressa
pela proposta burguesa de educao, vai aos poucos cedendo espao
para uma espcie de proposta de desunifcao no diferenciadora.
No ambiente da reestruturao produtiva do capital ps-1975
(com a crise do taylorismo/fordismo), vo sendo estruturadas as teses
do determinismo tecnolgico das formas ps-fordistas da produo de-
sorganizada e fexvel e das ideologias do fm do trabalho, tanto como
realidade social quanto como categoria sociolgica. Junto a estas teses
encontra-se a argumentao em favor da centralidade da educao e do
trabalho, preconizada pelas polticas neoliberais. A proposta da desu-
nifcao da escola resultado deste processo, fundamentando-se no
princpio da fragmentao do mundo e do conhecimento, bem como,
67
Olinda Maria Noronha
da codifcao destes em campos multidisciplinares, transdisciplinares,
transversais e multifuncionais. A proposta da no diferenciao por
sua vez, se materializa no princpio de uma formao bsica geral e
rarefeita para todos, para que os indivduos livres no mercado se habili-
tem a acompanhar as novas demandas por um trabalhador fexvel que
necessita apenas ter uma formao genrica de modo permanente, com
qualifcaes multifuncionais que sustentem a noo de empregabilida-
de.
Neste processo predomina a cultura do sujeito como uma es-
pcie de personal de si mesmo, em que o prprio homem passa a ter
que assumir a responsabilidade pelo seu fracasso ou sucesso, pela sua
insero ou no no mercado. Observa-se nesta ao, que a transferncia
da responsabilidade pelo emprego ou desemprego acaba recaindo so-
bre o prprio trabalhador (empregabilidade). No mbito da educao,
constata-se a ocorrncia da nfase no bsico e no para todos como
poltica educacional, ao invs de polticas sociais e educacionais abran-
gentes. Este fato expressa o princpio da no diferenciao presente na
proposta da escola no atual momento histrico, que caracterizado pela
recomposio da atividade dividida e pela necessidade de um trabalha-
dor polivalente, multifuncional e verstil.
De acordo com as observaes de Ramon Pea Castro, a crise
do trabalho como fm do trabalho confgura-se como um falso de-
bate, que objetiva na verdade escamotear o valor cada vez maior que o
trabalho tem para a acumulao capitalista. A prova disso est no fato de
[...] que o capital procura continuamente novos procedimen-
tos de reduo do custo trabalho, atravs da precarizao
dos contratos, da terceirizao dos processos de produo
fragmentveis em escala planetria, sem renunciar, inclusive,
restaurao de formas de trabalho domstico com uso de
mo-de-obra infantil, trabalho servil de prisioneiros e outras
modalidades de trabalho assemelhadas escravido. (PEA
CASTRO, 2003, p.05)
Isto signifca que historicamente o trabalho necessrio sempre
existiu e pode existir sem o capital, mas o capital no existiu nem
pode existir sem dominar e explorar o trabalho. Para Pea Castro,
68
Olinda Maria Noronha
a fome insacivel de trabalho excedente constitui o trao essencial e
incontornvel do capitalismo. (PEA CASTRO, 2003, p.05)
Por este motivo, a crise do trabalho como fm do trabalho
constitui, em sua materialidade histrica, um falso debate. Este fato
analisado por Pea Castro a partir de duas teses que se confrontam em
uma sociedade de mercado absolutista.
O lugar do trabalho na nossa sociedade do mercado absolu-
tista (ou capitalismo sem concesses sociais) uma questo
essencial sobre a qual se confrontam duas teses que de forma
simplifcada podemos resumir assim: uma, a do fatalismo de
desemprego, decorrente do determinismo tecnolgico, que
se manifesta na universalizao da automatizao e robotiza-
o dos processos produtivos; outra, afrmativa do trabalho
humano, necessrio e imprescindvel, no apenas condio
social de existncia da sociedade e trao constitutivo do
animal cultural (homo sapiens sapiens) mas sobretudo por ser
o trabalho o elemento ativo, insubstituvel, do mundo fsico
e cultural, onde os homens produzem e reproduzem a so-
ciedade, por isso mesmo o centro de gravidade (baricentro)
para uma alternativa de transformao social. (PEA CASTRO,
2003, p.1)
Marx consegue compreender e explicar a impossibilidade de
realizao da essncia humana tanto pelas propostas humanistas abstra-
tas de educao, que separam o homem poltico do produtor, quanto
pelas propostas de articulao mecnica e utilitarista entre trabalho e
educao, contidos na lgica civilizatria da acumulao capitalista em
suas metamorfoses histricas (da acumulao com desenvolvimento
acumulao sem desenvolvimento).
Observa-se historicamente que a escola conseguiu cumprir sua
funo social como formadora intelectual dos dirigentes (ou classes
ociosas j que na Antiguidade e na Idade Mdia a escola era o lugar do
cio com dignidade). No entanto, quando a sociedade moderna, que
tem como base a sociedade urbanizada e a indstria compreendida de
modo amplo nos desdobramentos orientados pela lgica de acumulao
e de expanso do capital , comeou a incorporar a cincia no processo
produtivo, observa-se a estruturao de um movimento que passou a
69
Olinda Maria Noronha
exigir a necessidade de generalizao dos cdigos formais de escrita.
Este movimento desencadeou o fenmeno da universalizao da escola
bsica para todos. Porm, ao ter que absorver em seus propsitos, a
formao do trabalhador e a preparao para o trabalho, ou seja, ao ter
que se transformar tambm em escola do trabalho, a escola termi-
na por incorporar em seus processos de formao (mas nem sempre
resolver) as contradies inerentes lgica da atividade produtiva da
sociabilidade capitalista.
O confito que tem acompanhado o processo de constituio
da escola moderna ainda no se resolveu at hoje, principalmente
aqueles relacionados ao tipo de formao que deve ser proporcionado:
humanidades clssicas ou ensino cientifco? Formar um grupo para
ser encaminhado para as faculdades e outro voltado para o mercado?
Como romper com os dualismos, com a polivalncia? Como pensar
uma educao unitria e no nica e ao mesmo tempo diferenciadora,
quando hoje a proposta escolar se tornou to fuida e fragmentada? Ou
seja, se os intelectuais e aqueles que se dedicam a fazer a poltica edu-
cacional no conseguiram chegar a uma concluso a respeito do tipo
de formao a ser proporcionado aos jovens, o prprio capitalismo se
encarrega de fazer a sua proposta em resposta s demandas das grandes
transformaes histricas em curso, tendo como fator central o trabalho
como produtor de mercadorias que tem como motor a produo de
valor excedente, de lucro.
A escola, neste sentido, est a servio do capital na medida em
que prope uma formao genrica, bsica e para todos, deixando de
representar um mecanismo de mobilidade social e de construo da
identidade profssional dos trabalhadores.
A ao de restringir o trabalho vivo a valor de troca manifesta-
da na precarizao das relaes de trabalho, no desemprego e na noo
ideolgica de empregabilidade, bem como, em uma formao genrica
que atenda fuidez do trabalho conhecido de forma geral como
prestadores de servio j que o trabalho foi reduzido sua forma
mercantil-monetria , mediante a utilizao mais completa possvel
das trs diferentes formas em que o mesmo se efetiva: subjetiva, ativa e
individual. (PEA CASTRO, 2007)
70
Olinda Maria Noronha
Esta realidade da contratao, consumo e explorao do traba-
lho vivo torna atual a anlise de Marx, no Manifesto Comunista, quando este
considera que
[...] esses operrios, constrangidos a vender-se diariamente,
so mercadoria, artigo de comrcio como qualquer outro; em
conseqncia, esto sujeitos a todas as vicissitudes da concor-
rncia, a todas as futuaes do mercado. (MARX; ENGELS,
1980a, p.16)
O trabalho sob a lgica do capital separa o ser humano do tra-
balhador e exige um trabalhador que seja capaz de ter o domnio dos
princpios gerais subjacentes a toda a produo, caracterizando a versati-
lidade exigida pelas atuais foras do mercado capitalista. neste sentido
que a tese da centralidade da educao e do trabalho perde fora, pois
ela
[...] fundada em algo que justamente, o epicentro da crise:
o trabalho. No h imaginao capaz de demonstrar que a
escola pode vir a ser a fora propulsora de uma ps-mo-
dernidade construda a golpes de mercado e de tecnologias
empresariais desempregadoras. (PEA CASTRO, 2007)
Mas o homem, o trabalho e a educao no podem fcar redu-
zidos a essa perspectiva produtivista de mundo. Recorremos novamente
a Marx para encontrar uma sada ontolgica e gnosiolgica.
Dois conceitos centrais emergem da anlise de Marx como
princpios metodolgicos de grande signifcado: 1) a de que o homem
s pode individualizar-se na sociedade, na materializao da dialtica
individual-coletivo; 2) e, no conceito de prxis como trabalho criador
humano, em que a essncia humana constituda no mbito de sua
ao, realizando a crtica radical ao trabalho alienado e a afrmao da
possibilidade histrica de um trabalho humanizado pela via da prxis.
Marx reafrma deste modo sua compreenso dialtica de ho-
mem, de mundo e de sociedade, de trabalho, de cincia e de tecnologia
como relaes sociais, ao criticar a ingenuidade dos economistas cls-
sicos que consideravam a natureza humana e suas produes no como
71
Olinda Maria Noronha
resultado do processo histrico, mas como o desdobramento de um
estado natural, posto pela natureza desde sua origem.
Para Marx essa ingenuidade introduzida por estes economistas,
seja por ignorncia histrico-flosfca, seja para justifcar o avano da
ordem burguesa, coloca o homem como ponto de partida da histria e
no como resultado de um processo em que o homem se individualiza
como ser criador pela prxis. Assim Marx se expressa sobre esta questo:
O objeto deste estudo , em primeiro lugar a produo
material. Indivduos produzindo em sociedade, portanto a
produo de indivduos determinada socialmente por certo
o ponto de partida. [...] Quanto mais se recua na Histria,
mais dependente aparece o indivduo, e tambm o indivduo
produtor, e mais amplo o conjunto a que pertence. [...] S no
sculo XVIII, na sociedade burguesa, as diversas formas do
conjunto social passaram a apresentar-se ao indivduo como
simples meio de realizar seus fns privados, como necessidade
exterior. Todavia, a poca em que produz este ponto de vista,
o do indivduo isolado, precisamente aquela em que as
relaes sociais (e, deste ponto de vista, gerais) alcanaram
o mais alto grau de desenvolvimento. O homem no sentido
mais literal, um zoon politikon no s animal social, mas animal
que s pode isolar-se em sociedade. (MARX, 1978, p.104)
Quando Marx faz referncia a Aristteles nos Grundrisse, est
afrmando que o homem antes de tudo um animal poltico que s na
sociedade poder individualizar-se, que a universalidade do indivduo
est viva em sua ao humana e se realiza nas relaes objetivas, tericas
e prticas, ou seja, na prxis como atividade criadora e transformadora
do homem, da natureza e dos outros homens.
A importncia da compreenso e da explicao de Marx para
o processo de individualizao do homem na sociedade est no fato
de fcar claro que este no realiza sua essncia de forma abstrata como
pensava Aristteles em seu contexto, mas de forma objetiva nas relaes
histricas concretas.
Esta explicao est articulada a outro conceito central, referi-
do anteriormente, que o conceito de prxis como trabalho criador e
transformador do homem. O conceito de prxis expresso na obra Tese
72
Olinda Maria Noronha
XI sobre Feuerbach representa o fundamento da prxis revolucionria como
ao do homem sobre as circunstncias que engloba a ao sobre as
conscincias, pois como Marx e Engels j haviam afrmado na obra A
Ideologia Alem, no a conscincia que determina a vida, mas a vida que
determina a conscincia. (MARX; ENGELS, 1965, p.22)
Esta afrmao complementada aprofundando o conceito de
prxis transformadora na seguinte refexo: Os flsofos limitaram-
-se a interpretar o mundo de diversas maneiras diferentemente, cabe
transform-lo. (MARX, 1978, p. 53)
O mundo considerado em dois sentidos nessa Tese de acordo
com a observao de Vsquez (1977, p. 161): como objeto de inter-
pretao, e como objeto da ao do homem, de sua atividade prtica, ou
seja, como objeto de sua transformao.
O conceito de trabalho como criador e transformador do mun-
do um dos pressupostos da concepo materialista dialtica de Marx.
Quando Marx est falando de trabalho como prxis est, de forma clara,
afrmando uma diretriz metodolgica de grande alcance, qual seja, a da
ao de transformao do mundo como pensamento e como ao.
A partir desta compreenso, o desafo de propor uma escola e
um educador que sejam capazes de romper com a viso produtivista
da escola e de propor uma formao que ultrapasse o mbito da re-
composio da atividade dividida, oriunda da atual forma histrica do
capitalismo, algo que se coloca hoje como refexo terica e prtica.
Trabalhar o conhecimento como sntese histrica entre os conhecimen-
tos construdos nas condies sociais, econmicas, culturais e polticas,
ou seja, nos processos de vida e de trabalho dos alunos e os conhecimen-
tos universais elaborados pelo conjunto da humanidade em sua histria,
torna-se central em uma proposta de formao orgnica, que no seja o
orgnico do capital. As respostas a estas questes devem ser buscadas
na tradio marxista e gramsciana de uma flosofa da prxis. Por meio
da mediao da prxis como categoria de interpretao, de explicao
e de ao torna-se possvel realizar o movimento permanente entre as
vivncias do senso comum, do mundo do trabalho e o conhecimento
73
Olinda Maria Noronha
elaborado, tendo como objetivo a superao da conscincia ingnua e
naturalizada pelas relaes fetichizadas do mundo da mercadoria.
Como j nos ensinava Gramsci a respeito desta questo,
Uma flosofa da prxis s pode apresentar-se, inicialmente, em
uma atitude polmica e crtica, como superao da maneira
de pensar precedente e do pensamento concreto existente (ou
mundo cultural existente). E, portanto antes de tudo, como
crtica do senso comum (e isto aps basear-se sobre o senso
comum para demonstrar que todos so flsofos e que no
se trata de introduzir ex-novo uma cincia na vida individual
de todos, mas de inovar e tornar crtica uma atividade j
existente). (GRAMSCI, 1981, p.18)
O desafo apontado por Gramsci de tornar crtica uma ativi-
dade j existente exige que a formao do educador tenha uma slida
base terica e epistemolgica para que possa ser realizado, no mbito
do processo de ensino-aprendizagem, o movimento permanente entre
particular e universal, entre a estrutura e a conjuntura, entre a parte e o
todo, entre teoria e prtica como elementos constitutivos da totalidade
histrica e no como instncias autonomizadas pela viso fragmentada
do mercado e de suas ideologias naturalizantes e desistoricizadas. Estas
interpretaes oriundas da ideologia do capital, em sua atual forma
histrica, tendem a reduzir a formao do educador a uma perspec-
tiva subordinada lgica do mercado. Esta lgica preconiza a noo
de competncias visando resultados utilitaristas (mundo mercantilizado
das mercadorias) e a prtica pedaggica a um tipo de ativismo peda-
ggico que tende a converter a educao em um simples problema de
adaptao e de resoluo de problemas de sobrevivncia imediata, que
vo surgindo no cotidiano que coincide com as recomendaes dos
organismos multilaterais para a educao das populaes dos pases
pobres: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender
a conviver.
A afrmao do trabalho como prxis mostra a atualidade do
pensamento de Marx na construo de uma epistemologia que se con-
traponha ao pensamento funcionalista e conservador, e que pense a
realidade histrica atual em sua dimenso de totalidade e no a partir de
74
Olinda Maria Noronha
identidades fragmentadas e de campos autnomos em que sociedade,
economia, poltica, classes sociais so tratados como realidades inde-
pendentes.
O conceito de prxis e, em relao a ele, o de trabalho e o
de produo, pode ser defnido como uma atividade social conscien-
temente dirigida a um objetivo. O homem, por exercer trabalho fsico,
produo, participao ativa em diferentes formas de vida social, desen-
volve uma prxis material. Esta prxis material por sua vez constituda
de elementos subjetivos e objetivos em permanente tenso dialtica.
neste sentido que, para Marx, a raiz do homem o prprio homem.
Seu suposto a atividade prtica do homem concreto e empiricamente
dado, sob certas condies vitais historicamente determinadas.
So os homens que, desenvolvendo sua produo material e
suas relaes materiais, transformam essa realidade que lhes
prpria, seu pensamento e os produtos desse pensamento.
(MARX; ENGELS, 1965, p.22)
A prxis, portanto, engloba certos elementos fundamentais tais
como: transformao do meio natural em que vive o homem (conquista
e humanizao da natureza, modifcao, supresso e criao de objetos,
transformao das condies naturais da vida humana); criao de dis-
tintas formas e instituies da vida humana (interaes, comunicao
mtua e trabalho cooperativo e associativo). A luta pela sobrevivncia
leva transformao das condies sociais da vida humana que , ao
mesmo tempo, autocriao e criao coletiva do homem.
Para Marx o trabalho pode defnir-se como um caso especial
de prxis: atividade social, que no s consciente e tende a um obje-
tivo, bem como se caracteriza pelo emprego de esforos considerveis
e duradouros predispostos a superar obstculos, mas tambm pela
propenso mediata ou imediata de transformao do mundo. Para que
uma atividade conscientemente dirigida a um fm possa ser considerada
trabalho deve incluir dois fatores: o objeto do trabalho e os meios
do trabalho.
75
Olinda Maria Noronha
Os elementos componentes do processo de trabalho so:
1) a atividade adequada a um fm, isto , o prprio trabalho;
2) a matria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho;
3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho. (MARX;
ENGELS, 1980b, p.202)
A produo seria ento uma forma especial de trabalho: o tra-
balho que conduz de forma direta criao de determinados objetos,
no consistindo, pois em uma atividade qualquer como preconizam
os idelogos da reestruturao produtiva do capitalismo globalizado
que fragmenta, precariza e desqualifca o trabalhador submetendo-o s
mais cruis formas de mercantilizao da fora de trabalho , mas
condio social de existncia da sociedade, elemento constitutivo do
animal cultural e condio para a transformao da sociedade.
O conceito de prxis representa, portanto, a sntese entre
objetivo e subjetivo, entre teoria e prtica, entre saber e fazer, entre
conhecimento elaborado e conhecimento tcito. No entanto, no capi-
talismo atual esta sntese se materializa cada vez mais em um trabalho
intelectual que metamorfoseado em trabalho morto. Esta metamor-
fose articula-se, por sua vez, a uma viso reducionista do mercado de
trabalho que no considera que o trabalho morto nada mais do que
trabalho materializado nas aes humanas e, portanto, vivo.
A viso reducionista do mercado de trabalho (em cuja rbita
gravita a tresloucada idia do fm do trabalho) est interessada
em ocultar que tanto as foras produtivas sociais, objetivadas
em tecnologias, como aquelas encarnadas em capacidade sub-
jetivas de seres humanos (sob a forma de mercadoria fora
de trabalho, adquirida e utilizada pelo capital) no so outra
coisa mais que trabalho, cristalizado e vivo. E que somente o
trabalho em ao, ou seja, o consumo capitalista da mercado-
ria fora de trabalho, capaz de vivifcar e dar dimenso social
defnida ao trabalho morto, materializado nas tecnologias que
compem o capital fxo. (PEA CASTRO, 2003, p. 3)
esta mesma viso reducionista do mercado que metamorfo-
seia o trabalho vivo em trabalho morto, como algo que se ope aos
trabalhadores; o que os coloca como os nicos responsveis pelo seu
fracasso ou xito, emprego ou desemprego. Esta viso se constitui tam-
76
Olinda Maria Noronha
bm na estratgia neoliberal da perspectiva de uma educao centrada
em competncias individuais, em uma formao rarefeita e baseada em
reciclagens permanentes. Esta ideologia fundamenta a noo de em-
pregabilidade difundindo a ideia de que tanto o emprego quanto o
desemprego so atributos do indivduo livre no mercado para decidir
seu acesso ao mundo do trabalho. Para isso, este indivduo precisa se
reciclar de forma permanente, adquirindo novas competncias cogniti-
vas, habilidades fexveis e comportamentos adequados para se adaptar
e responder s demandas da expanso constante das exigncias da acu-
mulao.
Os conceitos de educao continuada e de empregabilidade
atestam essa dimenso de educao. O indivduo precisa
continuamente adquirir os atributos necessrios para con-
correr a um lugar no mercado. Neste contexto, o fato de o
indivduo no conseguir emprego no atribudo falta de
oportunidades, mas porque ele no preenche os requisitos
necessrios para isso, cabendo a ele, portanto buscar suprir
de forma contnua esses itens para que possa tornar-se
empregvel. Neste sentido, observa-se um deslocamento
do ensinar para o aprender e do formar para o treinar, ca-
racterizando um novo tecnicismo, com um tipo de ensino e
de avaliao centrados no estudante e nas redes de educao
distncia por onde ele pode navegar e acessar a qualquer
momento o estoque de informaes disponveis de modo de-
mocrtico e, com isso, compor sua cesta bsica de educao.
(NORONHA, 2006, p.49)
Esta orientao reafrma as teses dos organismos multilaterais
que trazem em suas recomendaes o atendimento s necessidades b-
sicas, a associao direta entre desenvolvimento e educao, difundindo
ao mesmo tempo a ideologia de que os indivduos dos pases pobres se
tornaro mais criativos, competitivos e efcientes, promovendo, desta
maneira, com suas prprias iniciativas, com recursos materiais e huma-
nos prprios, a chamada equidade social que integra a maioria dos
documentos e leis da poltica educacional brasileira elaborada a partir
dos anos de 1990. Essas estratgias de apelo ao indivduo como nico
responsvel pelo seu destino so associadas s estratgias de alvio da
pobreza por meio do apelo s formas comunitrias como diretriz para
77
Olinda Maria Noronha
administrar a misria e a desigualdade produzidas pela acumulao do
capital. Este enfoque da educao do apelo comunidade e educao
fundamenta-se na defesa da mxima ideolgica do pensar globalmente
e agir localmente
1
articulado noo ideolgica de desenvolvimento
sustentvel
2
defnido pela Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento (Cnumad), no Rio de Janeiro, em 1992.
A diretriz formulada por este organismo passou a integrar um conjunto
de estratgias polticas e ideolgicas que o Conselho de Segurana da
ONU adotou para o mundo, representando uma sntese cada vez mais
efcaz e precisa para as solues dos problemas, na medida em que arti-
cula de maneira mecnica a escala global e a escala local. Esta ltima tem
como pressuposto, entre outras recomendaes, o desenvolvimento de
comunidades; a transformao produtiva com equidade (recomenda-
o adotada pela Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe
Cepal) associada ideia de mrito e competncia; a erradicao da
pobreza por meio do desenvolvimento autossustentado; o respeito
diversidade; conscincia ecolgica planetria e a capacitao de agentes
de desenvolvimento comunitrio.
Como observa Dvila Neto sobre a combinao tima entre o
endgeno, o exgeno e as formas de educao espontneas para resolver
problemas imediatos,
O apelo s formas comunitrias de desenvolvimento, encon-
tradas no desenvolvimento endgeno, procuram suprir essa
lacuna deixada pelas formas contemporneas de tratamento
/da pobreza. Isso justifcado, agora, por todo um arsenal
metodolgico que coloca disposio dos cientistas sociais
tcnicas participativas que vo incentivar o desenvolvimento
1 A noo de pensar globalmente e agir localmente foi defnida pela Organizao das Naes Unidas
(ONU) nos idos de 1972, quando em Assembleia Geral, no dia 15 de dezembro em Estocolmo (capital
da Sucia) estabeleceu atravs da Resoluo 2994 (XXVII) a data como sendo um marco, tendo como
objetivo sensibilizar o mundo para a necessidade de proteger e de valorizar o meio ambiente, tendo
como slogan na terra nada nos pertence; pedimos emprestado a nossos flhos. Esta resoluo levou
criao do Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).
2 A noo de desenvolvimento sustentvel defnida como o desenvolvimento que satisfaz as ne-
cessidades presentes sem comprometer a capacidade de as geraes futuras satisfazerem suas prprias
necessidades.
78
Olinda Maria Noronha
local, o ecodesenvolvimento participativo e tantas outras
nomenclaturas como pesquisa-ao, pesquisa ativa, pesquisa
participativa, enquete consciente etc. (DVILA NETO, 2005)
Esta forma de suposto desenvolvimento, que combina o de-
senvolvimento endgeno com o exgeno, se transfgura em um projeto
poltico-ideolgico que opera em duas dimenses interligadas: exige
que a comunidade se autossustente por seus prprios meios e recur-
sos, e transfere para a conscincia global o projeto de igualdade entre
os membros, tornando cada vez mais distante a realizao da dialtica
particular-universal.
Esse iderio bem como as prticas sociais dele advindas reduzem
a sociedade a um ajuntamento de identidades individuais. As prticas
sociais, entre elas as educacionais, so reduzidas a escolhas pessoais, a es-
tilos de vida, a cdigos e padres de grupos diferenciados. Neste sentido,
no existem mais confitos e sim opes individuais que se coadunam
ou no com os cdigos e padres de outros indivduos ou grupos. O
social defnido como uma opo particular de cada um e a hostilidade
e a intolerncia nascem e so cultivadas no interior da demarcao de
fronteiras imaginrias nos mbitos laboral, cultural, tnico, musical,
na partilha de afetos, opes religiosas, bem como, de outras modalida-
des que vo sendo criadas e recriadas nas chamadas aes afrmativas
que garantem o direito de ser diferente em uma sociedade defnida de
modo discursivo em que o princpio de igualdade articulado noo
de que de forma natural todas as pessoas so conclamadas a colaborar
com o desenvolvimento local e global (ambiental, aes afrmativas, a
tica, o politicamente correto, o ecolgico).
Esse tipo de sociedade fundamentada em uma concepo
a-histrica ao considerar que as identidades esto dadas naturalmente
e no determinadas nas relaes sociais historicamente construdas no
interior de um processo de identidades confitantes, e no de identida-
des imaginrias e individuais construdas discursivamente e reduzidas,
como diz Ellen Wood (1999, p. 128), a estilos de vida, a atributos e
escolhas pessoais criando uma comunidade imaginada e um novo
senso de camaradagem que passa a ocupar o lugar da solidariedade e
79
Olinda Maria Noronha
da emancipao coletiva construda no processo confitante das relaes
de classe.
Diante do exposto at aqui importa repetir como assinala Pea
Castro,
[...] que o trabalho, longe de perder a importncia, um
valor em alta no capitalismo realmente existente. O trabalho
econmico, desenvolvido dentro ou fora do sistema salarial,
tanto mais valorizado quanto maior o medo do desemprego
e da precarizao; quanto mais difcil se torna obter uma re-
munerao, nico caminho disponvel para a imensa maioria
da populao, para obter os meios de sobrevivncia. (PEA
CASTRO, 2003, p. 6)
Alm disso, a precarizao do trabalho leva precarizao das
oportunidades das atividades socialmente reconhecidas:
Quanto mais escassos so os empregos, menores so as
oportunidades de insero dos indivduos em atividades
socialmente reconhecidas, porque sabemos que muitas ativi-
dades essenciais para a vida civilizada trabalho domstico,
solidrio, voluntrio no so socialmente reconhecidas por
no serem atividades mercantis. A sociedade ao servio do
mercado (mal chamada de neoliberal, porque no nova
nem liberal) desvaloriza socialmente no s os trabalhadores
desempregados e os precarizados mas tambm os ocupados,
muitos deles colocados margem ou fora dos estreitos espaos
monetrios, que so os que monopolizam o reconhecimento
social e auto-afrmao da personalidade na tica estreita do
homo economicus. (PEA CASTRO, 2003, p. 6)
Finalizando provisoriamente estas refexes, mais uma vez, se
apresenta a indagao: e as sadas? Reafrma-se, ento, a importncia
da considerao das categorias contradio, mediao e prxis como
constituintes desta questo e que remete para o mbito da Histria e
da Utopia. A Utopia entendida aqui a partir do conceito marxiano
de prxis: a utopia revolucionria no fca sonhando acordada com
um ideal de trabalho e de educao, age de acordo com as condies
historicamente dadas para poder romper com elas. Da a importncia
80
Olinda Maria Noronha
da posse dos instrumentos tericos e metodolgicos que podem levar
compreenso, explicao e possvel superao das condies dadas. A
utopia marxiana implica na posse e no uso de instrumentos objetivos
de articulao entre teoria e prtica que possibilitam a desnaturalizao
das relaes que fundam a sociabilidade atual, dando ateno aos de-
terminantes histricos da realidade a fm de dimensionar corretamente
o presente compreendido como tenso dialtica entre o passado, o
presente e o futuro. Como afrma Hobsbawm na obra Era dos Extremos: o
breve sculo XX: 1914-1991,
Rejeitar um presente inaceitvel no signifca necessariamen-
te formular, quanto mais fornecer, uma soluo para seus
problemas [...] o futuro no pode ser uma continuao do
passado, e h sinais, tanto externamente quanto internamente
de que chegamos a um ponto de crise histrica. Se a huma-
nidade quer ter um futuro reconhecvel, no pode ser pelo
prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos
construir o terceiro milnio nessa base, vamos fracassar. E o
preo do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudana
da sociedade, a escurido. (HOBSBAWM, 1995, pp. 545 e
562)
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARSTEGUI, J. La Investigacin Histrica: Teoria y Mtodo. Barcelona: Crtica, Gri-
jalbo, 1995.
DVILA NETO, M. I. Os novos pobres e o contrato social: receitas de desen-
volvimento, igualdade e solidariedade ou da solidariedade, seus mitos, laos e
utopias. Disponvel em http://www.eicos.psycho.ufrj.br/artigos/osnovospo-
bres. Acesso em 24/11/2005.
GRAMSCI, A. A Concepo Dialtica de Histria. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1981. 4. ed.
HOBSBAWM, E. Era dos Extremos: o breve sculo XX: 1914-1991. So Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1995.
MARX, K. Introduo Crtica da Economia Poltica. In: ______. Manuscritos
econmicos-flosfcos e outros textos escolhidos. So Paulo: Abril Cultural, 1978. 2. ed.
[Coleo Os Pensadores].
81
Olinda Maria Noronha
MARX, K. Teses contra Feuerbach. In: ______. Manuscritos Econmicos-Filosfcos
e outros textos escolhidos. So Paulo: Abril Cultural, 1978a. 2. ed. [Coleo Os
Pensadores].
MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto Comunista. So Paulo: Ched Editorial, 1980a. 2.
ed. [Coleo Polmicas Operrias].
MARX, K.; ENGELS, F. O Capital. Crtica da Economia Poltica. Livro 1, vol. 1.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980b. 6. ed.
MARX, K.; ENGELS, F. Textos sobre Educacin y Enseanza. Madrid: Comunicacin,
1978.
MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alem. Rio de Janeiro: Zahar Editores 1965.
NORONHA, O. M. Polticas Neoliberais, Conhecimento e Educao. Campinas: Editora
Alnea, 2006. 2. ed.
PEA CASTRO, R. Novamente sobre a questo do trabalho. Trabalho Necessrio.
Revista Eletrnica do Neddate, ano 1, no. 1, 2003.
PEA CASTRO, R. Desvalorizao social do trabalho e ilusria centralidade da
educao. Educao on line. Disponvel em http://www.educaoonline.pro.br/art.
Acesso em 19/08/2007.
VZQUEZ, A. S. Filosofa da Prxis. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1977. 2.
ed.
VILAR, P. Iniciacin al vocabulrio del anlisis histrico. Barcelona: Crtica, 1980.
WOOD, E. M. O que a agenda ps-moderna? In: Ellen M. Wood; John B. Fos-
ter (Orgs.). Em Defesa da Histria: marxismo e ps-modernismo. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1999.
INTRODUO
1
O
foco deste captulo abordar a poltica pblica francesa no
domnio do trabalho, a partir de dois temas: a formao pro-
fssional continuada e a preveno de riscos do trabalho. Um
par temtico de interesse dos brasileiros, e, frequentemente,
solicitado durante as conferncias e formaes que tenho apresentado
no Brasil. Outra razo para a escolha desses temas decorre do fato de ser
a partir de sua anlise que se pode perceber como se constri, na Frana,
as polticas pblicas no campo do trabalho.
Na formao profssional continuada, colocamos em prtica
e desenvolvemos uma poltica para adapt-la s novas situaes de
trabalho, tipicamente francesas, nos domnios social, econmico e da
modernizao das ferramentas de produo. Trata-se, portanto, de
1 Ttulo original Lordre public franais: la formation professionnelle continue et la prvention des risques professionnels.
Traduo realizada pela Profa. Dra. Cristiane A. Fernandes da Silva, do Departamento de Cincias Sociais
da Universidade Federal de Uberlndia.
POLTICAS PBLICAS
FRANCESAS: FORMAO
PROFISSIONAL CONTINUADA
E PREVENO DE RISCOS
PROFISSIONAIS
Pierre Henri Trinquet
83
Pierre Henri Trinquet
uma poltica pblica interna Frana. J no que concerne proteo
dos riscos do trabalho, colocamos em prtica e desenvolvemos uma
poltica de inspirao europeia. Nesse caso, a poltica pblica francesa
apenas transcreve, para o direito francs, as injunes comunitrias cujos
detentores a ultrapassam. Nesse sentido, embora as polticas pblicas
que resultem da se situem no prolongamento de uma cultura francesa
da preveno, essa cultura de inspirao anglo-saxnica; o que torna
mais delicada a sua assimilao e integrao no ambiente das empresas
francesas.
importante explicitar, desde o incio, que no ser apresenta-
do aqui o que ocorre na Frana, nesses dois domnios, como exemplos a
serem seguidos, mas como experincias a serem estudadas, analisadas e
criticadas. Portanto, trata-se de lanar luz a duas realidades que podero
interessar aos brasileiros.
I. FORMAO PROFISSIONAL CONTINUADA (FPC), NA
FRANA
Alm de administrador sindical, durante mais de vinte anos,
do organismo de gesto e de impulso estratgica da Formao Profs-
sional e Continuada da Construo e de Obras Pblicas, na regio de
Provena-Alpes-Costa Azul e Corsa (AREF BTP PACA-C), sou tambm
um usurio e benefcirio desse sistema de formao profssional. Na
realidade, embora no dispondo do bacharelado, a FPC permitiu-me
obter o ttulo de doutor em sociologia e um Diploma Universitrio
(DU) de Ergologia, enquanto trabalhava em uma empresa da construo
civil. Em todas essas instncias de representao (sindicalista, adminis-
trador, usurio e, evidentemente, socilogo/erglogo) porto um olhar
cruzado, que busca fazer uma sntese derivada dessas diferentes postu-
ras. , portanto, a respeito dessa sntese que o presente texto dirige a sua
anlise.
84
Pierre Henri Trinquet
A relevncia da FPC na Frana
O importante avano do direito do trabalho francs resulta
de um contexto histrico e no de uma vontade poltica deliberada. Foi a
consequncia de uma situao socioeconmica particular que o imps,
de incio, aos parceiros sociais e, depois, ao Estado. Por vrias vezes a
formao profssional (Balano de Competncia, Validao de Aquisi-
o de Experincia, do Direito Individual Formao ao longo da Vida
Profssional) foi reformulada e, outras, enriquecida a fm de se adaptar
s necessidades demandadas, mas tambm, frequentemente, para res-
ponder s consideraes polticas, segundo a necessidade da maioria
governada. Atualmente, o sistema de formao profssional se tornou
um enorme aparelho no cenrio social francs. Cronologicamente,
como esse novo direito foi posto em prtica?
Inicialmente h os acontecimentos de maio-junho de 1968
na Frana. Esses acontecimentos constituem um perodo de censura
marcante na histria contempornea francesa. Eles intervm no des-
dobramento de dois mundos: um terminando, aquele chamado de
trinta anos gloriosos, de uma economia que desde o fm da guerra de
1945 cessava de progredir; outro emergindo e do qual se sente bem as
ameaas de recesso (crise petrolfera, fechamento de grandes unidades
produtivas, transformaes profundas nas ferramentas de produo e
nos sistemas administrativos).
Esses acontecimentos so caracterizados por uma vasta revolta
espontnea, de natureza, ao mesmo tempo, cultural, social, poltica e
flosfca, dirigida contra a sociedade tradicional, a capitalista, a impe-
rialista, e, mais imediatamente, contra o poder do general Charles de
Gaulle [N.E.: Presidente da Frana no perodo de 08 de janeiro de 1959
a 28 de abril de 1969]. Desencadeados por uma revolta da juventude
parisiense, depois ganhando o mundo operrio e, praticamente, todas
as categorias da populao sobre o conjunto do territrio, permanece
o mais importante movimento social da Histria da Frana do sculo
XX, que paralisou o pas durante quase dois meses. (DAMAMME et al.,
2008)
85
Pierre Henri Trinquet
No prolongamento desses acontecimentos e na movimentao
social e poltica que eles suscitaram, uma comisso chegou, em junho
de 1970, a um acordo paritrio (sindicato/patronato) unnime (o que
muito raro na Frana), instituindo esse novo direito ao assalariado.
Este acordo serviu de modelo a uma lei, votada em julho de 1971, que o
legalizava e o estendia a todos os assalariados franceses. (DUBAR, 2004)
O que esta lei prev?
Trata-se de um direito importante no plano social e, sobretudo,
no econmico e no poltico.
1. Ela institui um direito formao, para todos os assalaria-
dos, durante a jornada de trabalho remunerada como se
eles estivessem trabalhando, sem rompimento de contrato
de trabalho.
2. A formao pode ser decidida por proposta patronal e/ou
do assalariado. O empregador no pode se negar a uma
formao, salvo em casos muito precisos e previstos em lei.
3. Uma parte signifcativa do fnanciamento assegurada
pelas empresas. Atualmente, 1,6%, no mnimo, da massa
assalariada de empresas com mais de 10 assalariados deve
estar dedicada, imperativamente, formao dos assalaria-
dos. Nas grandes empresas, a cotizao real se situa, em
torno de 3% e mesmo 4%.
O que mostra claramente o interesse do patronato pela FPC.
Apresentam-se, a seguir, algumas cifras para situar essa dimenso fnan-
ceira:
1. Para as empresas com 10 assalariados ou mais, a obrigao
legal est fxada em 1,6% dos assalariados e encarregados
pagos pela empresa. Algumas empresas ultrapassam, larga-
mente, essa obrigao. A mdia nacional est acima de 3%.
86
Pierre Henri Trinquet
Para as empresas com menos de 10 assalariados, a obriga-
o legal est fxada em 0,55%.
2. Em 2006 (ltimos dados conhecidos), para cerca de 22
milhes de assalariados, 27 bilhes de euros foram consa-
grados FPC e aprendizagem [N.T.: em mdia 70 bilhes
de reais], dos quais 11,2 bilhes de euros foram destinados
s empresas para os seus assalariados (41%).
3. E 15,8 bilhes de euros destinados ao Estado, s admi-
nistraes e aos coletivos locais, dos quais 8,3 bilhes de
euros foram consagrados aprendizagem e formao de
jovens e desempregados que esto fora das empresas.
E essas somas esto aumentando todos os anos. Elas servem para
pagar os custos pedaggicos, os salrios dos trabalhadores em formao
e as taxas de funcionamento. A gesto da FPC, tanto fnanceira quanto
poltica, assegurada paritariamente (patronato e sindicato dos assala-
riados). O Estado apenas outorga um direito assegurado a posteriori, para
verifcar e validar o que se faz.
Diante dessas cifras possvel medir a importncia econmica
e social que a FPC representa e imaginar, facilmente, o interesse que os
parceiros sociais lhe conferem. Da mesma forma, alm dos interesses
sociais, econmicos e polticos, h necessidades reais de formao para
responder s exigncias do aparelho produtivo do pas, que est em
constante e rpida evoluo, tanto no plano tcnico e tecnolgico quan-
to organizacional.
Atualmente, qual constatao se pode tirar a respeito da
FPC?
A FPC na Frana permitiu:
a) Um acompanhamento social do desemprego e das recontrataes. Como
entre 1970 e 1980 passamos de poucos desempregados
a mais de um milho, foi preciso gerir essa situao so-
87
Pierre Henri Trinquet
cial. Em funo dessa gesto social do desemprego, no
houve exploso social, semelhante de maio-junho de 68,
como os polticos e o patronato poderiam temer.
b) Adaptao da mo de obra s transformaes dos sistemas e or-
ganizaes do trabalho: modernizao das empresas,
informatizao da produo e dos servios, novas organi-
zaes do trabalho para substituir o taylorismo/fordismo,
que se tornaram obsoletos e inefcazes.
c) Suprir certas carncias do sistema educativo escolar e universitrio,
considerado pouco adaptado e/ou em atraso em relao s
transformaes que surgiam (profssionalizao adaptada).
d) Alguns assalariados obterem promoes e avanos na carreira.
Esse direito est em constante evoluo e adaptao
medida que novas situaes sociais e econmicas aparecem,
as estratgias de estudos de fnal de semana, seu fnanciamento e sua
organizao passam por adaptaes. Seus objetivos tornam as demisses
menos trgicas por razes econmicas, derivadas da reorganizao in-
dustrial, frequentemente resultantes de uma mundializao econmica
e, sobretudo, fnanceira.
BALANO E CADERNETA DE COMPETNCIAS E
REFERENCIAIS DOS OFCIOS
Rapidamente apareceu a ideia de que no era sensato seguir
qualquer formao por qualquer assalariado. Da a ideia, nos anos 90,
dos balanos de competncias.
O Balano das Competncias
2
permite a um assalariado fazer
observaes sobre suas competncias, atitudes e motivaes e defnir
2 Mais informaes sobre os Balanos de Competncias, ver em http://www.droit-individuel-forma-
tion.fr/dif-bilan-competence.html.
88
Pierre Henri Trinquet
um projeto profssional ou de formao. Realizado por um prestador
de servio exterior empresa, segundo etapas bem precisas e defnidas
por lei. Pode ser decidido pelo empregador, mas com o consentimento
do assalariado ou realizado por iniciativa do prprio assalariado, que
remunerado e dispensado do trabalho. O que d lugar redao de um
documento de sntese: a caderneta de competncia, com a fnalidade de defnir
ou de confrmar um projeto profssional, se for o caso, um projeto de
formao para completar suas competncias.
Os Referenciais de Ofcios foram elaborados, por centenas de
profssionais, para guiar a apreciao do analista. Mas, esses Referenciais
s levam em conta a tcnica e as normas, e no, j que isso impos-
svel, o saber investido de cada profssional. Teoricamente, isso pode
ser sedutor, mas est longe de ser fcil e confvel. Trata-se sempre de
um julgamento trazido por uma pessoa externa sobre um profssional.
O que , ergologicamente falando, um absurdo. A ergonomia, de incio, e a
ergologia, depois, mostraram que a atividade do trabalho no se reduz
aplicao mecanicista dos procedimentos e das normas. Como sustenta
Y. Schwartz que o principal instigador da abordagem ergolgica ,
h sempre uma dialtica, uma sntese, um encontro entre o prescrito,
absolutamente indispensvel, e uma adaptao de cada indivduo, que
derivam, essencialmente, de sua histria, de sua experincia, de seus
valores etc. (seu saber investido) (TRINQUET, 2009; SCHWARTZ; DURRIVE,
2007). O que impossvel de estimar no curso de uma anlise terica,
qualquer que seja a competncia do analista.
Os especialistas que fazem esse Balano e que redigem as Ca-
dernetas de Competncias s levam em conta esse primeiro ingrediente,
ou seja, a tcnica e as normas, j que para eles, o trabalho somente
uma tcnica. Eles se esquecem do humano. Ignorando a realidade do
trabalho humano, os Balanos de Competncias e os Referenciais de
Ofcios tm uma viso muito simplista e, portanto, errnea da realidade
da atividade de trabalho. Concluso: tais Balanos, praticamente, no
so mais utilizados. O que no ocorre com a Validao das Aquisies
Profssionais aps a Experincia.
89
Pierre Henri Trinquet
VALIDAO DAS AQUISIES DE EXPERINCIA (VAE)
3
A VAE consiste em um direito muito importante e dispe de
mais mrito do que os Balanos de Competncias. Trata-se de uma me-
dida que permite pessoa, qualquer que seja a sua idade, seu nvel
de escolaridade, seu status, fazer valer as aquisies de sua experincia
profssional, para obter, inteiramente ou em parte, um diploma, um
ttulo ou um certifcado de qualifcao profssional, reconhecido pela
educao nacional ou pela profsso do assalariado e inscrito no Reper-
trio Nacional de Certifcaes Profssionais. Na maior parte dos casos,
o candidato deve preencher um dossi detalhando sua experincia pro-
fssional e as competncias adquiridas. Em seguida, ele se apresenta a
um jri que decide validar todo ou parte do diploma visado. No caso de
validao parcial das aquisies, prescries de formao so propostas
ao candidato a fm de que ele obtenha a totalidade do diploma.
Em tese, uma vez que o diploma validado, o assalariado pode
requisitar uma promoo salarial. Infelizmente, na prtica, isso demora.
Foi considerando o fracasso dos Balanos de Competncias que a VAE foi
instituda. Como j foi dito, o Balano cabia a uma pessoa externa que
julgava a competncia profssional de um indivduo. O que ergologica-
mente impossvel. Com a VAE, mede-se a equivalncia entre os saberes
profssionais de um indivduo em relao aos saberes necessrios para a
obteno de um diploma reconhecido. O que mais realista.
DIREITO INDIVIDUAL NA FORMAO (DIF), AO LONGO
DA VIDA PROFISSIONAL
4
Institudo pela lei de 4 de maio de 2004, o DIF prev que todo
assalariado dispe de um crdito de 20 horas de formao por ano,
acumulvel por 6 anos (ou seja, 120 horas). Portanto, atualmente, na
3 Ver mais informaes sobre a VAE no site ofcial: http://www.vae.gouv.fr/
4 Mais informaes sobre DIF disponvel em http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-
-pratiques,89/fches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/le-droit-individuel-a-la-forma-
tion,1071.html
90
Pierre Henri Trinquet
Frana, todos os adultos tm o direito de alternar os perodos de for-
mao remunerada com os de atividade profssional, em uma perspectiva
de evoluo ao longo de toda a sua vida profssional. o assalariado
que decide o que ele quer ou no fazer em relao sua funo atual.
O empregador no pode se opor, salvo em casos muito precisos e pou-
co numerosos. Por exemplo, se j h muitos assalariados em formao
e a ausncia do solicitante colocar a empresa em risco. Ou se todo
o oramento da formao j foi empregado. Nesses casos extremos,
o empregador pode prorrogar a formao, mas no recus-la. Essa
uma nova e importante evoluo da FPC. Ela permite projetar um de-
senvolvimento, um plano de carreira, sustentado por uma sucesso de
formaes adaptadas. Importante salientar que esse um direito de todo
assalariado, qualquer que seja o seu contrato de trabalho: seja por tempo
indeterminado ou precrio.
Declarao do Presidente da Repblica Francesa
Para compreender melhor a importncia que o Estado francs
concede FPC, vale conferir a declarao do presidente da Repblica,
Nicolas Sarkozy, no ms de maro de 2009:
A formao profssional a liberdade de aprendizado de uma
mulher ou de um homem para realizar uma nova profsso,
seja qual for o seu status social, independentemente da sua
idade, qualquer que seja o seu trabalho atual ou desejado. Esta
uma questo fundamental para o futuro do nosso pas.
5
Anlise e crticas FPC francesa
Incontestavelmente, a FPC, na Frana, representa um grande
avano socioeconmico. Ela permitiu a adaptao da mo de obra s
transformaes estruturais, tecnolgicas e sociolgicas e mesmo so-
5 Discurso disponvel na ntegra em http://www.elysee.fr/documents/index.
php?mode=view&lang=fr&cat_id=7&press_id=2384
91
Pierre Henri Trinquet
cietrias. Postos de trabalho desapareceram, outros foram criados com
as tcnicas, tecnologias, novas normas, em particular com a informa-
tizao da produo e dos servios etc. Defagraram-se, assim, grandes
transformaes. A FPC contribuiu, enormemente, para que todas essas
alteraes transcorressem efcazmente e sem muitos prejuzos e revoltas.
Pode-se dizer que todos conseguiram uma vantagem: assalariado, patro
e polticos. No obstante, em minha experincia de benefcirio, erg-
logo e, sobretudo, de sindicalista militante no seio dessa estrutura, pelo
menos trs falhas merecem destaque e dispor de certo interesse para os
brasileiros, e que apresento a seguir.
1. O paritarismo e o poder da mo do patro sobre a FPC
O paritarismo signifca que em todas as instncias de deciso
quaisquer que sejam, nacionais, locais ou profssionais uma metade
dos membros composta por organizaes patronais interessadas e a
outra metade, em igual quantidade, composta por cada uma das cinco
organizaes sindicais francesas representativas, a saber: Confederao
Geral do Trabalho (CGT), Confederao Geral do Trabalho Fora
Operria (CGT-FO), Confederao Francesa dos Trabalhadores Cristos
(CFTC), Confederao Francesa Democrtica do Trabalho (CFDT) e
Confederao Geral dos Quadros (CGC). Teoricamente, esse tipo de fun-
cionamento pode parecer sedutor. A realidade, porm, completamente
diversa. O resultado constatado um desequilbrio patente entre a me-
tade patronal que se apresenta, em todos os nveis estruturais: unida,
motivada e competente (eles dispem dos meios), e a outra metade
sindical: desunida, frequentemente, em concorrncia e desmotivada
pela inefccia constatada por suas aes. Consequentemente, a FPC na
Frana , de fato, dirigida para e pelo patro. Conforme se verifca na
prtica, as estruturas patronais dispem de uma viso apenas terica
da realidade do trabalho. O que est longe de ser sufciente para gerir,
efcazmente, a formao profssional; haja vista o fracasso dos Balanos
de Competncias.
92
Pierre Henri Trinquet
Quais solues se anunciam? Compartilho da viso de que esse pari-
tarismo funcionaria bem melhor com trs parceiros ao invs de dois. Do
meu ponto de vista, o terceiro parceiro deveria ser o Estado. O Estado
enquanto servio pblico servio do pblico, enquanto representante
do interesse pblico e nacional; o que no deve ser confundido com o
governo. Deixar a formao continuada nas mos apenas dos profssio-
nais parece-me um erro fundamental.
Na realidade, o Estado e os poderes pblicos no esto total-
mente excludos do dispositivo da FPC francesa, pois o Estado que a
legisla, quer dizer, que fxa os regulamentos, que controla, a posteriori, se
eles so aplicados adequadamente. Os poderes pblicos regionais tm a
misso de controle, de impulso e de ajuda. Eles fnanciam e gerem as
formaes profssionais de certas categorias (desempregados e aprendi-
zes, entre outros). Todavia, nesse nterim, deixa-se os parceiros sociais
profssionais decidirem entre eles: as prioridades, as necessidades, a di-
viso dos meios, os contedos pedaggicos, as escolhas de formadores
etc. Tudo isso em nome do princpio liberal, bem estabelecido, segundo
o qual a busca pela efccia regula, obrigatoriamente, as lacunas e fra-
quezas e tende em direo a uma organizao favorvel. Uma espcie
de mo invisvel, cara a Adam Smith e a todos os liberais partidrios
do Estado mnimo. Postura que desconsidera os jogos sociais, polticos
e econmicos que atravessam toda esfera do trabalho assalariado, em
geral. De acordo com a experincia, rapidamente admite-se que essa
postura faz com que se prime no pela busca da efccia, mas sim por
outros interesses.
Do meu ponto de vista, no permitir aos representantes do
Estado, enquanto mantenedores do interesse pblico, a participao em
todas essas escolhas essenciais, quer dizer que:
a) Na FPC no h interesses sociais e nacionais a se levar em
considerao, mas somente problemas de carter profssio-
nal e tcnico a resolver. O que irrealista.
93
Pierre Henri Trinquet
b) Quando esses interesses existem, so completamente con-
siderados e controlados pelos prprios profssionais, sem
necessidade de recorrer aos representantes do Estado. O
que tambm irrealista e errneo.
2. Confuso entre emprego e trabalho
Em face dessas transformaes socioeconmicas, evocadas an-
teriormente, surgiu, rapidamente, aos nossos responsveis polticos, a
necessidade de organizar um acompanhamento social de todas essas
transformaes previsveis ou em curso. Percebeu-se, portanto, desde
o incio, que a ligao entre formao e emprego foi estabelecida.
Entretanto, esta premncia da relao formao/emprego oculta, de
certa forma, os laos lgicos entre formao e trabalho. A ponto de que,
frequentemente, e inclusive nos textos ofciais, esses dois conceitos,
trabalho e emprego, serem confundidos.
O conceito de emprego remete a um contrato: Contrato de
tempo determinado ou Contrato de tempo indeterminado, interinos,
precrios, training etc. O que no permite prejulgar a atividade (trabalho)
a executar. Quanto mais se polariza a respeito de um emprego, e mesmo
da empregabilidade, para responder a necessidades sociais evidentes,
acaba-se por perder de vista que a formao deve ser concebida, orga-
nizada e gerida para responder s necessidades da atividade e no do
emprego. Ora, o que mobiliza os representantes polticos oferecer
trabalho, em maior nmero possvel, ou seja, emprego. Toda a energia
dirigida para esse objetivo. A atividade se torna, portanto, secundria e
negligenciada por esses representantes.
H confuso entre esses dois conceitos, trabalho e emprego, cer-
tamente vizinhos e fortemente ligados um ao outro, mas que remetem a
realidades bastante distintas; notadamente, quando se trata de formao.
Na ergologia, so conhecidas exatamente todas as consequncias suben-
tendidas e geradas a partir dessa confuso. De tanto se preocupar com
o emprego, o trabalho foi negligenciado. E, desse fato, a FPC na Frana,
mostra-se pouco interessada pelas evolues das atividades de trabalho e
94
Pierre Henri Trinquet
pelas formaes propostas, em sua essncia, no respondendo s neces-
sidades geradas por elas. Frequentemente tenho a impresso de que os
polticos ignoram, em suas decises, toda a realidade do trabalho; e isso,
certamente, acarreta problemas para a gesto e situaes de trabalho do
pas.
3. As formas e contedos pedaggicos: a ergoformao
Do meu ponto de vista, a terceira fraqueza concernente
formao continuada francesa remete aos aspectos pedaggicos organi-
zacionais. Quando no comeo dos anos de 1970 foi colocada em prtica
a FPC, sobre o plano pedaggico, nos inspiramos no nico modelo que
tnhamos em mos, quer dizer, aquele da Educao nacional. E, desde
o incio, as formaes foram, naturalmente, realizadas a partir desse
modelo. Particularmente, no me oponho ao modelo escolar, que, alis,
mostrou a sua importncia, no cabendo a mim critic-lo aqui. Apenas
quero ressaltar que ao reproduzi-lo no se leva em conta a distino de
pblico. No se deve proceder da mesma forma, ou quase da mesma
forma, ao se dirigir a um pblico mais jovem e a um pblico de tra-
balhadores adultos, pois enquanto o primeiro est em formao inicial
e tem, praticamente, tudo a aprender, o segundo j possui um saber
investido, um saber de experincia, domnio em que queremos form-
-los e aperfeio-los em seu ofcio. Acrescenta-se a isso o fato de que,
frequentemente, esses assalariados guardam ms lembranas do seu
percurso escolar. Assim, depara-se com um problema para ser resolvido
durante essa formao.
Portanto, preciso inventar, experimentar outros modelos
pedaggicos, propor-se a outras confguraes de formao, e mesmo
buscar outros lugares de formao, diferentes daquelas tradicionais e ha-
bituais praticadas pela formao inicial. No departamento de Ergologia
dispomos de algumas ideias a esse respeito. Depois de Durrive (2003),
nomeamos essa nova maneira de conceber a formao dos trabalhadores
como: ergoformao.
95
Pierre Henri Trinquet
No departamento de Ergologia no h aquele que s tem a ideia
e aquele que s a experimenta. H 20 anos na regio da Provena-Al-
pes-Costa Azul e Corsa (sul da Frana), na construo civil, organizamos
o que chamamos de: formadores circulantes ou formadores no local.
Sua peculiaridade reside em, ao invs de os trabalhadores irem at o
formador, este que vai at o local de trabalho (no caso, o canteiro de
obras) e concebe a sua formao a partir:
1. De seu programa pedaggico;
2. Dos objetivos assinalados pelo solicitante; e
3. Das suas condies reais de trabalho que encontra in situ.
Dito de outro modo, o formador parte da realidade do trabalho
e, em funo dos objetivos defnidos, organiza uma formao adaptada.
Na prtica, esse tipo de formao profssional muito melhor assimilada
pelos trabalhadores porque esto mais ambientados do que quando vo
para um centro de formao. Frequentemente eles nos relatam: Aqui,
ns estamos em nossa casa!, mas isso ocorre tambm porque esse tipo
de formao realizado a partir da sua vivncia profssional. Isso trans-
corre com xito, embora a Frana no seja o pas de Paulo Freire, que
demonstrou a importncia de se levar em considerao o vivido dos
trabalhadores para conceber uma formao efcaz.
guisa de concluso sobre a FPC na Frana
No domnio das relaes entre trabalho e formao, o que
ainda precisa ser feito e inventado mais importante do que o que j
foi realizado. Todos ns temos uma parte de responsabilidade a assumir
nesse campo enorme e transnacional. Trocar, mutuamente, informaes
sobre as nossas experincias e os nossos avanos nesse domnio , ab-
solutamente, indispensvel. O que nos espera no ser fcil de elaborar
e de colocar em prtica. O importante compreender bem e analisar o
problema real que colocado, a cada vez, diferentemente, e buscar meios
adequados para resolv-los, a partir de uma viso realista da atividade e
do trabalho. Na minha viso, a primeira revoluo cultural a realizar
96
Pierre Henri Trinquet
compreender e admitir que os trabalhadores, sejam da indstria ou da
educao, possuem um saber. E que este saber constitui um verdadeiro
saber, complementar quele do educador/formador e que ele deve ser
utilizado em sua prpria formao. Em vrios pontos concernentes
sua atividade, os trabalhadores tm coisas a ensinar aos educadores/
formadores. E isso inteiramente compreensvel!
Entretanto, preciso se indagar: Como fazer para utilizar esse saber?
Como coloc-lo em dialtica com os saberes dos educadores/formadores? E a, o cam-
po de possibilidades imenso. Trata-se de um domnio quase virgem.
Ainda h tudo para ser inventado, experimentado, adaptado, atualizado
sem cessar. Portanto, o trabalho a ser realizado enorme e o futuro, em
grande medida, depende disso. Muito embora isso no seja trivial de
ser feito, por experincia certifco que se trata de um tipo de formao
cativante e que quando experimentada no se pode mais deix-la.
Feita essa anlise sobre a elaborao e o desenvolvimento de
uma poltica pblica francesa de inspirao interna, ser analisado, a
seguir, um outro gnero de poltica pblica, a saber, aquela desenvolvida
a partir de concepes e de preocupaes externas Frana, ou seja, de
inspirao europeia.
II. A PREVENO DOS RISCOS PROFISSIONAIS NA
FRANA
Os danos do trabalho: um sofrimento social
Todos os estudos e anlises realizadas na Frana e na Europa,
desde h alguns anos, mostram uma degradao preocupante das con-
dies de trabalho e um recrudescimento inquietante nos danos do
trabalho. (SUMMER, 2003) Utilizo o termo danos do trabalho por
recusar o uso restrito de acidentes de trabalho declarados e de doenas
profssionais reconhecidas, como fazem a maior parte dos pesquisado-
res que se interessam por riscos de acidente de trabalho. No somente
porque se sabe, perfeitamente, que as estatsticas que possumos so
97
Pierre Henri Trinquet
distorcidas subestimando os acidentes de trabalho e no reconhecendo
numerosas doenas profssionais (TRINQUET, 2009, p. 33 e ss.), mas,
simplesmente, porque os acidentes do trabalho e as doenas profssio-
nais representam apenas uma pequena parte do conjunto dos danos
do trabalho.
preciso, portanto, incluir na composio de danos do
trabalho: a fadiga; o estresse; o envelhecimento precoce; a angstia; as
perturbaes da vida sexual e suas consequncias sobre a vida familiar e
social; a Sndrome de Burn-out
6
; os suicdios; todas as doenas referidas e
no reconhecidas; a insnia; a ansiedade; o nervosismo; o alcoolismo; a
dependncia qumica (drogas, medicamentos analgsicos, antidepressi-
vos e outros psicotrpicos) e os seus efeitos colaterais; a decadncia social
(os sem-teto), frequentemente, devido falta de trabalho, demisso e
s suas repercusses sobre a vida social e familiar; as desambientaes
e os desenraizamentos devido a mudanas etc. Em todos esses casos
citados, nem sempre o trabalho o nico responsvel, mas, raramente,
est ausente e, frequentemente, aparece como a causa desencadeadora
de todas as outras. Alguns pesquisadores no querem levar em conside-
rao esses danos do trabalho porque no se tem e nem se pode ter
estatsticas a respeito. Para muitos, apoiar-se em estatsticas, ainda que
no confveis, lhes d um sentimento de cientifcidade (o que resulta
da atrao pela matemtica por parte das cincias sociais). Mas, o fato
de no existirem estatsticas a respeito, signifca que esses danos no
existam ou que eles apenas no so considerados? Pode-se continuar a
ignor-los?
6 Em 1980, um psicanalista americano, Herbert J. Freudenberger, publicou um livro sobre o fenme-
no do cansao profssional que ele nomeou burn-out. Isso em referncia a um incndio interior: como
o que ocorreria em um imvel no qual o fogo teria atingido, tornando as pessoas vazias interiormente,
mas de aparncia intacta. Nesse caso, as vtimas dessa doena profssional fcam exaustas mentalmente,
mas, fsicamente tentam alcanar os objetivos irrealizveis ou preencher as tarefas insuportveis. Fre-
quentemente, o burn-out acontece de repente, embora seja resultado de um processo lento, de uma tenso
contnua durante meses ou anos at chegar exausto. Ningum est a salvo dessa sndrome. Por vrias
razes, a presso cada vez mais forte, as exigncias cada vez mais acentuadas e o risco de encontrar-se
sem trabalho torna-se bastante real. Alguns aspectos da personalidade podem, por vezes, predisporem
ao burn-out: uma maior propenso ansiedade, uma conscincia profssional mais estimulada, o perfec-
cionismo, o desejo de agradar, a incapacidade de delegar.
98
Pierre Henri Trinquet
importante sublinhar que no o trabalho enquanto tal o
responsvel pelo sofrimento social constatado, e sim as condies e as
situaes de trabalho na qual ele imposto. E nesse sentido, no h nada
de fatalidade divina. So os seres humanos que decidem, portanto, so
os seres humanos que podem repar-las. Logo, so sobre as situaes e
condies de trabalho que preciso agir para solucion-lo.
Um paradoxo de dupla entrada
Em 1992, o Ministrio encarregado pela indstria da construo
civil (TRINQUET, 1996, p. 291 e ss.) realizou uma pesquisa sobre riscos
profssionais na Frana e seus resultados surpreenderam ao revelar uma
aparente contradio pelo fato de os riscos do trabalho permanecerem
em nveis preocupantes apesar de:
Uma forte regulamentao sustentada por um dispositi-
vo importante e dinmico, interno e externo empresa,
com Conselho, fnanciamento, controle e mesmo coero.
(TRINQUET, 1996, p. 89 e ss.) Na Frana, a sade e a se-
gurana do trabalho esto sob a responsabilidade de dois
Ministrios: o da Sade e o da Segurana. O essencial do
Cdigo do Trabalho e da atividade dos agentes do controle
est consagrado a esse problema. Uma rede muito com-
pleta de estruturas administrativas, patronais e sindicais se
apresenta em nveis nacional, regional e local, tanto nas
indstrias quanto nas empresas. Quanto aos meios fnan-
ceiros, longe de serem negligenciados, so consagrados;
o que justifca, amplamente, os custos exorbitantes, tanto
para a nao quanto para a indstria, desse sofrimento
social. (TRINQUET, 2009)
Todas as partes envolvidas nesse problema, dentro e fora
da empresa, tm interesse (com todos os desdobramentos
possveis desse termo) em melhorar a preveno. Nem
todos dispem da mesma anlise e das mesmas solues
99
Pierre Henri Trinquet
a propor, mas todos tm interesse em que haja o menor
ndice possvel de danos do trabalho, j que acarretam
custos fnanceiros mais elevados. Por consequncia, a von-
tade desses integrantes de agir nesse domnio no poderia
ser suspeitada.
Essa constatao nos conduziu a levantar a hiptese de que esse
paradoxo de dupla entrada s poderia ser explicado de duas formas, que
no so, necessariamente, exclusivas uma em relao outra:
1. Seja pela regulamentao, em seu contedo e sua estrutu-
ra, que, embora bem adaptada s caractersticas atuais do
setor industrial, insufcientemente aplicada. Nesse caso,
para melhorar a preveno de riscos do trabalho, basta
reforar as medidas existentes de coero e presso.
2. Seja pela adaptao insufciente e limitada das possibilida-
des de se resolver o conjunto de problemas. Talvez devido
a certas falhas conceituais na concepo da preveno, ou,
mais exatamente, de elementos conceituais fundamentais
negligenciados, e mesmo ocultados, at o presente. O que
explicaria, de um lado, as difculdades de aplicao da
preveno. Nessa tica, haveria espao para consider-la
em seus fundamentos, seus paradigmas, seus conceitos, a
fm de adapt-la s condies atuais da atividade do setor
industrial francs.
Verifcar qual dessas duas possibilidades a mais pertinente,
parece-nos ser um meio interessante para se compreender as causas
profundas e as solues possveis do sofrimento social.
100
Pierre Henri Trinquet
Falhas e lacunas conceituais
1. Viso negativa da preveno
Analisar os acidentes (os fracassos) passados para prevenir os
futuros uma viso dominante entre os especialistas em preveno.
Trata-se da anlise dita: a posteriori. Nesse sentido, se possvel cons-
tatar resultados, ento preciso admitir que a partir de alguns anos
estagna-se. Talvez se tenha alcanado os limites da efcincia dessa con-
cepo. Complementarmente a essa prtica dominante, no conviria
desenvolver tambm uma viso positiva? Quer dizer, se interessar pelas
situaes de trabalho que no causam prejuzo. Compreender porque,
em determinada situao de trabalho, tudo transcorre bem, permitiria,
certamente, compreender melhor porque em outro lugar se passa de
outro modo. Dito de outra forma, partir da realidade da atividade do
trabalho para criar as condies de sua execuo sem risco.
2. Causas reais e conforto ideolgico
Para alguns, os danos do trabalho so sempre consequentes,
cujas razes devem ser buscadas nos operadores (as vtimas); estes se re-
cusam, por razes difcilmente compreensveis, a aceitarem as instrues
e medidas de preveno que foram elaboradas em seu favor. Em resposta
a essa culpabilizao das vtimas, para outros, as razes devem ser bus-
cadas na preocupao de se economizar em tudo, inclusive na segurana
do trabalho, que mobilizaria os dirigentes da empresa. Essas perspecti-
vas, opostas em suas apresentaes esquemticas, ainda que no sejam
inteiramente falsas, no resistem a uma anlise mais minuciosa. Todavia,
devolvendo, sistematicamente, a responsabilidade sobre o outro, eles se
mostram bastante confortveis no plano ideolgico. isso que explica a
sua perenidade. Na realidade, a partir do momento em que se acredita
conhecer as razes dos danos do trabalho, freia-se a disposio de
buscar as suas causas profundas e reais que, efetivamente, devem ser
101
Pierre Henri Trinquet
buscadas em um conjunto de fatores cujas origens se encontram nas
carncias e difculdades constitutivas de toda situao de trabalho.
3. Utilizar as competncias especializadas dos assalariados
Os especialistas em preveno, tanto institucionais quanto de
empresas, tm uma viso terica do trabalho. O que at lgico se
tomarmos a sua formao como referncia. Dessa forma, os seus pro-
gramas tcnicos e organizacionais so concebidos, essencialmente, a
partir dessa viso. Em contrapartida, os operadores so confrontados e
conhecem, mais ou menos, a realidade do trabalho concreto e adqui-
rem, pela experincia, o saber-fazer no codifcado, no normatizado.
Constata-se a um potencial a ser valorizado. Ento, por que no associar
essas competncias complementares? E como colocar isso em prtica?
4. Conhecer e compreender o trabalho concreto
As causas reais dos danos do trabalho devem ser buscadas
nos sistemas de trabalho em que elas so produzidas. (DERRIEN, 1985,
p. 579) No se pode interrogar sobre as causas profundas dos riscos
do trabalho sem, obrigatoriamente, se interrogar sobre o trabalho em
si, sobre o seu contedo, suas condies de realizao, suas motivaes
profundas, as causas de suas disfunes, de suas falhas. Em sntese, se
interrogar sobre as fontes enigmticas do trabalho humano. o que a
ergopreveno prope. (TRINQUET, 2009)
A COMPLEXIDADE DO TRABALHO
Em quais condies o trabalho constitudo? Para a ergologia,
isso ocorre sempre no mbito de um compromisso singular entre:
102
Pierre Henri Trinquet
a) As normas, as coeres e as prescries, bem defnidas e
conhecidas, que permitem elaborar o indispensvel pres-
crito.
b) O ser humano ou o coletivo humano, sempre singular e no
perfeitamente conhecido em suas potencialidades e seus
limites, mas capaz de gerir as distncias entre o trabalho tal
como ele foi prescrito e a realidade que ele encontra em
tempo real. Sem essa capacidade de usar de si para adaptar,
atualizar e transgredir o prescrito, o trabalho no poderia
ser realizado.
c) E o meio ambiente organizacional sempre parcialmente
infel, por defnio, e que preciso saber control-lo no
calor da hora.
O resultado desse encontro no pode e jamais poderia ser
perfeitamente controlado por antecedncia. Alm do mais, seria de-
sejvel que ele fosse? Isso signifcaria dizer que teramos robs e no
seres humanos, que deveriam fazer s aquilo a que foram programados.
Para quem? Em quais condies? Em que momento? Para quais fns?
Para qual usurio? Alguns pensaram nisso, outros acreditaram nisso.
Certamente, conhecem-se os xitos resultantes do trabalho dos robs,
mas tambm os danos e os resultados dessa loucura racional feita
pelo taylorismo-fordismo. preciso admitir, portanto, que no h
e que no pode haver situao ideal, perfeitamente defnida e previs-
vel. Isso consiste em uma viso apenas mentalizada, uma virtualidade,
uma teoria jamais verifcada. Todas as situaes de trabalho so e sero
sempre parcialmente singularizadas. uma iluso acreditar que se pode
objetivar, prever e conceber tudo, em relao ao trabalho concreto, para
garantir, plenamente, a segurana do trabalhador. Nada poder jamais
contemplar uma confgurao da atividade humana em sua totalidade.
Irremediavelmente sempre permanecer a variabilidade, o desconhe-
cido, o inconsistente, a energia livre. Conforme Schwartz (2001): O
trabalho sempre uma atividade enigmtica, mais ou menos, resingula-
rizada pelos debates, pelas dramticas do uso de si, ligando pessoas e
meios concretos em suas condies parcialmente novas.
103
Pierre Henri Trinquet
Da mesma maneira, jamais ser possvel dar conta da totalidade
de um ambiente de trabalho. Simplesmente porque no h como prever
todas as interaes, as consequncias das variaes desse meio sobre
o ser humano que o vive do interior e em tempo real. Tudo isso est
em movimento constante. Sob o pretexto de que difcil de apreender
tudo, ser que se pode continuar a fazer como se essa parte da reali-
dade no existisse? Sem dvida que no, mas preciso admitir que
ningum, nenhuma estrutura social, nem mesmo nenhuma cincia
humana pode pretender ter uma viso global e completa da realidade
do trabalho humano. Pois, este consiste em um tema transversal de to-
das as cincias humanas que se interessam por ele, sem que uma possa
pretender recobri-lo inteiramente. Todavia, todas tm sua pertinncia
e suas contribuies indispensveis. Em outras palavras, todas elas so
necessrias, mas nenhuma sufciente. Isso ocorre, entre outras razes,
porque seria muito complexa a existncia de uma nica abordagem
pertinente das situaes do trabalho e das condies de sua realizao
em plena segurana. Acreditar que possvel simplifcar o trabalho para
poder organiz-lo, isso consiste, defnitivamente, em desnaturaliz-lo,
empobrec-lo, criar impasses sobre alguns de seus elementos cons-
titutivos que ressurgiro sempre, cedo ou tarde, e levaro a solues
inefcazes, decepcionantes e mesmo inoperantes.
preciso, portanto, aceitar o trabalho humano em toda a sua
complexidade intrnseca. Em vez de desnaturaliz-lo e de iludir-se com
solues simplistas e, fnalmente, decepcionantes, seria melhor buscar
mtodos e abordagens que o vise em toda a sua complexidade.
A POLTICA PBLICA FRANCESA ATUAL NO CAMPO DA
SADE/SEGURANA DO TRABALHO
Com a prtica de estruturas europeias, o debate sobre a pre-
veno dos riscos profssionais passaram do nvel nacional para o da
comunidade europeia. O que permitiu um debate mais rico e diversi-
fcado por sintetizar e colocar em dialtica experincias e concepes
104
Pierre Henri Trinquet
plurais, advindas da diversidade de nossos Estados. Na prtica, parece
que o essencial das lacunas e falhas, constatado anteriormente, foi con-
siderado.
Lei de 31/12/1991
A atual regulamentao francesa, no domnio da sade/segu-
rana do trabalho, deriva da lei de 31/12/1991. Esta lei fundamental
consiste na transcrio, para o direito francs, do quadro-diretivo
europeu de 12/06/1989. Suas inovaes e implicaes nos processos
preventivos remetem, em grande medida, s observaes j menciona-
das alhures.
Essa lei impe, via jurisprudncia, uma obrigao de resulta-
dos e no mais somente uma obrigao de meios (Ver a jurisprudncia
a seguir). Dito de outro modo, um empregador no pode mais se eximir
de sua responsabilidade simplesmente argumentando que colocou os
meios disposio dos assalariados. Ele deve verifcar que esses meios
so bem adaptados, atualizados e utilizados. Essa obrigao de resultados
tem implicaes no habituais e de responsabilidade para os empre-
gadores, concernentes sua culpabilidade penal. Situao que leva o
patronato francs a grande agitao; o que justifcado pela atualidade
jurdica francesa.
Ela anuncia princpios gerais inovadores e mesmo descon-
certantes, para um francs, mas que devem guiar todas as aes de
preveno. Em uma primeira leitura, esses princpios podem parecer
mais declaraes de boas intenes do que obrigaes propriamente di-
tas. Ou ainda, princpios mais generosos do que gerais. De todo modo,
preciso destacar que isso j representa algum avano. So obrigaes
legais impostas pela lei (artigo de Lei n 4121-1) e que so objetos de
uma ateno particular da parte dos agentes de fscalizao. Aqueles que
acompanham a atualidade jurdica a esse respeito podem confrmar essa
posio. Seguem esses novos princpios gerais
7
:
7 Todos os textos em itlico desse captulo foram extrados do texto da Lei, salvo indicao contrria.
105
Pierre Henri Trinquet
a) Evitar os riscos;
b) Avaliar os riscos que no podem ser evitados;
c) Combater os riscos em sua origem;
d) Adaptar o trabalho ao homem, em particular no que concerne concepo
dos postos de trabalho, assim como os equipamentos de trabalho e dos mto-
dos de trabalho e de produo, em vista, notadamente, de limitar o trabalho
montono e o trabalho cadenciado, bem como reduzir os seus efeitos sobre
a sade;
e) Levar em considerao o estado da evoluo da tcnica;
f) Substituir o que perigoso pelo que no o ou pelo que menos perigoso;
g) Planejar a preveno integrando-a em um conjunto coerente tcnica,
organizao do trabalho, s condies de trabalho, s relaes sociais e
infuncia dos fatores humanos;
h) Tomar medidas de proteo coletiva, dando-lhe prioridade em relao s
medidas de proteo individual; e
i) Dar as instrues apropriadas aos trabalhadores.
As implicaes potenciais da Lei n 4121-1 sobre o funciona-
mento e administrao da empresa so meras consequncias, quando se
respeita a regulamentao.
Ela instaura uma anlise a priori, enquanto na Frana estvamos
habituados a anlises a posteriori e mesmo a uma viso negativa a esse res-
peito. Ou seja, a obrigao de uma identifcao exaustiva dos perigos
existentes, seguida de uma avaliao dos riscos consecutivos s condi-
es de exposio dos assalariados a tais perigos. Esses riscos devem ser
transcritos em um documento particular chamado Documento nico
(DU):
Avaliar os riscos para a segurana e a sade dos trabalhadores, inclusive na esco-
lha de procedimentos de fabricao, de equipamentos de trabalho, de substncias
ou preparaes qumicas, na mudana de lugares de trabalho ou de instalao e
de defnio de postos de trabalho.
106
Pierre Henri Trinquet
A mencionada avaliao deve ser atualizada, pelo menos, uma
vez por ano e deve resultar na elaborao de um plano de aes delibe-
radas:
Em seguida a essa avaliao e conforme a necessidade, as aes de preveno,
assim como os mtodos de trabalho e de produo praticados pelo empregador,
devem garantir um melhor nvel de proteo da segurana e da sade dos traba-
lhadores e serem integradas no conjunto das atividades do estabelecimento e em
todos os nveis dos quadros.
Ela preconiza a sinergia dos atores envolvidos e a considera-
o do trabalho real.
[...] a abordagem de preveno fundada a partir de co-
nhecimentos complementares de ordem mdica, tcnica e
organizacional, tanto no estgio de avaliao dos riscos quan-
to no de elaborao de uma estratgia de preveno [...]. Os
atores internos da empresa contribuem para a abordagem da
preveno [...]. As instncias representativas de pessoal [...] es-
to associadas ao processo de colocar em prtica a preveno,
tanto em relao avaliao de riscos quanto da preparao
das aes de preveno. (Circular n 6 DRT de 18/04/2002)
8
Assim, a preveno de riscos do trabalho sai do domnio dos
peritos para se abrir para a pluridisciplinaridade em funo da obri-
gao de se considerar o trabalho real para alm do trabalho prescrito
, contando com a participao dos prprios assalariados e/ou os seus
representantes. Porm, no fcil para alguns responsveis admitirem
que os assalariados tm algo a dizer sobre a sua prpria segurana. O
que, certamente, decorre das sequelas dos modelos tayloristas e/ou
fordistas e da sacrossanta separao entre concepo e realizao e/
ou de um excesso de autoritarismo irracional nos dias atuais. Talvez, seja
nesse sentido que se deve buscar o verdadeiro sentido da modernidade!
Ela induz corresponsabilidade entre aquele que ordena e
os seus subcontratados. O que deve limitar, completamente, a exte-
riorizao dos riscos aos quais estvamos habituados. E o que tambm
8 Disponvel em http://www.ac-orleans-tours.fr/fleadmin/user_upload/rh/hygiene_et_securite/
textes/Circulaire_18-04-2002.pdf
107
Pierre Henri Trinquet
consiste em uma maneira, pouco elegante e, sobretudo, pouco efciente,
de jogar as responsabilidades sobre os mais fracos. Buscar admitir um
termo jurdico no tem, portanto, grande signifcado. Juridicamente
falando, a responsabilidade enquanto chefe de empresa no mais fun-
dada somente sob o exerccio de sua direo e interveno direta, mas
tambm e isso relativamente novo sob o fato de que o benefcio
do trabalho serve sociedade usuria e que, alm disso, est integrado a
um conjunto produtivo proveniente das ordens da empresa em questo.
Ela no pode, portanto, se exonerar mais de toda responsabilidade e,
ao contrrio, isso demanda de sua parte uma forte vigilncia contnua,
tendo em vista o aumento de riscos gerados pela coatividade.
[...] sem prejuzo de outras disposies do presente cdigo, quando em um
mesmo ambiente de trabalho, os trabalhadores de vrias empresas estiverem
presentes, os empregadores devem cooperar para colocar em prtica as disposies
relativas segurana, higiene, sade [...]
Essa lei estabelece ainda regras particulares de preveno de
riscos cancergenos, de mutaes genticas e de txicos para a repro-
duo (reprotxicos) (CMR). Riscos que so muito preocupantes,
sobretudo, em funo dos novos produtos utilizados, de seus diferentes
efeitos sobre a sade e tambm sobre a mortalidade dos assalariados. O
amianto dispe dessas regras, porm, infelizmente, essa no a nica
substncia perigosa utilizada; a lista dos CMR longa e, por vezes, sur-
preendente. Por isso, , fortemente, aconselhvel consult-la.
Por ocasio de uma interveno em uma empresa de solda,
informei aos trabalhadores sobre os riscos reprotxicos da fumaa
derivada do equipamento de solda eltrica. Eles os ignoravam. Recordo-
-me, nitidamente, de uma de suas reaes: Ah! Ento, por isso que nos
aborrecem tanto por causa do nosso aspirador!. Como eram todos homens na
for da idade, eles passaram a ter, desde ento, uma outra viso, cla-
ramente mais interessada, de seu sistema de aspirao de fumaa, que
eles mesmos haviam inventado para responder ao que acreditavam ser
apenas um molestamento administrativo. O cdigo do trabalho espe-
cifca que, a partir daquele momento:
108
Pierre Henri Trinquet
Para toda atividade susceptvel de apresentar risco de exposi-
o aos agentes cancergenos, mutaes genticas ou txicos
para a reproduo, o empregador encarregado de avaliar a
natureza, o grau e a durao da exposio dos trabalhadores, a
fm de poder apreciar todo risco concernente a sua segurana
ou a sua sade e de defnir as medidas de preveno a serem
tomadas. Essa apreciao deve ser renovada regularmente,
notadamente para levar em considerao a evoluo dos co-
nhecimentos sobre os produtos utilizados e as mudanas de
condies que podem afetar a exposio dos trabalhadores
aos agentes cancergenos, de mutao gentica ou txicos
para a reproduo. (Art. R231-56-1)
Certamente, a lei no pode, sozinha, resolver todos os proble-
mas. Ainda preciso que ela seja aplicada e para isso, que seja, antes,
conhecida e admitida. O objetivo aqui consiste em mostrar que, embora
isso no seja trivial, encontra-se no campo do possvel. preciso, antes
de tudo, de disposio para enfrentar tal situao. Ser que as instncias
que representam esse sofrimento social so sufcientemente mobiliza-
doras e, sobretudo, ser que a vontade das empresas de levar em conta o
social e tambm a regulamentao e o judicirio, alm dos seus aspectos
fnanceiros e tcnicos, , efetivamente, real? A que reside a questo! A
que tambm se encontra a soluo!
Responsabilidades e papel dos empregadores
Conforme o artigo L. 4141-2, da lei de 31/12/1991, se um
acontecimento lamentvel se defagra porque no se tomou as medi-
das necessrias. A jurisprudncia atesta a obrigao da segurana do resultado
do empregador e a sua falha inescusvel, no caso de risco no evitado pelas
seguintes decises:
109
Pierre Henri Trinquet
Concernente s doenas profssionais:
Cassao Social
9
, 28 de fevereiro de 2002:
O empregador incumbido da obrigao da segurana de resultado em virtude
do contrato de trabalho, notadamente no que se refere s doenas profssionais. A
no observncia dessa obrigao se caracteriza como falta inescusvel no sentido
do artigo L452-1 do Cdigo de Segurana Social, quando o empregador tinha
ou deveria ter tido conscincia do perigo ao qual o assalariado foi exposto, mas
no tomou as medidas necessrias para preserv-lo.
Concernente aos acidentes do trabalho:
Cassao Social, 11 de abril de 2002:
Em virtude do contrato de trabalho lig-lo ao seu assalariado, o empregador
incumbido da obrigao da segurana de resultado, notadamente no que se refere
aos acidentes de trabalho; a no observncia dessa obrigao se caracteriza como
falta inescusvel no sentido do artigo L452-1 do Cdigo de Segurana Social,
quando o empregador tinha ou deveria ter tido conscincia do perigo ao qual o
assalariado foi exposto, mas no tomou as medidas necessrias para preserv-lo.
A partir da, pode-se afrmar que desde que haja reconhecimen-
to de um dano do trabalho, qualquer que ele seja, isso presume a falta a
uma obrigao de segurana j que esta o resultado dessa falta. Quan-
do h um processo, a questo no mais determinar a responsabilidade
do empregador, uma vez que ela , sistematicamente, reconhecida, em
virtude da lei de 31/12/1991 e da jurisprudncia. S resta aos juzes
defnirem o peso da pena em vista dos resultados da busca e das deli-
beraes. Quando se interessa pela atualidade jurdica francesa, pode-se
constatar, em vista de certos julgamentos, que melhor ser um delin-
quente patronal, responsvel pela morte de vrias pessoas, do que ser
9 A Corte de Cassao a mais alta jurisdio da ordem judiciria francesa. Instalada prximo ao Pa-
lcio da Justia de Paris, ela tem a misso de revisar as demandas das partes, as decises emanadas dos
tribunais e das cortes, tanto penal quanto civil. Assegura, assim, por sua jurisprudncia, uma aplicao
equilibrada das leis.
110
Pierre Henri Trinquet
um ladro de batatas, sobretudo se, alm disso, se tem o fsico de um
magrebino. Para se convencer disso, basta se reportar, por exemplo, aos
julgamentos tais como: a exploso da fbrica AZF, em Toulouse; a queda
de linha telefnica do Pic-Bure, nos Altos Alpes da Provena; a queda da
passarela de Queen Mary, em Santa-Nazar etc. Mas, esses julgamentos
mais generosos, so mais rejeitados na lgica poltica do que na jur-
dica. Contudo, isso pode evoluir muito rapidamente como evoluem as
situaes polticas.
Os preceitos essenciais do artigo L. 4141-2
Resumindo os preceitos essenciais contidos no artigo L4141-2,
especifcados na Circular n 6 DRT, de 18 de abril de 2002, inseridos
no Cdigo do Trabalho e confrmado pela jurisprudncia: O empregador
garantidor da sade e da segurana de todos os assalariados, inclusive dos trabalhado-
res temporrios e, para uma parte de seus trabalhadores subcontratados
(corresponsabilidade).
Entretanto, sem afetar esse princpio, o artigo L4141-3 reconhece
que:
[...] incumbe-se, a cada trabalhador, tomar cuidado, em funo de sua for-
mao e segundo as suas possibilidades, de sua segurana e de sua sade, assim
como de outras pessoas envolvidas nos atos ou omisses do seu trabalho.
Em outros termos, aos olhos do legislador, o assalariado con-
tinua um cidado responsvel por seus atos, mesmo sob o regime de
subordinao jurdica que deriva de seu status de assalariado. O que
incomoda vrios sindicalistas, mas no a mim. Do meu ponto de vista
no se pode defender que um assalariado deva, em qualquer que seja a
circunstncia, desconsiderar a sua cidadania. Isso seria uma falta grave
contra o ser humano e cidadania presente em cada assalariado.
Como justifcar, humanamente, a sua falta de responsabilidade?
Pode-se admitir que no se incumbe a cada trabalhador de tomar cuidado [...]? Para
os militantes, a responsabilidade cidad , cada vez mais, admitida e,
inclusive, em tempos de guerra, ento, por que no para os assalariados?
111
Pierre Henri Trinquet
Alm do mais, no direito de aposentadoria, o assalariado tem, pelo fato
de sua responsabilizao, direito desobedincia no caso de perigo para
si e para os outros. Infelizmente, e preciso constatar bem isso, a relao
de foras presentes e o seu lugar de subordinao frente ao empregador,
torna esse direito, frequentemente, difcil de respeitar. No caso de danos
nos quais a sua responsabilidade est envolvida, ele s pode evocar as
circunstncias atenuantes e esperar pela compreenso dos juzes. Essa
responsabilizao se enderea igualmente aos quadros e no somente
aos executantes.
O empregador deve iniciar uma perspectiva global, voluntria e dinmica. Dito
de outro modo, ele no deve esperar que lhe peam ou que lhe impo-
nham, mas deve tomar a iniciativa. Em particular:
1. Defnindo uma estratgia, uma organizao e acordando
meios necessrios para a sua realizao e a sua efcincia.
O chefe do estabelecimento toma as medidas necessrias para garantir a
segurana e proteger a sade dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores
temporrios. Essas medidas compreendem as aes de preveno dos riscos
profssionais, de informao e de formao, como a prtica de uma organizao
e de meios adaptados.
2. Colocando em prtica as medidas acima sob a base de princpios gerais
de preveno, enunciados anteriormente.
3. Procedendo, como j indicado, a uma identifcao dos pe-
rigos, seguida de uma avaliao dos riscos e da elaborao
de um plano de ao demandado. O que pode ser ilustrado
pelo esquema apresentado abaixo. A [] avaliao dos riscos
constitui uma obrigao ao encargo do empregador, inscrevendo-se no qua-
dro de princpios gerais de preveno, a fm de engajar aes de preveno
de riscos profssionais. (Circular n 6 DRT). E tudo isso deve ser
feito seguindo uma metodologia muito precisa, defnida
pela Circular.
Para fazer isso, preciso: Planejar a preveno integrando-a em um con-
junto coerente, a tcnica, a organizao do trabalho, as condies de trabalho, as relaes
sociais e a infuncia dos fatores humanos.
112
Pierre Henri Trinquet
Esquema: Avaliar para prevenir
10
Em outros termos, convm colocar em prtica uma perspectiva
global, levando em conta os trs domnios listados a seguir, que esto
estreitamente ligados uns aos outros:
10 Fonte: Tabela Avaliar os riscos e programar as aes de preveno: modo de emprego. Ministrio
dos Negcios Sociais e da Solidariedade.
113
Pierre Henri Trinquet
1. Tcnico: ferramentas, material, instalao, tecnologia, equipa-
mento de proteo individual (EPI), produtos, arquitetura,
meio ambiente etc.
2. Organizacional: efetivo, planejamento, prazos, durao do
trabalho, formao, relaes sociais e interpessoais, coati-
vidade, gesto etc.
3. Humano: qualifcao, status salarial, forma fsica e psquica,
idade, sexo, informao, instruo etc.
Esses dois ltimos domnios (o organizacional e o humano)
encontram-se no campo das cincias humanas e sociais, um terreno
que, atualmente, me parece bastante desrtico nas empresas, sobretudo
nas Pequenas e Mdias Empresas/Indstrias (PME/PMI). Portanto,
preciso se armar de pacincia e de perseverana, pois, para convencer
alguns dirigentes, organizadores do trabalho e administradores, de que
o social no revela apenas senso comum e lgica popular, mas que
demanda estudos, pesquisas e um saber-fazer elaborado, no ser fcil.
Entretanto, no h outra alternativa: fundamental prevenir e facultar o
retorno experincia. Ele (o chefe da empresa) zela pela aplicao dessas medidas que
levem em conta as mudanas das circunstncias e tendam a melhoria das situaes existentes.
CONCLUSO ACERCA DA POLTICA PBLICA FRANCESA
NO DOMNIO DA SADE/SEGURANA DO TRABALHO
As novas obrigaes e regulamentos, de origem europeia, que
recaem sobre os responsveis de empresas francesas, foram apresentados
neste captulo. Contrariamente s leis precedentes, fortemente inspiradas
nos modelos tayloristas e/ou fordistas, que impem meios, procedi-
mentos e outras tcnicas a serem praticadas para respeitar as obrigaes
legais, esses novos regulamentos se inspiram nos avanos das cincias
ligadas ao trabalho e, mais particularmente, ergonomia. Fica a incum-
bncia de cada responsvel a defnio do que convm ser colocado em
prtica em cada situao particular, para obter os resultados previstos.
Em contrapartida, eles defnem, precisamente, uma metodologia a ser
colocada em prtica para proceder a avaliao dos riscos que deve prece-
114
Pierre Henri Trinquet
der a elaborao do plano de aes discutidas. Essa metodologia dialoga,
estreitamente, com o que a ergologia prope e, mais precisamente, com
a ergopreveno, que consiste na aplicao do mtodo ergolgico no
domnio da preveno do conjunto dos riscos do trabalho.
Para mensurar o impacto que pode ter essa nova concepo da
regulamentao em matria de sade/segurana no trabalho que est
na origem europeia , preciso considerar a sua caracterstica revolu-
cionria. Esse termo deve ser tomado no sentido de transformao e
de questionamento tanto organizacional quanto ideolgico. At ento,
a sade/segurana no trabalho era um problema confado, na Frana,
aos especialistas sob a responsabilidade do empregador. Esses deviam
elaborar seus sistemas preventivos a partir do trabalho tal como ele era
prescrito. O trabalho real era ignorado e at mesmo negado. Em outros
termos, ele no deveria existir e por isso no era reconhecido. A partir
dos referidos regulamentos, a preveno no trabalho passou a fcar sob
a responsabilidade do empregador, que deve garantir a sade/segurana
dos assalariados, porm confando-a a um coletivo pluridisciplinar, com-
posto inclusive pelos assalariados envolvidos. O que, frequentemente,
considerado um crime de lesa-taylorismo e de sacrossanta separao do
trabalho de preveno daquele que o executa.
Essa concepo est, fortemente, ancorada na cultura da maior
parte das empresas francesas. Para muitos empregadores, os seus as-
salariados no devem se envolver com a organizao do seu trabalho,
pois isso pertence, exclusivamente, ao domnio do empregador. Infe-
lizmente, na Frana, numerosos sindicatos e, sobretudo, sindicalistas,
compartilham desse ponto de vista, expondo-se ao colaboracionismo
de classes. Para eles, no cabe aos assalariados decidirem como devem
ser explorados. Sob o plano estritamente dogmtico, pode-se compreen-
der esse tipo de postura. O problema que, atualmente, todas as cincias
que se preocupam com o trabalho reconhecem que no se pode abordar
a atividade de trabalho, de forma pertinente, sem a participao dos
prprios assalariados, que so os nicos que possuem os conhecimentos
e saberes sobre o hic et nunc da sua realizao. Sem a participao dos
assalariados, uma parte signifcativa da atividade de trabalho ocultada.
115
Pierre Henri Trinquet
Na realidade, do exterior, quaisquer que sejam as qualidades e
boas intenes dos observadores, lhes ser sempre impossvel de ver e
compreender tudo. A histria recente da informatizao e robotizao
das ferramentas de produo lana luz sobre o que os erglogos no-
meiam de saber investido (TRINQUET, 2009, p. 145 e ss.), adquirido
na experincia da atividade do trabalho. Desde o comeo dessa aventura
intelectual da ergologia, foi essa descoberta que fundou a originalidade
dessa abordagem. Pode-se ler na quarta capa do livro fundador dessa
abordagem: [...] todo progresso do conhecimento do trabalho impe
a associao dos trabalhadores com a pesquisa e a refexo terica.
(SCHWARTZ; FATA, 1985)
neste nvel que reside a importante contradio que resta a ser
resolvida. De um lado, uma concepo patronal e, infelizmente, com-
partilhada por numerosos sindicalistas franceses , a da no participao
dos assalariados na elaborao de sua prpria segurana, que perdura
no atual sistema. E, de outro lado, os atuais avanos das cincias que se
preocupam com o trabalho e com a sua regulamentao, reconhecendo
que impossvel ser efcaz sem essa participao.
Esperamos que, com o tempo e com as nossas aes, essa
contradio seja sanada, pois se apenas esperarmos, esse sofrimento
social, representado pelo conjunto dos danos do trabalho, continua-
r a exercer fora sobre os trabalhadores.
Poltica Pblica, Atividade de Trabalho e Relaes Sociais
Qualquer que seja a sua inspirao, interna ou externa, uma
poltica pblica no domnio do trabalho sempre encontra jogos e re-
sistncias, no somente econmicas embora nem sempre verifcadas
, mas, sobretudo, culturais e mesmo ideolgicas. Quando se interessa
em estudar o trabalho, preciso reconhecer que a atividade de trabalho
sempre expresso de uma relao social. Que ela condicionada por
essa relao social e, sobretudo, pelo estado de foras sociais presentes.
Que toda tentativa em transformar a atividade de trabalho, seguindo o
estado dessas foras sociais presentes, pode ser a exemplo da lngua do
116
Pierre Henri Trinquet
flsofo Esopo a melhor ou a pior das situaes para os assalariados.
Tudo depende da fnalidade buscada pelos promotores dessas trans-
formaes e do estado de foras sociais vigentes. Atualmente, no nvel
mundial, essa relao muito vertical, muito hierarquizada e muito
orientada conforme fnalidades puramente econmicas as sucessivas
crises fnanceiras mostram claramente sua fragilidade , para permitir
responder efcazmente, tanto no plano social quanto no econmico,
a complexidade intrnseca do trabalho humano. no quadro de uma
redefnio dessa relao social que preciso conceber toda a proble-
mtica, caso se pretenda orientar em direo a solues confveis que
contemplem a maior parte das pessoas.
A ergologia pode ajudar a redefnir uma relao social que res-
ponderia melhor s exigncias sociais e econmicas de nossos pases, e,
sobretudo, que permitiria ao trabalho humano encontrar sua verdadeira
razo de ser, fundamental e ontolgica, que favorecer o desenvolvi-
mento de cada indivduo, tanto no plano humano quanto econmico
e social. Toda a histria da hominizao mostra a relao dialtica que
sempre h entre a evoluo humana e a evoluo da atividade laboriosa
e industrial. Para que a atividade encontre suas funes ontolgicas e
antropolgicas fundamentais, convm colocar o ser humano no centro
de todas as nossas preocupaes. Efetivamente, qual pode ser o interesse
do trabalho seno o de permitir um desenvolvimento equilibrado de
todos, em relao a todos esses planos?
Do ponto de vista ergolgico, o trabalho, enquanto ativi-
dade, consiste em uma necessidade para o homem. Pessoalmente,
sustento tratar-se de uma necessidade anloga ao ato de beber e comer.
Alguns psiquiatras chegam a afrmar tratar-se mesmo de um desejo.
(TRMOLIRES, 2007) Ainda que, na prtica, seja frequente vivenciar o
trabalho enquanto sofrimento, obrigao e mesmo uma maldio divina.
Infelizmente, na contemporaneidade, o que se constata, globalmente,
que o trabalho, na maioria dos casos, embrutecedor, alienante e mes-
mo traumatizante e, muito constantemente, mortfero. Todavia, no o
trabalho, em sua funo fundamental e ontolgica, que acarreta essas
perverses, e sim as condies de trabalho que so impostas. Condies,
por sua vez, imputadas pelos prprios seres humanos. Nesse caso, os
117
Pierre Henri Trinquet
seres humanos podem mud-las, fazendo-as evoluir favoravelmente no
interesse de todos e no somente no interesse egosta e pernicioso de
uns poucos.
Todas as polticas pblicas, desenvolvidas na esfera do trabalho,
contrariam essa realidade atual do trabalho. Trata-se de um problema
que concerne a todos, quer sejam brasileiros, franceses ou de qualquer
outro pas, do Norte ou do Sul, do Leste ou do Oeste. O futuro do
trabalho e, portanto, do ser humano, depende da postura assumida por
todos os indivduos, independentemente do seu tipo de insero.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CANGUILHEM, G. Le normal et le pathologique. Paris: PUF, 1996.
CLOT, Y. Travail et pouvoir dagir. Paris: PUF, 2008. (Col. Le Travail Humain).
DAMAMME, D. et al. Mai-juin 68. Paris: d. de lAtelier, 2008.
DERRIEN, M. Analyser les accidents du travail. In: CASSOU, J. et al. Les risques du
travail. Pour ne pas perdre sa vie la gagner. Tours: La Dcouverte, 1985, p. 578-582.
(Col. LEtat du Monde).
DUBAR, C. La formation professionnelle continue. Paris: La Dcouverte, 2004. 5 ed.
(Col. Repre).
DURAFFOURG, J.; VUILLON, B. (Org.). Alain Wisner et les tches du prsent. La bataille
du travail rel. Toulouse: Octars ditions, 2004.
DURRIVE, L. Le formateur ergologue ou ergoformateur: une introduction
lergoformation. In: SCHWARTZ, Y.; DURRIVE, L. Travail et Ergologie. Toulouse:
Octars, 2003, cap. 11, p. 295 e ss.
ODONNE, I. Redcouvrir lexprience ouvrire. Paris: Messidor/ditions Sociales,
1981.
SCHWARTZ, Y.; DURRIVE, L. (Orgs.). Lactivit en Dialogues. Entretiens sur lactivit
humaine (II). Toulouse: Octars ditions, 2009.
SCHWARTZ, Y.; DURRIVE, L. (Orgs.). Trabalho & Ergologia: Conversas sobre a
atividade humana. Trad. de Jussara Brito e Milton Athayde. Rio de Janeiro:
EdUFF, 2007.
118
Pierre Henri Trinquet
SCHWARTZ, Y.; FATA, D. LHomme producteur: autour des mutations du travail et
des savoirs. Paris: Messidor ditions Sociales, 1985.
SCHWARTZ, Y. Le paradigme ergologique ou le mtier de philosophe. Toulouse: Octars
ditions, 2000.
SCHWARTZ, Y. Trabalho e Valor. Trad. Maria das Graas de S. do Nascimento.
Tempo Social. Revista de Sociologia da USP. So Paulo, v. 8, n. 2, p. 147-158, out.,
1996a.
SCHWARTZ, Y. Pensar o trabalho e seu valor. Idias. Campinas, v. 3, n. 2, jul./
dez., 1996b.
SUMER Premiers rsultats de lenqute. 2003. Disponvel em http://www.
inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Docum
ent:EC84248F4DBD2896C1256F9A004EA5C9/$FILE/visu.html. Acesso em
06 fev. 2010.
TRMOLIRES, C. R. O Trabalho e o Sujeito. In: SCHWARTZ, Y. e DURRIVE, L.
(orgs.) Trad. de Jussara Brito; Milton Athayde et al. Trabalho & Ergologia: conversas
sobre a atividade humana. Niteri: EdUFF, 2007, p. 229-230.
TRINQUET, P. Prvenir les dgts du travail: lergoprvention. Paris: PUF, 2009. (Col.
Le Travail Humain).
TRINQUET, P. Matriser les risques du travail. Paris: PUF, 1996. (Col. Le Travail Hu-
main).
INTRODUO
1
A
pesquisa Determinantes das mudanas na formao para o trabalho com-
plexo no Brasil de hoje prioriza as mudanas da educao escolar,
porm, tambm incorpora as mudanas na educao poltica
do conjunto da populao brasileira, ou seja, as aes que
a burguesia brasileira vem implementando, por meio das polticas go-
vernamentais e por intermdio de aparelhos privados de hegemonia,
culturais e polticos, para a construo de uma nova sociabilidade con-
forme os requisitos do capital em tempos de novo imperialismo.
Dividimos este trabalho em duas partes: na primeira, a partir da
identifcao sucinta de duas abordagens que, do ponto de vista crtico,
1 O presente texto est inserido entre os resultados da pesquisa Determinantes das mudanas na formao para
o trabalho complexo no Brasil de hoje, fnanciada com recursos CNPq/Fiocruz, e constitui uma sntese de parte
do livro O Mercado do Conhecimento e o Conhecimento para o Mercado: determinantes da formao para o trabalho
complexo no Brasil contemporneo, publicado, em 2008, pela Escola Politcnica de Sade Joaquim Ve-
nncio/Fundao Oswaldo Cruz. Disponvel para download em http://www.observatorio.epsjv.focruz.
br/upload/Publicacao/pub13.pdf
FORMAO PARA O
TRABALHO: HISTRIA
E MTODO
Lcia Maria Wanderley Neves
Marcela Alejandra Pronko
120
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
procuram estabelecer a relao entre trabalho e educao, apontamos
alguns pressupostos metodolgicos indispensveis para uma abordagem
histrica da relao trabalho e educao na atualidade. E, na segunda
parte, partindo dos pressupostos metodolgicos enunciados, analisamos
as atuais mudanas nessa relao na realidade brasileira.
A RELAO TRABALHO E EDUCAO DO PONTO DE
VISTA CRTICO
Gaudncio Frigotto (2007, pp. 132-133), no Seminrio
Fundamentos da Educao Escolar do Brasil Contemporneo, fez uma
autocrtica quanto ao tratamento terico-metodolgico adotado pela
maioria dos estudos que relacionam, em nosso pas, trabalho e educao:
A leitura que fao dos anos de 1990, no campo especialmente
em que atuo trabalho e educao , que ns analisamos
pouco dialeticamente a questo da cincia, da tcnica e a
questo da reestruturao produtiva. Fomos pautados, em boa
medida, pelo determinismo. uma autocrtica, e me ponho
nela. O que signifca isso? Um sublinhar da importncia de
entender que a cincia e a tcnica so expresses de relaes
sociais e que, na sociedade de classes, so relaes de fora,
de poder; nas sociedades de classes perifricas, relaes de
fora mais cruas, mais violentas, mais letais, mais destrutivas,
porque a correlao de foras assimtrica.
A crtica que faz Frigotto da abordagem terico-metodolgica
utilizada nos trabalhos de natureza crtica que estudam a relao trabalho
e educao um bom ponto de partida para discutirmos essa relao.
Realmente, os estudos crticos sobre a relao entre trabalho e educao
no Brasil dos anos de 1990 centraram-se primordialmente na anlise
das repercusses para a educao escolar das profundas mudanas na
organizao da produo e no contedo e na forma do trabalho na atua-
lidade. Se bem que a mudana no desenvolvimento das foras produtivas
deva ser considerada no estudo da relao entre trabalho e educao, ela
no d conta de explicar de forma abrangente as mudanas no processo
de trabalho no capitalismo, nem as repercusses da decorrentes para
121
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
a formao para o trabalho nessas formaes sociais. Esta abordagem
acaba por se aproximar das anlises liberais que superdimensionam as
determinaes tcnicas das mudanas do processo de trabalho, em de-
trimento de suas determinaes polticas.
Qualquer anlise da estrutura do processo de trabalho no capi-
talismo deve tambm se orientar pela anlise da totalidade das relaes
sociais. A anlise das mudanas na estrutura do processo de trabalho
exige, portanto, o estabelecimento de relaes entre as mudanas no
processo de trabalho capitalista e as modifcaes na composio das
classes, nas estruturas polticas e nas aes do Estado em relao eco-
nomia e educao poltica e escolar. (BRIGTON LABOUR PROCESS
GROUP, 1998)
Nesse mesmo sentido, vale a pena registrar as consideraes
feitas por Leher (2002) quanto ao mtodo de anlise da relao entre
trabalho e educao nos pases de capitalismo contemporneo. Leher
chama a ateno para um aspecto que corrobora, no plano histrico, as
observaes terico-metodolgicas precedentes. Ele afrma, com pro-
priedade, reportando-se a Pelez (1998), que
[...] ao considerar apenas a dimenso estritamente instru-
mental da educao (habilidades e qualifcaes requeridas)
face dinmica do capital, o pensamento crtico no rompe
os marcos do economicismo, contribuindo para a hipertrofa
da crena no determinismo tecnolgico, com signifcativas
conseqncias desmobilizadoras. (PELEZ apud LEHER,
2002, p. 4)
Com isso, Leher alerta para a importncia da dimenso tico-
-poltica no tratamento da relao entre trabalho e educao, ao mesmo
tempo em que pe em evidncia a indissociabilidade das dimenses
cientfco-tecnolgica e poltico-ideolgica no estudo das determina-
es da natureza e da direo das polticas de formao para o trabalho
sob o capitalismo. Este segundo caminho terico-metodolgico toma
como pressuposto um certo conceito de trabalho e um certo entendi-
mento da especifcidade do trabalho no capitalismo.
122
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Por trabalho entende-se o processo em que o ser humano, com
sua prpria ao, impulsiona, regula e controla seu intercmbio material
com a natureza, ao mesmo tempo em que modifca sua prpria nature-
za. (MARX, 1988, p. 202) A ao humana no trabalho pressupe sempre
uma intencionalidade, um certo grau de racionalidade e o intercmbio
com os outros seres sociais. Nessa acepo, o trabalho permeia, embora
no esgote, o conjunto das relaes sociais.
Em qualquer tipo de organizao societria, o trabalho pode
dividir-se em simples e complexo. Trabalho complexo um conceito
formulado por Karl Marx no volume I de O Capital como par do conceito
de trabalho simples. Embora presentes em qualquer tipo de sociedade,
eles tm a sua natureza determinada historicamente, segundo a especi-
fcidade de cada formao social concreta e do estgio da diviso social
do trabalho alcanado pelas sociedades em seu conjunto. Enquanto o
trabalho simples se caracteriza por sua natureza indiferenciada, ou seja,
dispndio da fora de trabalho que todo homem comum, sem educao
especial, possui em seu organismo (MARX, 1988, p. 51), o trabalho
complexo, ao contrrio, caracteriza-se por ser de natureza especializada,
requerendo, por isso, maior dispndio de tempo de formao daquele
que ir realiz-lo.
A produo da existncia no capitalismo caracteriza-se pela
dupla e concomitante fnalidade de ser produtora de valores de uso e
produtora de valor. Em decorrncia dessa nova confgurao histrica, o
trabalho passa a se constituir, concomitantemente, em produtor de bens
materiais que satisfazem as necessidades humanas, quer provenham do
estmago, quer da fantasia, que se tornam veculos de valor de troca
(MARX, 1988). Como produtor de mercadorias, portanto, o trabalho
mantm sua caracterstica geral qualitativa de atividade adequada a
um fm, isto , o prprio trabalho (MARX, 1988, p. 202), ou seja, de
trabalho concreto ou trabalho til, e adiciona uma nova dimenso quan-
titativa, de trabalho abstrato, ou seja, de dispndio de trabalho humano
em geral que cria valor.
Como trabalho concreto, o trabalho no capitalismo produtor
de valores de uso; como trabalho abstrato, o trabalho produtor de va-
lor. Na condio de trabalho abstrato, o trabalho simples to-somente
123
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
parmetro de medio do dispndio de trabalho humano e o trabalho
complexo trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado, de
modo que uma quantidade dada de trabalho qualifcado [seja] igual a
uma quantidade maior de trabalho simples. (MARX, 1988, p. 51) Nessa
dupla e indissocivel dimenso de produtor de mercadorias e produtor
de valores de uso e de valor, o trabalho simples ou complexo passa
a ser considerado, respectivamente, nas suas dimenses qualitativa e
quantitativa.
Na dupla condio de trabalho concreto e de trabalho abstrato,
o trabalho simples e o trabalho complexo vo tendo suas caractersticas
reconfguradas, em boa parte, devido s mudanas na diviso tcnica do
trabalho e a decorrente hierarquizao do trabalho coletivo, bem como
das diferentes composies histricas das classes sociais. Essas altera-
es incessantes na confgurao do trabalho simples e complexo, no
capitalismo, esto relacionadas s necessidades do constante aumento
da produtividade do processo de trabalho mais especifcamente da
fora de trabalho e s necessidades de sua conformao tico-poltica
s incessantes alteraes das relaes sociais capitalistas, tendo em vista
a sua reproduo e, concomitantemente, ao estgio de organizao
das classes dominadas com vistas defesa de seus interesses econmi-
co-corporativos e tico-polticos.
medida que a produo material e simblica da existncia
se racionaliza
2
pelo emprego diretamente produtivo da cincia para a
reproduo ampliada do capital e medida que o trabalhador coletivo
necessita de adaptao aos valores e prticas da cultura urbano-industrial
que se instaura e se consolida ao longo do sculo XX, sob a lgica da
acumulao capitalista, novas exigncias passaram a ser apresentadas
pelo capital para a formao para o trabalho simples e para o trabalho
2 No capitalismo, a racionalizao do trabalho adquire um duplo e concomitante carter: a racio-
nalizao decorrente da introduo da cincia no processo de produo de valores de uso (trabalho
concreto) e a racionalizao como processo de extrao de mais valor (trabalho abstrato). Dessa forma,
o processo de racionalizao do trabalho no capitalismo no se confunde com Razo, ou seja, com a im-
posio de uma racionalidade abstrata no ordenamento do conjunto das relaes sociais. na primeira
perspectiva que se baseia a demanda por acesso educao escolar, de carter cientfco-tecnolgico,
pelo capital e pelo trabalho, de acordo com suas diferentes vises de mundo.
124
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
complexo, requerendo alteraes peridicas no contedo e na forma de
preparao para o trabalho.
Nos primrdios do capitalismo industrial, o trabalho simples
tinha um carter predominantemente prtico. No entanto, no capita-
lismo monopolista, com a generalizao da organizao cientfca do
trabalho, elementos tericos gerais e bsicos passam a ser introduzidos
na execuo do trabalho simples. Enquanto este possua um carter emi-
nentemente prtico e os valores e as prticas sociais eram reproduzidos
essencialmente atravs do cotidiano rgido de uma sociedade ainda ma-
joritariamente agrria, o local de trabalho era, ao mesmo tempo, o local
de formao. No entanto, o aumento da racionalizao do processo de
trabalho produtor de mercadorias e a disseminao de novos valores e
prticas prprios convivncia social urbano-industrial fazem com que
a escola, cada vez mais generalizada, se constitua em um local especfco
de formao para o trabalho.
A escola dividida em nveis e modalidades inerente hie-
rarquizao que se estabelece na produo efetivamente capitalista de
mercadorias, de natureza fexvel, baseada na variao do trabalho e
na prpria especifcidade da produo da vida em formaes sociais
que se ocidentalizam
3
. Desde os seus primrdios, portanto, a escola
detm uma dupla e concomitante fnalidade a formao tcnica
4
e a
conformao tico-poltica para o trabalho/vida em sociedade , que
vai se metamorfoseando de acordo com o desenvolvimento das foras
produtivas e com as mudanas nas relaes de produo, nas relaes de
poder e nas relaes sociais gerais, para que possam garantir ao mesmo
tempo a reproduo material da existncia e a coeso social.
Ao longo da expanso do capitalismo alteram-se os patamares
mnimos de escolarizao para o trabalho simples, que correspondem
a cada estgio de desenvolvimento das foras produtivas e das relaes
3 So consideradas ocidentais, para Gramsci, as sociedades que tornam complexa a estruturao das
suas relaes de poder. Nelas, o Estado se amplia, alargando concomitantemente a participao poltica
das classes sociais na aparelhagem estatal e nos aparelhos privados de hegemonia da sociedade civil.
4 Tcnica no sentido de conhecimentos e habilidades para o desempenho de qualquer atividade pro-
dutiva, seja ela material ou simblica. Nessa perspectiva, no deve ser confundida com a denominada
formao tcnico-profssional.
125
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
sociais de produo na cultura urbano-industrial. Esses patamares dife-
rem tambm em cada formao social concreta, de acordo com a sua
insero na diviso internacional do trabalho, especialmente no que
tange produo e difuso da cincia e da tecnologia no capitalismo
monopolista. O grau de generalizao alcanado pela escolarizao b-
sica, aquela destinada formao do trabalho simples, depende, em boa
parte, em cada formao social concreta, dessa dupla determinao.
As atuais mudanas qualitativas na produo capitalista da
existncia novas tecnologias de informao, comunicao e microe-
letrnica; demandas por novos contedos e formas de organizao
material e simblica da vida; consolidao da hegemonia econmica,
poltica e cultural da burguesia mundial apontam para a generaliza-
o do processo de racionalizao do trabalho simples sob a direo
do capital. Isso implica simultaneamente a ampliao quantitativa dos
anos de escolaridade bsica e uma organizao curricular voltada mais
imediatamente para o desenvolvimento de capacidades tcnicas e de
uma nova sociabilidade
5
das massas trabalhadoras, que contribuam para
a reproduo ampliada do capital e para a obteno do seu consenti-
mento ativo para as relaes de explorao e dominao burguesas na
atualidade.
Do ponto de vista do capital, portanto, a formao para o tra-
balho simples, no capitalismo monopolista, destina-se ao aumento da
produtividade do trabalho em funes indiferenciadas, progressivamen-
te mais racionalizadas, na produo da vida predominantemente urbana
e industrial e, concomitantemente, formao de um novo homem
coletivo
6
adaptado s novas exigncias das relaes de explorao e
dominao capitalistas.
Nos primrdios da indstria, o trabalho complexo era realizado
por um pequeno nmero de trabalhadores que ocupavam principalmente
5 Padro de sociabilidade a forma pela qual os homens e as classes produzem e reproduzem as con-
dies objetivas e subjetivas de sua prpria existncia, em um dado momento histrico, sob a mediao
das relaes sociais de produo e como resultado das relaes de poder. (MARTINS, 2007)
6 Segundo Gramsci (1999), pela prpria concepo de mundo, os homens pertencem sempre a um
determinado grupo, aqueles que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir. Somos con-
formistas de algum conformismo, somos sempre homens coletivos. tarefa educativa e formativa do
Estado, na condio de educador, criar novos e mais elevados tipos de civilizao, de homens coletivos.
126
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
funes de controle e de manuteno da maquinaria. Esses trabalhado-
res especializados possuam formao superior de carter cientfco ou
no domnio de um ofcio e assumiam, no local de trabalho, um papel
de prepostos dos proprietrios industriais na reproduo ampliada do
capital, distinguindo-se paulatinamente do conjunto dos trabalhadores
industriais. Os demais trabalhadores especializados, nesse perodo, eram
formados predominantemente em instituies superiores que no vin-
culavam a escolarizao superior s demandas mediatas ou imediatas da
produo, at que o progressivo aumento da racionalizao das relaes
sociais passou a demandar tambm o aumento e a diversifcao das fun-
es especializadas para organizao da nova cultura urbano-industrial
em moldes cientfco-tecnolgicos.
Esses trabalhadores especializados, intelectuais orgnicos
7
da
nova cultura, passaram a ser formados em instituies superiores refun-
cionalizadas, de modo a atenderem s demandas tcnicas e tico-polticas
desse novo estgio da produo e reproduo da existncia sob relaes
sociais capitalistas. Esse movimento aprofundou-se ainda mais com o
desenvolvimento do capitalismo em sua fase monopolista, quando a
organizao fordista do trabalho, de base cientfco-tecnolgica, se ge-
neralizava e foi, progressivamente, de modo acelerado, requerendo o
domnio cada vez mais especializado do conhecimento cientfco dire-
tamente produtivo por parte do trabalho complexo.
Simultaneamente, a socializao da participao poltica, o
aumento do volume e a diversifcao das organizaes da sociedade
civil, assim como a interveno direta do Estado na produo social
da riqueza, tambm contriburam para o aprofundamento do processo
de diversifcao e para o aumento do volume do trabalho complexo
ao longo do sculo XX. Tais mudanas exigiram da escola, em nvel
superior, alteraes quantitativas e qualitativas na sua conformao,
7 Ao defnir o intelectual como orgnico, Gramsci acrescenta uma importante determinao poltica
ao conceito de intelectual. Para esse autor, intrnseca a toda atividade intelectual uma certa capacida-
de tcnica e dirigente, organizadora. Assim, cabe majoritariamente ao intelectual orgnico, no mundo
capitalista, dar coerncia concepo de mundo da classe dominante. Os intelectuais revolucionrios,
orgnicos da contra-hegemonia, por sua vez, trabalham no sentido de dar coerncia concepo de
mundo da classe trabalhadora.
127
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
consubstanciadas na ampliao do acesso, na criao de novos cursos e,
simultaneamente, na peridica redefnio de seus objetivos e mtodos.
Considerando do ponto de vista do capital, portanto, a forma-
o para o trabalho complexo, no capitalismo monopolista de ontem
e de hoje, tem por fnalidade a preparao de especialistas que possam
aumentar a produtividade do trabalho sob sua direo e, simultanea-
mente, a formao de intelectuais orgnicos da sociabilidade capitalista.
O processo de ocidentalizao das formaes sociais urbano-in-
dustriais no sculo passado colaborou para a ampliao e a diversifcao
das funes intelectuais direta ou indiretamente produtivas. Cresceu,
nesse perodo, a demanda por intelectuais formuladores e disseminado-
res do conhecimento cientfco e tecnolgico no processo de trabalho
da grande indstria fordista e, de modo mais abrangente, em todas
as esferas societais, exigindo maior diferenciao na estruturao das
instituies formadoras para o trabalho complexo, materializadas no
aumento dos cursos de graduao e de ps-graduao em diferentes
nveis e cada vez mais em diferenciadas reas do conhecimento.
O grau de generalizao da formao para o trabalho comple-
xo em cada formao social concreta depende, em grande parte, do
lugar ocupado por essa sociedade na diviso internacional do trabalho.
Nas formaes sociais imperialistas, a pirmide educacional muito
mais aberta em seu pice do que nas formaes sociais capitalistas de-
pendentes. Entretanto, o nvel de conscincia poltica e de organizao
alcanado pela classe trabalhadora nas diferentes formaes sociais
constitui importante determinao de alargamento do acesso ao nvel
superior de ensino.
A generalizao da formao para o trabalho simples e para o
trabalho complexo se acelera, no decorrer do sculo XX, a partir do mo-
mento em que o Estado capitalista assume a organizao dos sistemas
educacionais, com vistas a garantir o aumento da produtividade da fora
de trabalho em tempos de extrao de mais-valia relativa e a responder
s presses de amplos segmentos da populao urbana por acesso
educao escolar.
128
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Assim, com a generalizao do emprego diretamente produtivo
da cincia, sob a direo do capital, foi-se defnindo para a educao
escolar a organizao de dois ramos de ensino na formao para o
trabalho complexo: o ramo cientfco e o ramo tecnolgico. O ramo
cientfco, herdeiro da tradio humanista, propiciou uma formao
de base cientfco-flosfca, mediatamente (e no imediatamente)
interessada na utilizao produtiva de seus pressupostos, conferindo,
historicamente, aos seus benefcirios um passaporte para as funes
de direo da sociedade. O ramo tecnolgico, por sua vez, caracterizou-
-se por uma relao mais estreita entre educao e produo de bens
e servios, fornecendo os princpios cientfco-tecnolgicos da tcnica
de forma mais imediatamente interessada na sua utilizao produtiva
e formando, principalmente, especialistas e dirigentes no mbito da
produo.
Nesse sentido, escolarizao tecnolgica no deve ser confun-
dida com as atividades de formao tcnico-profssional que visam ao
desenvolvimento de habilidades especfcas voltadas para sua aplicao
direta na produo de bens e, mais contemporaneamente, de servios,
ou seja, para o treinamento dos trabalhadores. Nesse processo de inser-
o cientfca direta na produo da existncia, sob a direo do capital, a
educao cientfca foi progressivamente se confgurando de forma mais
pragmtica, mais atrelada produo social da existncia, enquanto a
educao tecnolgica foi se afastando cada vez mais do sentido unitrio
e integrado preconizado por Marx e Gramsci e, portanto, da sua feio
emancipatria, e subordinando a transmisso dos fundamentos tecno-
lgicos aos requerimentos sempre crescentes de maior produtividade
do prprio capital.
As mesmas determinaes que levam racionalizao gene-
ralizada do trabalho simples no atual estgio do capitalismo mundial
novo imperialismo
8
conduzem concomitantemente reestruturao
qualitativa e quantitativa do trabalho complexo sob a direo do capital.
Isso implica simultaneamente a expanso da oferta de vagas no nvel
8 Novo imperialismo corresponde fase atual da diviso internacional do trabalho do capitalismo
monopolista, fenmeno que vem sendo estudado por Chesnais (2005), Wood (2003), Harvey (2005)
e Fontes (2007), entre outros.
129
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
superior da educao escolar no conjunto das formaes sociais e uma
organizao curricular voltada mais imediatamente para o desenvolvi-
mento tcnico e tico-poltico dos intelectuais urbanos de novo tipo
9
orgnicos da burguesia que possam garantir ao mesmo tempo a re-
produo das condies materiais de existncia nesta atual confgurao
histrica e a coeso social. Essa dupla determinao histrica emerge no
momento em que aumenta o grau de explorao da fora de trabalho
e o nvel de complexidade atingido pelas superestruturas sociais exige
a intensifcao de uma dominao de novo tipo a dominao pelo
consentimento ativo dos dominados.
Ainda que a escola no capitalismo sofra infuncia preponde-
rante da concepo de mundo burgus e das necessidades da reproduo
da fora de trabalho, ela, desde os seus primrdios, vem se constituindo
tambm em demanda da classe trabalhadora para o exerccio de tarefas
simples e complexas na produo da vida e para a compreenso das rela-
es sociais historicamente constitudas e do seu lugar nessas relaes. A
escola pode ser til classe trabalhadora como instrumento de barganha
por melhores condies de trabalho, como instrumento de alargamento
do grau de conscientizao poltica e como instrumento da formula-
o de uma concepo de mundo emancipatria das relaes sociais
vigentes. Mas, para que a educao escolar se transforme efetivamente
em instrumento de conscientizao da classe, ela precisa superar a sua
sempre crescente subsuno aos imperativos tcnicos e tico-polticos
da mercantilizao da vida, privilegiando na sua estruturao curricular
a omnilateralidade e a politecnia.
O grau de interveno da classe trabalhadora no ritmo e na
natureza da universalizao dos sistemas educacionais, no decorrer do
sculo XX, sempre esteve condicionado ao nvel de conscincia e de
organizao da classe nas distintas confguraes histricas das lutas
sociais.
9 Intelectuais urbanos de novo tipo, expresso empregada por Neves (2006) para caracterizar o im-
portante papel poltico desempenhado pelos intelectuais orgnicos da burguesia na atualidade, de con-
solidao da hegemonia burguesa, a partir da repolitizao da sociedade civil contempornea, caracte-
rizada por sua transformao em instncia predominante de conciliao de interesses e de ajuda mtua.
130
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Na atualidade, quando o modo de produo da existncia no
capitalismo atinge um patamar superior de racionalizao do trabalho
simples e do trabalho complexo, sendo requerida da escola uma sig-
nifcativa ampliao quantitativa em nvel planetrio, a desqualifcao
da poltica
10
, a ampla hegemonia da burguesia, o aumento exponencial
do desemprego, a fexibilizao e a precarizao das relaes de tra-
balho tm contribudo para reduzir o poder de interveno da classe
trabalhadora na defnio da natureza da educao escolar. Com isso,
a burguesia vem, mundialmente, aprofundando a dependncia da
escola aos mltiplos requerimentos do capital, atrofando assim as
possibilidades, oferecidas pela escolarizao, de construo de projetos
educacionais e societais contra-hegemnicos nas distintas formaes
sociais, pelas foras polticas que veem na formao para o trabalho
simples e para o trabalho complexo uma possibilidade transformadora
das relaes sociais vigentes. Mesmo assim, o acesso ao conhecimento
cientfco fragmentrio e unilateral, por parte signifcativa da populao,
pode vir a contribuir nessa direo, caso seja revertido o processo atual
de despolitizao da poltica, pelo aumento dos nveis da conscincia
coletiva da organizao popular.
Disso tudo, se depreende que as alteraes na natureza e na
direo da formao para o trabalho nas sociedades capitalistas contem-
porneas podem ser compreendidas com base na anlise do processo de
trabalho no capitalismo e das determinaes gerais e especfcas que afe-
tam, concomitantemente, as lutas de classes na produo da existncia.
E, ainda, que a relao entre trabalho e educao nas formaes sociais
capitalistas contemporneas no pode prescindir da anlise da poltica
educacional em geral no bojo do projeto societrio hegemnico em
nvel mundial, nacional e local.
10 A desqualifcao da poltica corresponde a um fenmeno que vem se adensando no universo
capitalista desde o fm da Guerra Fria. Tanto terica como empiricamente nega-se a disputa de projetos
societais e conclama-se construo de uma nova sociedade baseada na harmonia social. Ou seja, a
ideologia dominante, com vistas a negar as relaes de explorao e de dominao caractersticas das
relaes sociais capitalistas, tenta substituir o embate de classes antagnicas por um colaboracionismo
assistencialista.
131
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
AS MUDANAS NA RELAO TRABALHO E EDUCAO
NO BRASIL CONTEMPORNEO LUZ DE UMA
ABORDAGEM CRTICA
As atuais mudanas qualitativas e quantitativas na educao
escolar brasileira remontam segunda metade da dcada de 1980, anos
de efervescncia poltica no pas, marcados por uma crise do modelo
econmico dos anos de ditadura, pela crescente perda de legitimidade
do Estado desenvolvimentista, pelo crescente protagonismo da classe
trabalhadora no cenrio poltico nacional e pela crise conjuntural da
burguesia brasileira, fraturada por interesses distintos entre suas vrias
fraes, em especial entre as fraes monopolista e no monopolista,
nacional e estrangeira, atingidas de modo distinto pelas mudanas no
processo de acumulao capitalista no mbito mundial. Essa situao
geral se redefne a partir da segunda metade dos anos de 1990, quando
os dois governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso [N.E.: 1 de
janeiro de 1995 a 1 de janeiro de 2003] se empenham em implantar,
em nvel nacional, o projeto societal e de sociabilidade da burguesia mun-
dial para o sculo que se inicia, adequando a formao para o trabalho,
majoritariamente, s novas demandas de reproduo tcnica e tico-
-poltica do capital.
Constituem precondies decisivas nessa direo, nesse mo-
mento da histria, a aprovao de alguns dispositivos na Constituio
Federal de 1988 e as profundas mudanas sofridas pelo Anteprojeto de
Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional ao longo de sua tramita-
o no perodo entre 1989 e 1996. (SAVIANI, 1997; 1998)
Apesar das vitrias da classe trabalhadora na Constituio de
1988 a criao de um ttulo especfco de normatizao dos direitos
sociais, entre os quais a educao escolar, o direito greve, a sindi-
calizao dos servidores pblicos, o ingresso por concurso no servio
pblico , esta sofreu tambm algumas derrotas que abriram espao
para a redefnio dos marcos legais e das polticas educacionais nos
anos fnais do sculo XX e iniciais do sculo XXI. (NEVES, 1994)
132
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Vale a pena destacar, no debate constitucional, que os traba-
lhadores, por meio do Frum Nacional em Defesa da Escola Pblica na
Constituinte (Frum), propuseram e obtiveram xito relativo na sua
postulao de incluso da preparao para o trabalho como objetivo
da educao nacional. At ento, as Constituies do Brasil industrial,
anteriores a de 1988, haviam circunscrito a um direito individual e de
convivncia mtua. xito relativo, porque a redao fnal da Constituio
diluiu sua proposta original que associava a preparao para o trabalho
ao desenvolvimento da capacidade de elaborao e refexo crtica da
realidade, abrindo espao para que essa preparao pudesse se voltar,
prioritariamente, para o atendimento das necessidades imediatas do
mercado de trabalho.
A incluso da preparao para o trabalho como objetivo da
totalidade da educao escolar confere um sentido abrangente ao termo
educao profssional. Com isso, preparao para o trabalho deixa de
ser prerrogativa da rede tecnolgica da educao escolar criada nos anos
40 do sculo XX e das iniciativas pblicas ou privadas de formao
tcnico-profssional (PRONKO, 2003) e passa a se constituir em objeti-
vo de todos os nveis e modalidades de ensino.
O debate em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educao
Nacional (LDB) iniciou-se logo aps a promulgao da Constituio
Federal de 1988 e chegou ao seu fnal em dezembro de 1996, duran-
te o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), numa
conjuntura em que a classe trabalhadora j perdia espao na disputa
pela hegemonia societal e educacional para a burguesia. Esta, por sua vez,
superando sua crise hegemnica dos anos iniciais de 1990, redefniu o
marco legal da educao escolar brasileira, majoritariamente, segundo
os interesses e as diretrizes do Banco Mundial e do Fundo Monetrio
Internacional. (SAVIANI, 1997; 1998; MELO, 2004; LIMA, 2005)
At 1991, quando se inicia uma nova legislatura do Congresso
Nacional, de carter mais conservador, a classe trabalhadora e seus alia-
dos, reunidos no Frum Nacional em Defesa da Escola Pblica na Lei de
Diretrizes e Bases da Educao, conseguiram manter parte signifcativa
de suas propostas originais, contidas em projeto de lei encaminhado
pelo deputado Otvio Elsio (PMDB/MG) logo depois de ser promulga-
133
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
da a Constituio Federal de 1988. A partir da, os setores conservadores
robustecidos interferiram mais incisivamente na elaborao do texto e
promoveram a obstruo de sua votao, at que uma nova conjuntura
mais favorvel, econmica e politicamente, lhes permitisse melhores
resultados.
A LDB de 1996, de fato, consolida um projeto de educao
escolar que j vinha sendo implementado, de forma ainda assistemti-
ca, pelas polticas governamentais dos anos iniciais da dcada de 1990
(MELO, 2004) e, de forma mais orgnica, pelo governo FHC empossado
em janeiro de 1995.
Sob a direo da burguesia brasileira e de seus aliados, aps a
vitria de Collor de Mello para a Presidncia da Repblica (em 1989),
o Estado, seguindo pressupostos neoliberais internacionais e nacionais,
inicia o desmonte do aparato cientfco-tecnolgico construdo nos anos
de desenvolvimentismo. Viabilizado por meio das universidades federais
e instituies pblicas de pesquisa, esse aparato baseava-se sobremodo
na produo direta pelo Estado de quadros qualifcados para a moder-
nizao capitalista e para a produo de conhecimento necessrios
consolidao do modelo de substituio de importaes e consolida-
o dos valores e prticas da cultura urbano-industrial em construo,
sob a direo do capital.
A formao para o trabalho foi-se direcionando para o desen-
volvimento de conhecimentos e valores que viessem garantir o aumento
da produo e do consumo materiais e simblicos da riqueza mundial-
mente produzida. A escola brasileira foi-se direcionando tambm para
a formao de subjetividades coletivas, com vistas construo de um
amplo consenso social em torno da concepo burguesa de mundo em
tempos de novo imperialismo.
Embora o desmonte das prerrogativas constitucionais em re-
lao educao superior j se fzesse sentir desde o governo Collor
de Mello, os governos da primeira metade dos anos de 1990 se con-
centraram na implementao de polticas para a educao bsica, em
especial para o ensino fundamental, seguindo orientaes da Confern-
cia Mundial sobre Educao para Todos patrocinada conjuntamente pelo
134
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Banco Mundial, pela Organizao das Naes Unidas para a Educao,
a Cincia e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das Naes Unidas para a
Infncia (Unicef) e pelo Programa das Naes Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud). O Plano Nacional de Educao para Todos, do governo
Itamar Franco [N.E.: 29 de dezembro de 1992 a 1 de janeiro de 1995],
constituiu-se na traduo nacional da Declarao Mundial sobre Educa-
o para Todos e do Plano de Ao para Satisfazer as Necessidades Bsicas
de Aprendizagem, resultantes daquela conferncia. O plano teve como
objetivos universalizar o ensino fundamental e adaptar minimamente o
trabalho simples aos novos requisitos de competitividade internacional
e do aumento da produtividade dessa fora de trabalho em nvel nacio-
nal, alm de conformar o trabalho simples aos requerimentos de uma
nova cultura cvica. (MELO, 2004)
disseminao dos postulados educacionais para a educao
bsica na periferia do capitalismo, seguiu-se uma ofensiva mais siste-
mtica dos organismos internacionais no sentido de realizar alteraes
substantivas na formao para o trabalho complexo. No Brasil, devido
resistncia de amplos segmentos da sociedade civil e das organizaes
da comunidade universitria em defesa da universidade pblica, esses
postulados foram implementados fragmentariamente ao longo dos dois
governos FHC. Um anteprojeto de reestruturao de toda a educao su-
perior, nesses moldes, s pde ser encaminhado ao Congresso Nacional
em julho de 2005, aps um movimento de assimilao pelo governo
Lus Incio Lula da Silva [N.E.: 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de
2011] de amplos segmentos educacionais sua proposta governamental
e educacional.
Ainda no fnal do governo Itamar Franco foram feitas tambm
alteraes na educao escolar de natureza tecnolgica, ramo da educa-
o escolar at ento voltado predominantemente para a formao para
o trabalho complexo no nvel mdio da educao bsica. Depois que
saiu vitorioso seu ministro da Economia, FHC, na eleio presidencial
de outubro, instituiu por lei o Sistema Nacional de Educao Tecnolgi-
ca, integrado pelas instituies de educao tecnolgica vinculadas ou
subordinadas ao Ministrio da Educao e sistemas educacionais dos
estados, municpios e Distrito Federal. Nesse momento, foram trans-
135
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
formadas as escolas tcnicas federais em centros federais de educao
tecnolgica, disseminando um novo patamar para a formao para o
trabalho complexo no ramo tecnolgico da educao escolar o nvel
superior de ensino , transformao efetivamente regulamentada trs
anos mais tarde. Essas iniciativas, tomadas no decorrer da primeira me-
tade dos anos de 1990, delinearam a direo que assumiria a formao
para o trabalho complexo nos anos de neoliberalismo de terceira via
11
,
que se iniciam com a vitria de Fernando Henrique Cardoso para a
Presidncia da Repblica e tm na reforma da aparelhagem estatal e na
institucionalizao de um Estado gerencial e parceiro seu ponto central.
A sociedade civil brasileira teve presena signifcativa na rede-
fnio dos marcos legais e poltico-pedaggicos da formao para o
trabalho na primeira metade dos anos de 1990. Os empresrios indus-
triais e educacionais foram presena ativa nesse processo. Os primeiros,
por meio de seus representantes no Poder Executivo e no Poder Legisla-
tivo e do sindicalismo patronal, apresentaram ao governo e sociedade
uma Proposta para um Brasil Novo: livre para crescer (FIESP, 1990), que defne
diretrizes para uma educao escolar voltada para os seus interesses de
obteno de lucro e de consenso. (RODRIGUES, 1998; MARTINS, 2007)
Os empresrios educacionais, multiplicados em suas vrias associaes
de classe, tentaram e conseguiram do governo subsdios tcnicos e f-
nanceiros necessrios expanso de sua rede de escolas. (OLIVEIRA,
2001) A Central nica dos Trabalhadores (CUT), por sua vez, explicitou
os pressupostos e diretrizes para a educao escolar emancipatria da
classe trabalhadora, denominando-a de A Escola que Queremos, documento
que acompanhava o projeto inicial de LDB, de Otvio Elsio, de cunho
socializante. O Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior
(Andes), a Confederao Nacional de Educao Bsica (CNTE), a Fe-
derao de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras
(Fasubra) e a Unio Nacional dos Estudantes (UNE) mantiveram-se
unidos na defesa de uma educao escolar que viesse a contribuir para
a formao cognitiva e comportamental de uma conscincia crtica dos
trabalhadores brasileiros. A Igreja Catlica, premida pelo avano dos
11 Neoliberalismo de terceira via uma expresso cunhada pelo Coletivo de Estudos de Poltica Edu-
cacional, grupo de pesquisa CNPq/Fiocruz, sediado na EPSJV, para demarcar a diferena entre o neoli-
beralismo ortodoxo e sua redefnio proposta como uma terceira via por GIDDENS (1999).
136
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
empresrios educacionais, circunscreveu seu espao de insero social
escolar, predominantemente, educao superior e apresentou-se aos
governos, seguindo os preceitos da nova doutrina evangelizadora, como
a nica instituio capaz de disseminar valores modernizantes e ade-
quados formao de uma nova cidadania participativa que tinha como
horizonte o alvio da pobreza e a coeso social.
O ritmo lento de implementao das polticas educacionais
gestadas pelos organismos internacionais e incorporadas no todo ou em
parte pelos governos brasileiros, nesse perodo, decorreu, concomitan-
temente, do grau de resistncia das organizaes dos trabalhadores, em
especial dos trabalhadores em educao, implementao de polticas
educacionais voltadas para os interesses do capital; da difculdade da
burguesia em resolver a crise de hegemonia iniciada na dcada anterior;
do ritmo da introduo, no pas, das inovaes tecnolgicas que contri-
buram tambm para a redefnio do contedo e da forma do trabalho
e da convivncia social no fnal do sculo XX.
A vitria de FHC para a Presidncia da Repblica, a composio
cada vez mais conservadora do Congresso Nacional, a composio tam-
bm conservadora dos governos dos estados e a crescente expanso dos
seus aparelhos privados de hegemonia culturais e polticos do conta
de assegurar a hegemonia da burguesia construda progressivamente
nos primeiros anos da dcada de 1990. A partir de ento, os limites
impostos por uma correlao de foras caracterizada pela ainda forte
presena de segmentos progressistas na defnio das polticas estatais
vo paulatina e contraditoriamente se atenuando.
Os dois governos FHC realizaram uma mudana abrangente no
arcabouo normativo da educao escolar, no seu contedo curricular
e na forma de gesto do sistema educacional e da escola, que alteraram
substantivamente o contedo da formao para o trabalho, valendo-se,
para isso, da coero, mas recorrendo simultaneamente ao emprego de
estratgias de busca de consenso. A recorrncia do uso de decretos do
Executivo, a utilizao de mecanismos transformistas na relao com os
governos dos estados, o Congresso Nacional, os escales superiores da
burocracia na aparelhagem estatal, bem como, com a intelectualidade
e lideranas sindicais na sociedade civil e o oferecimento de recursos
137
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
fnanceiros s instituies educacionais que aderissem s reformas
governamentais so bons exemplos do grau e da especifcidade dos
mecanismos de seduo pelo alto desses dois governos.
mostra convincente da recorrncia do uso de instrumentos
de busca do consenso, no campo educacional, a parceria com aliados
clssicos (empresariado, proprietrios de estabelecimentos escolares, o
segmento escolar da Igreja Catlica) e com novos aliados: as Funda-
es Privadas e Associaes sem Fins Lucrativos (Fasfl), difusoras do
iderio neoliberal para a rea educacional. (IBGE, 2004; NEVES, 2005;
MARTINS, 2007)
De modo geral, pode-se afrmar que os governos FHC tive-
ram como fnalidades concomitantes no campo educacional: 1) a
implantao de uma nova poltica sistemtica de formao para o tra-
balho simples, por meio da estruturao de uma nova educao bsica;
2) um novo sistema nacional de formao tcnico-profssional; 3) o
desmonte progressivo do aparato jurdico-poltico da formao para o
trabalho complexo e a antecipao de algumas medidas, dessa mesma
ordem, que vieram a se constituir em instrumentos viabilizadores da
reforma da educao tecnolgica e da reforma da educao superior,
implementadas sistematicamente pelo primeiro governo Lula da Silva,
a partir de 2003.
Antecipando-se promulgao da nova LDB, o governo FHC,
ainda nos seus primrdios, inicia um processo longo de desregulamenta-
o do sistema educacional. Simultaneamente, encerrando um processo
que se iniciou logo aps a promulgao da Constituio Federal, ainda
no contexto da abertura poltica, o Congresso Nacional, por meio de
manobra regimental, abandonando o projeto de lei que vinha sendo
discutido nos oito anos anteriores, apressa a promulgao da nova LDB,
substituindo-o por uma nova verso, mais compatvel com os interesses
neoliberais de ento. (SAVIANI, 1997; 1998)
Entre os dispositivos aprovados pela nova LDB, merecem des-
taque no que tange formao para o trabalho na atualidade: a nova
relao entre trabalho e educao; a defnio de apenas dois nveis de
138
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
ensino; a reconceituao de formao tcnico-profssional como educa-
o continuada.
Enquanto a Constituio prescreveu a qualifcao para o trabalho
como uma das fnalidades da educao escolar, a nova LDB propugnou
sucintamente a vinculao da educao escolar ao mundo do trabalho e
prtica social, sinalizando com isso para uma relao mais linear entre
educao e produo. A verso constitucional da relao entre trabalho
e educao, refetindo o nvel de correlao de foras da conjuntura dos
anos de 1980, pressupunha uma escolarizao mais integral de natureza
cientfco-tecnolgica. J a verso da nova LDB, refetindo a hegemonia
burguesa em processo de consolidao, espelha o pragmatismo prprio
de uma concepo de educao escolar mais explicitamente defnida
com base nos interesses tcnicos e tico-polticos mais imediatos do
capital.
A hegemonia da burguesia na defnio dos marcos legais da
educao escolar no novo imperialismo pode ser detectada na impor-
tncia atribuda pelos legisladores ao privatismo, principal pilar da
poltica social neoliberal, ao consagrarem a precedncia da famlia sobre
o Estado no dever da educao. A Constituio de 1988, inversamente,
seguindo as determinaes conjunturais da poca, dava precedncia ao
Estado sobre a famlia no dever de educar. Esta inverso veio a favorecer
a consolidao progressiva de uma nova burguesia de servios (BOITO
JR., 1999) na rea educacional a partir da segunda metade dos anos de
1990, com a disposio governamental de democratizar, por meio da
parceria com empresrios educacionais, a educao superior.
A nova LDB prescreveu para o sculo XXI apenas dois nveis
de ensino para a educao escolar: a educao bsica (formada pela
educao infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino mdio) e a
educao superior. Essa diviso, ao mesmo tempo que oferece, mais
claramente, os parmetros gerais da escolarizao para o trabalho sim-
ples (educao bsica) e para o trabalho complexo (educao superior)
nesta nova fase do desenvolvimento capitalista no Brasil, amplia consi-
deravelmente o patamar mnimo de escolaridade do trabalho simples,
deixando entrever o grau de racionalizao atingido pelo conjunto das
relaes sociais no mundo e no pas, nos anos iniciais do novo sculo.
139
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Entretanto, esse alargamento formal da base da pirmide educacional
no tem garantido, por si s, nem a sua universalizao, nem a incluso
orgnica dos pressupostos cientfco-tecnolgicos na grade curricular
desse nvel de ensino.
Mesmo enunciando a vinculao entre trabalho e educao para
toda a educao escolar, a nova LDB introduz no Ttulo V Dos Nveis e
das Modalidades da Educao e do Ensino , entre a educao bsica e
a educao superior, uma modalidade de educao escolar denominada
educao profssional (Captulo III Da Educao Profssional). Essa
expresso, de uso recente na literatura educacional brasileira, correspon-
de ao que se denominava at ento de formao tcnico-profssional,
ou seja, uma modalidade de educao escolar voltada para conduzir
o trabalhador ao desenvolvimento de aptides para a vida produtiva,
atravs de cursos de formao inicial e continuada.
A expresso educao profssional foi includa no debate da
LDB na conjuntura de 1995. Seu surgimento remonta ao debate da re-
forma da formao tcnico-profssional patrocinada pelo governo FHC,
tendo como pano de fundo as alteraes contemporneas do processo
de trabalho que realavam a polivalncia do trabalhador como ponto
central, requerendo uma formao de carter mais geral e abrangente. A
expresso refete, assim, a necessidade do capital de dar ao treinamento
da fora de trabalho um contedo distinto daquele adequado ao perodo
fordista de organizao do trabalho e da produo.
Por sua natureza distinta da escolarizao regular, esta modalidade
educacional sempre se estruturou de forma independente, contribuindo
decisivamente para reforar o carter dual da nossa educao escolar, por
proporcionar s massas trabalhadoras uma terminalidade precoce sua
escolarizao. Sua incluso como modalidade educacional na nova LDB
revela, do ponto de vista tcnico, a importncia atribuda pela burguesia
brasileira adaptao, a curto prazo, da fora de trabalho s exigncias
do mercado, em tempos de fnana mundializada (CHESNAIS, 2005)
e, do ponto de vista tico-poltico, a aceitao por um signifcativo
contingente da classe trabalhadora das ideologias da empregabilidade e
do empreendedorismo, ideologias destinadas a manter a coeso social
em tempos de reestruturao produtiva e de supresso de direitos do
140
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
trabalhador. Essa aceitao d-se de forma mais efcaz quando responde,
mesmo sob a tica do capital, a reivindicaes histricas da classe traba-
lhadora pelos direitos educao, formao e ao trabalho.
Ao realizar a reforma do modelo da formao profssional at
ento vigente, o Estado brasileiro o faz, de um ponto de vista mais es-
pecfco, nessa dupla perspectiva de dotar as massas trabalhadoras de
ferramentas culturais para o aumento da produtividade do trabalho sob
a direo do capital e de garantir o consenso, via ampliao da oferta de
oportunidades de treinamento de novo tipo.
De um ponto de vista mais abrangente, a reforma do modelo
de formao tcnico-profssional implementada pelos governos FHC
constituiu-se, tambm, em importante instrumento de viabilizao
do novo Estado gerencial que, generalizando a parceria entre Estado
e sociedade civil na execuo das polticas sociais, viabiliza uma nova
maneira de fazer poltica a concertao social , na qual a burguesia
conclama a classe trabalhadora empobrecida pela corroso de salrios
e pela precarizao dos vnculos de trabalho e mesmo pelo desempre-
go a construir, de mos dadas, uma nova sociedade do bem-estar
(GIDDENS, 1999) por ela dirigida.
Os pontos obscuros da nova LDB foram de fato os mais po-
lmicos no debate parlamentar e os mais fortemente contestados pela
organizao dos profssionais da educao. Alis, o contedo das propos-
tas defendidas pela burguesia para a educao escolar e a forma muitas
vezes truculenta de sua implementao fzeram emergir, no cenrio
poltico-educacional, um importante sujeito poltico coletivo, o Con-
gresso Nacional de Educao (Coned), que, congregando profssionais
da educao de todos os nveis e modalidades de ensino, constituiu-se,
em todas as suas verses, em espao fundamental de construo de
uma proposta educacional contra hegemnica e de repdio s polticas
educacionais do bloco no poder. As mobilizaes em torno dos Coneds
certamente contriburam para retardar a reforma da educao superior
e para sustentar parcialmente o carter de integralidade da educao
tecnolgica de nvel mdio.
12
12 Foram realizados cinco Coneds, que deram prosseguimento s Conferncias Brasileiras de Educa-
141
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
A impreciso no contedo da nova lei em relao formao
para o trabalho complexo foi imediatamente esclarecida pelo Decreto
n 2.207, de 15 de abril de 1997, que regulamentou o Sistema Federal
de Ensino, e o Decreto n 2.208, de 17 de abril de 1997, que regula-
mentou os artigos referentes educao profssional.
O primeiro deles teve, ao longo dos dois governos FHC, mais
duas verses
13
, que, em sua essncia, no alteraram o contedo da pri-
meira, ou seja, sacramentaram a diviso entre instituies de ensino e
instituies de pesquisa e o empresariamento da educao superior,
com formao qualitativa e quantitativa absolutamente distintas. Nessas
verses, as instituies no universitrias, majoritariamente privadas,
passaram a ser denominadas de centros universitrios, faculdades in-
tegradas, faculdades, institutos e escolas superiores, viabilizando um
modelo de educao superior pretendido por setores conservadores da
sociedade, desde os anos de 1980, marcado pela fexibilizao das
instituies escolares e pela diviso entre instituies produtoras de
conhecimento e instituies formadoras para o mercado de trabalho.
O segundo, por sua vez, normatizou a denominada educao
profssional, criando trs nveis de cursos para essa modalidade de
ensino: bsico, tcnico e tecnolgico. Ao instituir uma escolarizao
encurtada de nvel superior, a educao profssional de nvel tecnolgi-
co, de fato, se incluiu na trajetria de escolarizao regular como uma
possibilidade mais fexvel para efetivar uma educao tecnolgica de
nvel superior, que vinha sendo realizada at ento em cursos superiores
de graduao plena, nos poucos centros tecnolgicos existentes. Essa fal-
ta de clareza da distino entre nvel superior da denominada educao
profssional e educao superior do ramo tecnolgico da escolarizao
regular, que permanece em termos tericos e jurdicos at o fnal do
o, encerradas em 1991, incio dos anos de capitalismo neoliberal. Os Coneds, por sua vez, deixaram
de funcionar aps a eleio de Luiz Incio Lula da Silva para a Presidncia da Repblica.
13 Mais tarde, durante o governo Lula da Silva, logo aps o envio ao Congresso da proposta gover-
namental de reforma da educao superior, em decreto que dispe sobre o exerccio das funes de
regulao, superviso e avaliao de instituies de educao superior e cursos superiores de graduao
e sequenciais no sistema federal de ensino, classifca as instituies superiores tecnolgicas e cientfcas
e de alta cultura em faculdades, centros universitrios e universidades, conforme o artigo 9 do Projeto
de Lei n 7.200/2006.
142
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
primeiro governo Lula da Silva, perodo limite deste estudo, contribui
para confundir o debate educacional, que tem tratado indistintamente
questes de escolarizao e de treinamento.
De fato, esse decreto concretiza, em termos formais, um dos
pilares estratgicos da poltica dos dois governos FHC. Tendo como
prioridade educacional a implementao da reforma da formao tcni-
co-profssional, a poltica governamental utiliza o aparato da educao
tecnolgica preexistente para viabilizar esta nova orientao, na qual
o Estado assume, diretamente ou por intermdio de antigos e novos
parceiros, a direo poltico-pedaggica dessa modalidade educacional.
Para tanto, cria um aparato tcnico no Ministrio do Trabalho, a Secreta-
ria de Formao Profssional (Sefor), e se utiliza da estrutura destinada
organizao da educao tecnolgica preexistente no Ministrio da
Educao: a Secretaria da Educao Mdia e Tecnolgica e as instituies
federais.
A Lei que disps sobre a organizao da Presidncia da Repbli-
ca e dos ministrios, em 1998, estabeleceu com clareza as competncias
dos ministrios do Trabalho e da Educao. Coube ao Ministrio do
Trabalho a formao e desenvolvimento profssional e ao Ministrio da
Educao a educao em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino mdio, ensino superior, ensino supletivo, educao tecnolgica,
educao especial e educao a distncia, exceto o ensino militar. Essa
demarcao de competncias fca ainda claramente explicitada quando
se observa a destinao do fnanciamento externo para implementao
da reforma da educao profssional. Tal fnanciamento viabilizou-
-se por meio de dois programas: o Plano Nacional de Qualifcao dos
Trabalhadores (Planfor), executado pelo Ministrio do Trabalho, e o
Programa de Expanso da Educao Profssional (Proep), executado pelo
Ministrio da Educao. O Proep, ao mesmo tempo em que subsidia a
implementao da reforma da formao tcnico-profssional no mbito
das instituies federais tecnolgicas, contribui com o desmonte da
educao tecnolgica preexistente, mediante a implementao de cur-
sos tcnicos concomitantes ao ensino mdio e de cursos de tecnlogos,
143
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
mais estreitamente voltados para atender s necessidades mais imediatas
do mercado.
14
A submisso do Sistema de Educao Tecnolgica aos objetivos
da poltica ofcial de reforma da denominada educao profssional
fca mais evidente quando o decreto que regulamentou a estrutura e o
funcionamento de todos os centros de educao tecnolgica, pertencen-
tes ao Sistema Nacional de Educao Tecnolgica, os constituiu como
modalidade de instituies especializadas de educao profssional.
Esses centros pblicos ou privados continuaram a formar e qualifcar
profssionais no ramo tecnolgico da educao escolar nos nveis mdio
e superior e, ao mesmo tempo, passaram a desenvolver iniciativas de
educao continuada nos seus trs nveis de estruturao (bsico, mdio
e tecnolgico). A nfase dada educao profssional pelos governos
FHC pode ser constatada ainda na extino do Sistema Nacional de Edu-
cao Tecnolgica em maio de 1998.
15
Tanto o desmonte da educao tecnolgica preexistente como
a expanso diversifcada da formao tcnico-profssional seguiram as
orientaes dos organismos internacionais para os pases de capitalismo
perifrico e foram por eles subsidiadas. As diretrizes do Planfor, como
as do Proep, foram implementadas com recursos do Banco Mundial e se
enquadraram na estratgia mais abrangente desses organismos de alvio
da pobreza e da busca do consentimento ativo das massas trabalhadoras
ao projeto hegemnico de sociedade e de sociabilidade. Alm disso, no
plano educacional, consistiram em estratgias viabilizadoras de maior
subordinao da escola aos imperativos imediatos do mercado de traba-
lho capitalista em um mundo em transformao.
16
14 A Portaria n 646, de 14 de maio de 1997, cedendo a presses da organizao das foras opositoras
reforma implementada, mantm o ensino mdio tcnico no mbito das instituies federais, embora
restrinja o total de vagas oferecidas at ento em 50%. Vale ressaltar que o governo Lula da Silva restabe-
lece, no seu primeiro governo, o ensino tcnico de nvel mdio, em novos moldes.
15 Os neoliberais no poder e no governo sancionam, em maio de 1998, a lei que extinguiu o Sistema
Nacional de Educao Tecnolgica, mantendo imbricados, sob a direo da primeira, a educao profs-
sional e a educao tecnolgica.
16 As diretrizes polticas dos organismos internacionais durante a ltima dcada do sculo XX se di-
rigiam a um mundo em transformao, posto que ainda estava em processo a defnio de uma nova
diviso internacional do trabalho. Uma vez concludo esse processo, as diretrizes gerais e setoriais dos
organismos internacionais se dirigiram para construo da sociedade do conhecimento.
144
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Alm dessas mudanas substantivas, um nmero ainda signif-
cativo de aes governamentais contribuiu para redirecionar a natureza
do sistema educacional brasileiro nos anos de neoliberalismo do sculo
XX, imprimindo dinmica educacional duas marcas principais: um
carter antipopular, prprio das polticas sociais neoliberais em seu
conjunto, e uma direo mais imediatamente interessada da sua estru-
turao curricular. (GRAMSCI, 2000)
O carter antipopular da poltica educacional neoliberal pode
ser atestado por quatro caractersticas de suas polticas sociais, presentes,
claramente, no campo educacional: privatizao, focalizao, descentra-
lizao dos encargos e a participao na execuo. Essas caractersticas se
mantm no primeiro governo Lula da Silva, que as atualiza e aprofunda.
(BOITO JR., 1999; BORGIANNI; MONTAO, 2000)
A privatizao do ensino apresentou caractersticas distintas
daquela verifcada no perodo desenvolvimentista da nossa histria. Ela
concentrou-se, primordialmente, na educao superior, de duas formas:
a) pela privatizao do ensino pblico
17
e b) pelo estmulo estatal ao
empresariamento do ensino.
O Estado se desresponsabilizou diretamente tambm pela
educao infantil e pela educao de jovens e adultos, estimulando a
sua expanso por meio de polticas de parceria. Alm da reforma da
formao tcnico-profssional, a poltica educacional do governo FHC
focalizou suas aes na formao tcnica e tico-poltica para o trabalho
simples, consubstanciada na massifcao das oportunidades escolares
no ensino fundamental para as futuras geraes da classe trabalhadora e
na expanso do ensino mdio.
O carter mais imediatamente interessado das aes educacio-
nais neoliberais materializou-se nas polticas pblicas direcionadas
melhoria da qualidade de ensino, entre as quais merecem destaque: o
treinamento de dirigentes escolares, metamorfoseados em gerentes; a
redefnio da poltica de formao de professores de todos os nveis
17 A privatizao do ensino pblico veio se dando, paulatinamente, pelo achatamento salarial do
corpo docente e de servidores; pela precarizao das relaes de trabalho, por meio de contrataes
de trabalho temporrio; pelo corte de verbas federais para projetos de pesquisa; pela cobrana de taxas
diversas, entre outras medidas.
145
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
de ensino; a defnio das diretrizes e dos parmetros curriculares na-
cionais; as diretrizes para elaborao dos projetos poltico-pedaggicos
das escolas e os mecanismos de avaliao do desempenho escolar, das
instituies de ensino e do corpo docente.
Especifcamente do ponto de vista tico-poltico, as polticas
educacionais neoliberais para expanso e melhoria de ensino, seguindo
as diretrizes gerais desse projeto societrio, tiveram como fundamento
os princpios e as estratgias do projeto neoliberal da terceira via, que
propugna a criao de um novo homem coletivo, de uma nova cultura
cvica, na qual o nvel de conscincia poltica no deve ultrapassar os
limites dos interesses econmico-corporativos, nos marcos de um capi-
talismo com justia social. (NEVES, 2005; MARTINS, 2007)
Mesmo com a resistncia de uma parcela dos segmentos
progressistas e socialistas do campo educacional, nucleados em torno
do Coned, o governo Fernando Henrique Cardoso, consolidando sua
hegemonia poltica, obteve amplo consenso para implementar sua
poltica social, aprovando um Plano Nacional de Educao (PNE) que
se contraps ao Plano Nacional elaborado pelos educadores reunidos
naquele frum e assegurou por, pelo menos, dez anos a continuidade
das diretrizes e metas para a educao escolar sob a tica do capital.
Essas diretrizes e metas foram substantivamente mantidas no primeiro
governo Lula da Silva, que com frequncia utiliza o novo PNE como
referncia.
As mesmas tendncias observadas no sistema educacional so
reproduzidas tambm na rea de cincia e tecnologia. A poltica gover-
namental de cincia e tecnologia, redefnida, vai da cincia e tecnologia
(C&T) para a cincia, tecnologia e inovao (CT&I), ou seja, o Brasil, na
nova diviso internacional do trabalho, segue a sua vocao de pro-
duzir inovaes tecnolgicas para aumentar a produtividade capitalista
do trabalho em mbito nacional e mundial. Alm de acatar e aprofundar
as diretrizes cientfcas e tecnolgicas defnidas pelo seu antecessor,
o governo Lula da Silva enfatiza tambm, no Plano Nacional de Ps-
-Graduao de 2005-2010, a necessidade de formar intelectuais que
disseminem a ideologia da responsabilidade social nos inmeros apa-
146
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
relhos privados de hegemonia que se multiplicam em todos os setores
sociais na atualidade. (BRASIL. MEC/CAPES, 2004)
A poltica educacional dos dois governos FHC manteve sua for-
mulao altamente centralizada no Executivo Central, mas no se afastou
dos preceitos da descentralizao e da participao na execuo, ineren-
tes poltica social neoliberal em seu conjunto. Isso porque, tomando
por base os postulados do Estado necessrio e da nova sociedade
civil ativa propostos pela socialdemocracia mundial reformulada e
absorvidos pelo Estado gerencial da reforma da aparelhagem estatal
(BRASIL. MARE, 1995), subordinou a descentralizao administrativa e
a participao da sociedade civil execuo de polticas defnidas pelo
ncleo estratgico federal.
A vitria de Lus Incio Lula da Silva para a Presidncia da Rep-
blica, aps trs tentativas consecutivas, gerou uma expectativa em seus
eleitores de reverso paulatina do projeto de sociedade e de educao
poltica e escolar que vinha sendo implementado no pas desde os anos
fnais do sculo XX. Essa expectativa inicial foi sendo paulatinamente
revertida ao longo do seu primeiro governo, mas sem inviabilizar sua
reeleio para um segundo mandato. O Plano Plurianual 2004-2007
(BRASIL. MP, 2003) do primeiro governo Lula da Silva guarda estreita
relao com os postulados do neoliberalismo de terceira via norteadores
da poltica pblica na atualidade. Mantm o enfoque monetarista dos
governos que o antecederam, mas advoga a retomada do crescimento
econmico, refora o carter gerencial do Estado brasileiro e aprofunda
a poltica de parcerias, com vistas a acelerar o crescimento e promover,
por meio de estratgias assistencialistas, maior justia social.
De acordo com o Plano Plurianual, as polticas governamentais,
sob o governo Lula, assumem a dupla tarefa de condutoras do desenvol-
vimento social e regional e indutoras do crescimento econmico, que
se traduz no campo das polticas sociais em estratgias de aumento da
produtividade e da competitividade das empresas, de alvio da pobreza
e de conquista e manuteno da coeso social.
As diretrizes para a educao escolar do primeiro governo
Lula da Silva ganham maior visibilidade somente a partir da nomeao
147
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
de Tarso Genro, em janeiro de 2004. Da em diante, o Ministrio da
Educao dedicou-se execuo, no sentido de viabilizar, as seguintes
polticas: 1) alfabetizao como porta de ingresso para a incluso de mi-
lhes de brasileiros na cidadania; 2) incentivo qualidade da educao
bsica, com a implantao do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento
da Educao Bsica (Fundeb) e mobilizao nacional de estados e mu-
nicpios para o combate reprovao; 3) fortalecimento da educao
profssional no Brasil, com a incluso de jovens e adultos no mercado
de trabalho e a formao de tcnicos para contribuir com o novo mo-
delo de desenvolvimento brasileiro, baseado na produo; 4) reforma
da educao superior, que amplie e fortalea a universidade pblica e
gratuita e norteie, pelo interesse pblico, as instituies particulares,
com padres de qualidade. (BRASIL. MEC, 2004)
Todas essas polticas, implcita ou explicitamente, traduzem
determinaes econmicas e tico-polticas. Do ponto de vista tcnico,
as duas primeiras se direcionam formao para o trabalho simples.
A primeira, no sentido de compensar o histrico dfcit escolar bra-
sileiro; a segunda, na perspectiva de aumentar o patamar mnimo de
escolarizao das massas trabalhadoras, exigncia do estgio atual de
racionalizao do processo de produo de existncia na periferia do
capitalismo mundial. A terceira dessas polticas visa, ao mesmo tempo,
propiciar oportunidades de aquisio de competncias para a realizao
de trabalho simples formal e/ou informal e conduzir permanentemente
o trabalhador, ao desenvolvimento de aptides para a vida produtiva.
Somente a ltima delas tem por fnalidade a formao para o trabalho
complexo.
Embora as diretrizes polticas governamentais tenham se dire-
cionado em boa parte para a formao para o trabalho simples, como
alis j vinha sendo a direo prioritria dos governos brasileiros desde
o incio dos anos 1990, pode-se afrmar que o primeiro governo Lula
da Silva concentrou esforos na implantao de duas reformas educacio-
nais que, concomitantemente, se destinam reestruturao da formao
para o trabalho complexo neste sculo que se inicia, com vistas a viabi-
lizar a formao de intelectuais urbanos de novo tipo (NEVES, 2006):
a reforma da educao superior e a reforma da educao tecnolgica.
148
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
Essa nfase dada formao para o trabalho complexo no
primeiro governo Lula da Silva coincide com as redefnies das po-
lticas dos organismos internacionais para a educao escolar da nova
sociedade do conhecimento a sociedade do sculo XXI , quando as
diretrizes para a educao superior cientfca e tecnolgica passam a ser
consideradas de modo mais sistemtico e incisivo.
A reforma da educao tecnolgica efetiva-se por meio de dois
movimentos concomitantes: o primeiro visa recuperar a educao tec-
nolgica de nvel mdio e o segundo visa integrar legalmente o ramo
tecnolgico da educao escolar educao superior. A recuperao da
educao tecnolgica do nvel mdio consubstanciada por meio da
poltica governamental para a educao profssional e tecnolgica que,
partindo da crtica s mudanas efetivadas pelo governo anterior, se
prope a promover maior articulao da educao profssional e tecno-
lgica com o ensino bsico, recuperando assim o papel coordenador do
Estado nesses dois mbitos da educao escolar.
De fato, a poltica do governo anterior, em consonncia com as
diretrizes dos organismos internacionais poca, de recorte privatista
e segmentada, provocou o surgimento de uma rede de instituies e
cursos responsveis, ora conjuntamente, ora de forma separada, pela
oferta da educao tecnolgica e da chamada educao profssional at
ento nunca vista na histria da educao brasileira. Integram essa rede:
1) o ensino mdio e tcnico, incluindo redes federal, estadual, munici-
pal; 2) o Sistema S; 3) universidades pblicas e privadas, por meio de
cursos de graduao, de ps-graduao, de servios de extenso e de
atendimento comunitrio; 4) escolas e centros mantidos por sindicatos
de trabalhadores, escolas e fundaes mantidas por grupos empresariais;
5) organizaes no governamentais de cunho religioso, comunitrio e
educacional; 6) ensino profssional regular ou livre, concentrado em
centros urbanos e pioneiro na formao a distncia (via correio, Inter-
net ou satlite). (BRASIL. MEC/SEMTEC, 2004, p. 18)
A poltica do governo Lula da Silva no pretendeu alterar a
diferenciao instalada. Ela tem tentado dar maior organicidade a essa
poltica do governo anterior, redefnindo o pragmatismo exacerbado de
suas aes, por meio de uma articulao mais estreita entre educao
149
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
geral e formao tcnica, ajustando-se assim diretriz educacional dos
organismos internacionais de recuperao de uma educao humanista
ou educao geral para todos, em tempos de sociedade do conheci-
mento.
Uma das contribuies mais originais do seu primeiro gover-
no para consolidar o modelo capitalista neoliberal de formao para
o trabalho complexo foi, sem dvida, o efetivo estabelecimento da
distino entre educao profssional e educao tecnolgica. A poltica
governamental, desde o incio de 2004, estabelece a distino entre os
seus objetivos de ensino, realando que os cursos da chamada educao
profssional se destinariam formao continuada (requalifcao, atua-
lizao) para o trabalho simples e para o trabalho complexo, enquanto
a educao tecnolgica se destinaria formao inicial para o trabalho
complexo no ramo tecnolgico da educao escolar.
Embora reconhea a natureza distinta da educao tecnolgica
e da chamada educao profssional de escolarizao regular e de atua-
lizao tcnico-profssional, respectivamente , o governo Lula da Silva,
de forma concomitante, se prope a realizar um processo de interao
mais estreita entre elas, por meio da criao de um Subsistema Nacio-
nal de Educao Profssional e Tecnolgica. (BRASIL. MEC/SEMTEC,
2004, p. 30)
A criao desse subsistema vem contribuindo, na prtica, para
apagar cada vez mais os limites entre escolarizao regular, educao
continuada e educao compensatria, prpria da dualidade estrutural
da educao escolar brasileira, e, ao mesmo tempo, para confundir o
debate terico no campo da formao para o trabalho, ao atribuir um
falso carter de escolarizao regular a atividades prprias da forma-
o tcnico-profssional ou, inversamente, denominar de atividades de
formao tcnico-profssional atividades pertinentes escolarizao
regular.
O decreto que regulamenta, em 2004, as orientaes do primei-
ro governo Lula para a educao profssional, d um passo signifcativo
na direo da implementao do Subsistema Nacional de Educao
Profssional e Tecnolgica. Ao mesmo tempo que restaura a educao
150
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
tecnolgica de nvel mdio, o faz diversifcando-a em trs modalidades:
integrada, concomitante e subsequente. Ao estabelecer trs modos de
articulao entre ensino mdio e formao tcnico-profssional, de fato,
o governo Lula da Silva introduz trs graus de complexidade na forma-
o para o trabalho complexo de nvel mdio no ramo tecnolgico da
educao escolar. O primeiro a formao integral restaura o carter
integral dos cursos tcnicos de nvel mdio e abre maior possibilidade
para a continuidade de estudos no nvel superior de ensino nos ramos
tecnolgico, cientfco e artstico; o segundo e o terceiro a formao
concomitante e subsequente , embora no invalidem formalmente o
acesso educao superior, destinam-se efetivamente a uma formao
mais diretamente voltada para os requerimentos imediatos do mercado
de trabalho
18
. Com isso, de forma estratifcada, um segmento signif-
cativo das massas populares, egressas da expanso quase universalizada
da educao fundamental, torna-se apto a concluir nas redes pblica e
privada a escolarizao bsica no ramo tecnolgico. Essa medida go-
vernamental atende em parte demanda de segmentos progressistas
da sociedade civil, em especial dos educadores organizados em torno
dos Coneds, que durante os governos Fernando Henrique Cardoso se
posicionaram contrariamente eliminao da educao tecnolgica de
nvel mdio. Entretanto, ao faz-lo de forma segmentada em modalida-
des distintas, atende tambm aos interesses do capital de aumento do
percentual de escolarizao bsica do trabalhador brasileiro. O diploma
de tcnico de nvel mdio, conferido aos concluintes das trs moda-
lidades da educao profssional de nvel mdio, atesta o carter de
escolarizao regular diferenciada formao inicial de profssionais do
ramo tecnolgico de ensino.
Esse dispositivo legal introduz ainda uma novidade. Ele substi-
tui o nvel tecnolgico da educao profssional do Decreto n 2.208,
de 17 de abril de 1997, do governo Fernando Henrique Cardoso, pela
educao profssional tecnolgica de graduao e ps-graduao sem
defnir claramente a sua natureza. Ele apenas subordina a sua organizao
18 Em especial, os cursos de formao subsequente, denominados de cursos ps-secundrios antes
mesmo dos governos Fernando Henrique Cardoso. Vale ressaltar que, na atual conjuntura, alguns cen-
tros tecnolgicos vm transformando seus cursos ps-secundrios em cursos superiores de tecnologia,
atribuindo-lhes uma terminalidade de nvel superior de caractersticas mais pragmticas.
151
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
quanto aos objetivos, caractersticas e durao, s diretrizes curriculares
nacionais defnidas pelo Conselho Nacional de Educao.
Essa impreciso na defnio desse terceiro nvel da educao
profssional pode ser atribuda indefnio, na poca, dos rumos a
serem tomados pela reforma da educao superior em processo de ela-
borao. O atual estgio de desenvolvimento dessa reforma da educao
superior j nos oferece alguns subsdios para um maior entendimento
da formulao educao profssional tecnolgica de graduao e de
ps-graduao. O texto da proposta de reforma da educao superior
do governo Lula da Silva (Projeto de Lei n 7.200/2006) inclui a for-
mao continuada entre as atividades de ensino superior tecnolgica e
cientfca e de alta cultura. Em seus termos, as atividades de educao
continuada deveriam ser realizadas por meio de cursos sequenciais de
diferentes nveis e abrangncia e de cursos em nvel de ps-graduao
lato sensu de aperfeioamento e especializao. Por sua vez, na Exposio de
Motivos do Anteprojeto da Lei da Educao Superior, a educao continuada def-
nida como constituda por cursos no ps-mdio e aps a concluso
da graduao, que asseguram a gerao de certifcados, valorizando a
formao pessoal e profssional contnua de elevada qualidade cientfca
e tcnica. (BRASIL. MEC, 2005, p. 28) Se consideradas essas proposies
da reforma da educao superior, a educao profssional tecnolgica
de graduao e de ps-graduao corresponderia formao tcnico-
-profssional para os que concluram a educao bsica de nvel mdio
(cursos psmdio) e formao tcnico-profssional para os concluintes
dos cursos de graduao (ps-graduao lato sensu), o que contribuiria
para conferir materialidade ao disposto na nova LDB em relao aos
princpios e s diretrizes da educao profssional, quando estabelece
que cabe a esta conduzir ao permanente desenvolvimento de aptides
para a vida produtiva a serem desenvolvidas em articulao com o
ensino regular ou por diferentes estratgias de educao continuada,
em instituies especializadas ou no ambiente de trabalho. (BRASIL,
1996, art. 40)
Por enquanto, o que vem se denominando hoje de educao
profssional de graduao e de ps-graduao reafrma o anunciado
pelo Decreto n 2.208/97 do governo Fernando Henrique Cardoso,
152
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
que propiciou a implementao e expanso do oferecimento de cursos
tecnolgicos de nvel superior nas instituies sindicais patronais, his-
toricamente responsveis pela formao tcnico-profssional brasileira.
Logo em seguida promulgao desse decreto, o governo Lula
da Silva d mais dois passos importantes na efetivao da reforma da
educao tecnolgica, ao promulgar os decretos n 5.224 e n 5.225,
ambos de 1 de outubro de 2004, que dispem respectivamente sobre
a organizao dos Centros Federais de Educao Tecnolgica (Cefets) e
a organizao do ensino superior e a avaliao dos seus cursos e ins-
tituies, efetivando com isso maior aproximao entre os ramos da
educao escolar de nvel superior.
O Decreto n 5.224 defne os Cefets como instituies especia-
lizadas na oferta de educao tecnolgica, determinando como suas
atribuies: formar e qualifcar profssionais; realizar pesquisa aplicada
e promover o desenvolvimento tecnolgico de novos processos, pro-
dutos e servios, em estreita articulao com os setores produtivos e a
sociedade; promover cursos superiores de graduao e ps-graduao;
promover a formao tecnolgica de nvel bsico, bem como atividades
de formao tcnico-profssional. J o Decreto n 5.225 classifcou as
instituies de ensino superior do Sistema Federal de Ensino quanto
organizao acadmica em trs tipos:
1. Universidades;
2. Centros federais de educao tecnolgica e centros univer-
sitrios; e
3. Faculdades integradas, faculdades de tecnologia, faculdades,
institutos e escolas superiores. Ainda nesse dispositivo, os
ento centros de educao tecnolgica privados passaram a
ser denominados de faculdades de tecnologia.
Se, de um lado, o Decreto n 5.224 deixa transparecer a impor-
tncia dos Cefets como centros de referncia para o ensino e a pesquisa
na rea tecnolgica, o Decreto n 5.225, de outro, ao admitir a pos-
sibilidade da existncia de universidades tecnolgicas, parece instituir
uma dualidade de fns entre universidades e centros tecnolgicos ou
153
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
ainda introduzir um patamar superior na diversidade institucional do
subsistema de educao profssional e tecnolgica. O Decreto n 5.225,
simultaneamente, d mais um passo no processo de integrao entre
os ramos cientfco, artstico e tecnolgico da educao superior, ao
defnir para esta trs tipos similares de organizao. Ao fazer essa juno
dos ramos da educao superior, o referido decreto parece reduzir o
nvel de abrangncia das atribuies dos Cefets, defnidas no Decreto
n 5.224, do mesmo dia. Em seu artigo 11-A, os Centros Federais de
Educao Tecnolgica so considerados instituies de ensino superior
pluricurriculares, especializadas na oferta de educao tecnolgica nos
diferentes nveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuao
prioritria na rea tecnolgica, o que evidencia uma predominncia
atribuda s atividades de ensino, ou seja, qualifcao de profssionais
para o mercado de trabalho. Alis, esse tem sido o objetivo prioritrio
da educao escolar em nosso pas, j que a educao universitria, que
mantm, pelo menos do ponto de vista formal, a indissociabilidade en-
tre ensino, pesquisa e extenso, minoritria no conjunto da educao
superior neste comeo de sculo.
O passo seguinte no processo de reforma da educao tecno-
lgica foi dado na direo de maior integrao dos ramos da educao
superior, pela transformao do Centro Federal de Educao Tecnolgica
do Paran em Universidade Tecnolgica Federal do Paran em 2005. Pela
primeira vez na histria da educao brasileira uma instituio tecno-
lgica de ensino atinge esse nvel de maior complexidade na formao
para o trabalho complexo.
Nos anos seguintes, o governo Lula, tambm por decreto,
acrescenta ao marco regulatrio da educao tecnolgica e da chama-
da educao profssional dois dispositivos legais que, conjuntamente,
visam proporcionar maior integrao entre educao geral e formao
tcnico-profssional, prioridade do governo para este segmento da
educao escolar: o Programa de Integrao da Educao Profssional
ao Ensino Mdio na Modalidade de Educao de Jovens e Adultos e o
Programa Nacional de Integrao da Educao Profssional com a Edu-
cao Bsica na Modalidade de Educao de Jovens e Adultos (Proeja).
Com esses dois decretos, o governo amplia a diversifcao estratifcada
154
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
do subsistema de educao profssional e tecnolgica em duas direes:
na primeira, inclui na educao tecnolgica de nvel mdio, por ele re-
cuperada, uma nova modalidade de estruturao curricular; na segunda,
conduz de forma mais imediata ao mercado de trabalho segmentos das
massas trabalhadoras que, de forma supletiva, procuram concluir sua
educao bsica.
Esses decretos exercem um papel estratgico na ampliao da
formao para o trabalho em nosso pas, oferecendo mais prontamente
capital humano para o aumento da produtividade e da competitividade
da produo material e simblica da riqueza, vantagem comparativa
imprescindvel para a instalao de novas empresas multinacionais no
pas; exercem ainda um importante papel na estabilizao da hegemo-
nia burguesa, em tempo de mudanas qualitativas nas relaes sociais
capitalistas. Ao preverem uma formao de natureza pragmtica para
segmentos signifcativos das massas trabalhadoras, contribuem, no
campo educacional, para aprofundar o apassivamento das lutas sociais,
caracterizado pela assimilao de demandas populares aos objetivos
dos projetos de sociedade e de sociabilidade hegemnicos. Ao favore-
cer uma terminalidade precoce na escolarizao regular, esses decretos
contribuem para fortalecer, ainda, a coeso social nas formaes sociais
perifricas, em tempos de acirramento das desigualdades sociais resul-
tantes, em grande parte, do emprego de polticas econmicas e sociais
neoliberais ortodoxas.
Pode-se afrmar que, no seu primeiro governo, Lula da Silva
concluiu a reforma da educao tecnolgica no nvel mdio e deu pas-
sos decisivos para a concretizao da reforma do seu nvel superior,
ajustando seu marco regulatrio aos requisitos do Anteprojeto de Lei
da Educao Superior, encaminhado em 29 de julho de 2005 pelo
Ministrio da Educao ao Congresso Nacional, que, pela primeira vez
na histria brasileira, legislou conjuntamente sobre o ramo cientfco e
artstico e o ramo tecnolgico da educao superior.
Todo esse processo de implementao de uma certa massifcao
da educao tecnolgica foi-se efetivando sob a batuta da aparelhagem
estatal. Embora tenha recorrido sobejamente coero, por meio de
um nmero sucessivo de decretos e outros instrumentos normativos,
155
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
o primeiro governo Lula da Silva realizou, ao mesmo tempo, uma obra
primorosa de engenharia de concertao social: seguiu os mesmos
princpios poltico-pedaggicos do seu antecessor e, ao mesmo tempo,
contentou minoritariamente grupos progressistas da sociedade e am-
pliou o acesso escolarizao regular de forma supletiva de parcela da
classe trabalhadora, associando requalifcao profssional empregabi-
lidade. Em sntese, efetivou o projeto educacional sob a tica do capital
com um largo consenso do trabalho.
Enquanto o primeiro governo Lula foi paulatinamente redese-
nhando os limites e as possibilidades da formao tcnico-profssional e
da educao tecnolgica neste incio de sculo, foi concomitantemente
criando as condies jurdicas e tico-polticas de concretizao da re-
forma da educao superior.
A proposta do governo de reforma da educao superior, apre-
sentada ao Congresso Nacional em sua quinta verso, manteve na ntegra
a espinha dorsal das verses anteriores, mas fez concesses a interesses
especfcos de integrantes diversos da sociedade civil e da comunidade
acadmica. Obteve, como em relao reforma da educao tecnol-
gica, amplo consenso em torno de suas proposies, fragmentando o
movimento construdo ao longo de dcadas anteriores em torno de um
modelo de educao superior contrrio aos objetivos contemporneos
das vrias fraes das classes dominantes. Diferentemente, tambm,
de todos os dispositivos legais precedentes que regularam a educao
superior no Brasil, o Projeto de Lei n 7.200 de 2006, em tramitao,
prope-se a estabelecer normas gerais da educao superior, a regular
a educao superior do sistema federal de ensino e a alterar a Lei de
Diretrizes e Bases da Educao Nacional
Esse importante marco regulatrio da formao para o tra-
balho complexo para o sculo XXI foi precedido pela aprovao ou
encaminhamento ao Congresso Nacional de um robusto manancial
jurdico-normativo que deu concretude s novas diretrizes econmicas
e poltico-ideolgicas da poltica governamental para a educao supe-
rior. (LIMA, 2005)
156
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
A atual proposta governamental de reforma da educao su-
perior estabelece como pilares bsicos organizativos da formao para
o trabalho complexo dois tipos de instituies prestadoras de servios,
as instituies pblicas e as privadas, com ou sem fns lucrativos; duas
modalidades de ensino, presencial e a distncia; duas trajetrias escola-
res para a educao superior, uma trajetria tecnolgica e uma trajetria
cientfca e de alta cultura; e trs tipos de organizao acadmica,
universidades, centros educacionais e faculdades. Desses pilares, trs
apresentam elementos de continuidade histrica e apenas um introduz
elemento de superao da nossa realidade escolar. A atual proposta de
reforma refora a direo privatista j consolidada na expanso recente
da educao superior, ao mesmo tempo em que reprope a atual frag-
mentao acadmica, quando estabelece trs tipos de instituies para o
conjunto da educao superior pblica ou privada e amplia, para todos
os tipos de curso, o uso do ensino a distncia. O elemento de superao
consiste na incluso formal da rede tecnolgica federal no conjunto da
escolarizao superior federal. O referido projeto de lei estabelece para
o ramo tecnolgico de ensino as denominaes de universidade tecno-
lgica federal, centro tecnolgico federal e escola tecnolgica federal,
modifcando um pouco a nomenclatura do Decreto n 5.225, de 1 de
outubro de 2004, mas mantendo na ntegra o seu esprito.
Essa diversifcao de instituies de ensino superior que se
inicia com a regulamentao da atual LDB, ainda no primeiro governo
Fernando Henrique Cardoso, fnalmente consolidada na proposta da
reforma da educao superior do governo Lula da Silva, aps anos de
luta poltica que se reportam dcada de 1980. O projeto de lei da
reforma da educao superior instaura um novo modelo de educao
escolar, sistema de educao terciria, constitudo por poucos centros
de excelncia de produo do conhecimento cientfco e tecnolgico e
por inmeras instituies formadoras de fora de trabalho para ocupao
de postos qualifcados na produo de bens e servios, na administrao
pblica e nos diversos e sempre mais complexos organismos da socie-
dade civil.
O carter operacional (CHAU, 2001) dessa reforma pode ser
identifcado quando se observa o largo espectro abrangido por suas
157
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
atividades poltico-pedaggicas nos dois ramos da educao superior.
Alm do ensino em cursos de graduao de bacharelado, licenciatura
de educao superior tecnolgica, do ensino em programas de ps-gra-
duao stricto sensu em cursos de mestrado e doutorado, e de atividades
de pesquisa e de extenso, as instituies oferecero ainda cursos de for-
mao continuada, em especial cursos sequenciais de diferentes nveis e
abrangncia e cursos de ps-graduao lato sensu de aperfeioamento e de
especializao. Juntamente com o mestrado e o doutorado profssionais,
esses cursos reforam a nfase atribuda pelo governo formao tcnica
e tico-poltica da fora de trabalho mais imediatamente voltada para o
exerccio de atividades necessrias reproduo ampliada da mercan-
tilizao da vida no novo estgio de desenvolvimento do capitalismo
monopolista.
Nesse projeto, a institucionalizao de cursos superiores a
distncia, alm de reforar o carter fragmentrio e hierarquizante da
formao para o trabalho complexo, refora tambm a dualidade es-
trutural do modelo de educao superior proposto, que segmenta as
instituies voltadas para a formao de profssionais para o mercado
de trabalho e as instituies voltadas para a produo de conhecimentos
necessrios reproduo do capital. De fato, a educao a distncia vem
se transformando em instrumento viabilizador da expanso da oferta
de vagas na educao superior e em poderoso instrumento de confor-
mao tcnica e tico-poltica de intelectuais, em especial professores
e dirigentes escolares, s mudanas qualitativas da sociedade brasileira
contempornea em suas dimenses econmica, poltica e cultural. Por
isso, a educao a distncia, nesta conjuntura, vem se constituindo em
instrumento estratgico de difuso, no Brasil, da nova pedagogia da
hegemonia, embora no se deva descartar a possibilidade de algumas
experincias educacionais, contraditoriamente, virem a se encaminhar
para a construo de uma pedagogia da contra-hegemonia, eviden-
ciando, dessa forma, a possibilidade de luta de classes no mbito do
emprego das tecnologias de informao e comunicao.
Todas essas iniciativas de mudanas na formao para o trabalho
consubstanciam uma poltica de massifcao hierarquizada da educao
escolar, estruturando subsistemas diferenciados embora profundamente
158
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
imbricados que anulam na prtica as diferenas substantivas entre es-
colarizao regular em dois ramos cientfco e tecnolgico, e as vrias
estratgias de treinamento da fora de trabalho. Esse novo panorama
exige, cada vez mais, na anlise da relao trabalho e educao a neces-
sria compreenso do particular no geral e do geral no particular, ou
seja, o estudo de cada aspecto especfco dessa relao a partir da anlise
da totalidade histrica, superando aproximaes setoriais e focais.
REFERNCIAS
BOITO JR., A. Poltica Neoliberal e Sindicalismo no Brasil. So Paulo: Xam, 1999.
BORGIANNI, E.; MONTAO, C. (Orgs.). La Poltica Social Hoy. So Paulo: Cortez,
2000.
BRASIL. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes
e bases da educao nacional. Dirio Ofcial [da] Repblica Federativa do
Brasil, Braslia, 23 dez. 1996. Seo 1, pp. 27.839.
BRASIL. Decreto n 2.207, de 15 de abril de 1997. Regulamenta, para o sis-
tema federal de ensino, as disposies contidas nos artigos 19, 20, 45, 46 e
1, 52, pargrafo nico, 54 e 88 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
e d outras providncias. Dirio Ofcial [da] Repblica Federativa do Brasil,
Braslia, 16 abr. 1997. (Revogado pelo Decreto n 2.306, de 19 de agosto de
1997.)
BRASIL. Decreto n 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o 2 do
artigo 36 e os artigos 39 a 42 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educao nacional. Dirio Ofcial [da]
Repblica Federativa do Brasil, Braslia, 18 abr. 1997.
BRASIL. Portaria n 646, de 14 de maio de 1997. Regulamenta a implantao
do disposto nos artigos 39 a 42 da Lei n 2.208/97 e d outras providncias.
Dirio Ofcial [da] Repblica Federativa do Brasil, Braslia, 15 maio 1997.
BRASIL. Decreto n 5.224, de 01 de outubro de 2004. Dispe sobre a organi-
zao dos centros federais de educao tecnolgica e d outras providncias.
Dirio Ofcial [da] Repblica Federativa do Brasil, Braslia, 02 out. 2004.
BRASIL. Decreto n 5.225, de 01 de outubro de 2004. Altera dispositivos do
decreto n 3.860, de 09 de julho de 2001, que dispe sobre a organizao do
ensino superior e a avaliao de cursos e instituies e d outras providncias.
Dirio Ofcial [da] Repblica Federativa do Brasil, Braslia. 02 out. 2004.
159
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
BRASIL. Projeto de Lei n 7.200/2006. Estabelece normas gerais de educao
superior, regula a educao superior no sistema federal de ensino, altera as Leis
n 9.394, de 20 de dezembro de1996; 8.958, de 20 de dezembro de 1994;
de 30 de setembro de 1997; 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 9.870, de
23 de novembro de 1999. Disponvel em: http://portal.mec.gov.br. Acesso
em: jun. 2006.
BRASIL. Ministrio da Administrao Federal e da Reforma do Estado. Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Braslia: Presidncia da Repbli-
ca, Imprensa Ofcial, 1995.
BRASIL. Ministrio da Educao. O desafo de educar o Brasil. Braslia, 2004.
Disponvel em http://www.mec.gov.br/acs/pdf/desafio.pdf.
BRASIL. Ministrio da Educao. Anteprojeto de Lei da Educao Superior.
Braslia, 29 jul. 2005. Disponvel em http://www.mec.gov.br/reforma/do-
cumentos. Acesso em: jan. 2006.
BRASIL. Ministrio da Educao. Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal
de Nvel Superior. Plano Nacional de Ps-Graduao 2005-2010. Braslia:
MEC, dez. 2004.
BRASIL. Ministrio da Educao/Secretaria de Educao Mdia e Tecnolgica.
Proposta de poltica pblica para a educao profssional e tecnolgica.
Braslia, 2004. Disponvel em http://www.mec.gov.br/semtec/educprof/
ftp/PoliticasPublicas.pdf.
BRASIL. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. Plano Plurianual
2004-2007. Orientao Estratgica de Governo Um Brasil para Todos:
crescimento sustentvel, emprego e incluso social. Braslia: MP, 2003.
BRIGTON LABOUR PROCESS GROUP. O Processo de Trabalho Capitalista.
Traduo mimeografada de Jos Tauille e Carlos R. P. Ferreira. Rio de Janeiro:
[s. n.], 1988. (Mimeo)
CHAU, M. Escritos sobre a Universidade. So Paulo: Editora Unesp, 2001.
CHESNAIS, F. (Org.). A Finana Mundializada: razes sociais e polticas, confgura-
o, conseqncias. So Paulo: Boitempo, 2005.
FEDERAO DAS INDSTRIAS DO ESTADO DE SO PAULO. Livre para Crescer:
uma proposta para um Brasil moderno. So Paulo: Cultura Editores Associa-
dos, 1990.
FONTES, V. O Novo Imperialismo. Rio de Janeiro: Escola Politcnica de Sade Joa-
quim Venncio, 2007. (Mimeo)
160
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
FRIGOTTO, G. Fundamentos Cientfcos e Tcnicos da Relao Trabalho e
Educao no Brasil de hoje. In: NEVES, L. M. W.; PRONKO, M. A.; SANTOS,
M. A. (Coords.). Debates e Sntese do Seminrio Fundamentos da Educao Escolar do Brasil
Contemporneo. Rio de Janeiro: EPSJV/Lateps, 2007, 131-136.
GIDDENS, A. A Terceira Via: refexes sobre o impasse poltico atual e o futuro da
social-democracia. Rio de Janeiro: Record, 1999.
GRAMSCI, A. Cadernos do Crcere. Vol. I. Introduo ao estudo da flosofa. A flo-
sofa de Benedetto Croce. Edio de Carlos Nelson Coutinho, em colaborao
com Luiz Srgio Henriques e Marco Aurlio Nogueira. Trad. Carlos Nelson
Coutinho. Orelha de Joseph A. Buttigieg. Quarta capa de Eric Hobsbawm. Rio
de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1999.
GRAMSCI, A. Cadernos do Crcere. Vol. II. Os intelectuais. O princpio educativo.
Jornalismo. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Orelha de Leandro Konder. Quarta
capa de Norberto Bobbio. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.
HARVEY, D. O Novo Imperialismo. So Paulo: Edies Loyola, 2005.
IBGE. Gerncia de Cadastro Central de Empresas. As Fundaes Privadas e As-
sociaes sem Fins Lucrativos no Brasil: 2002. Rio de Janeiro, 2004.
LEHER, R. Para Fazer Frente ao Apartheid Educacional Imposto pelo Banco
Mundial: notas para uma leitura da temtica trabalho-educao. Rio de Janei-
ro, 2002. (Mimeo.)
LIMA, K. R. de S. Reforma da Educao Superior nos Anos de Contra-revoluo Neoliberal:
de Fernando Henrique Cardoso a Lus Incio da Silva. 2005. Tese (Doutorado
Educao) - Programa de Ps-Graduao em Educao, Universidade Federal
Fluminense, Niteri. 2005.
MARTINS, A. S. Burguesia e a Nova Sociabilidade: estratgias para educar o consenso
no Brasil contemporneo, 2007. Tese (Doutorado em Educao) - Programa
de Ps-Graduao em Educao, Universidade Federal Fluminense, Niteri.
2007.
MARX, K. Para uma crtica da Economia Poltica. 12a. ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1988. v. 1.
MELO, A. de A. S. de. A Mundializao da Educao: consolidao do projeto neoli-
beral na Amrica latina Brasil e Venezuela. Macei: Edufal, 2004.
NEVES, L. M.W. Educao e Poltica no Brasil de Hoje. So Paulo: Cortez, 1994. (Col.
Questes da Nossa poca, 36)
NEVES, L. M.W. (Org.) A Nova Pedagogia da Hegemonia: estratgias do capital para
educar o consenso. So Paulo: Xam, 2005.
161
Lcia Maria Wanderley Neves e Marcela Alejandra Pronko
NEVES, L. M.W. A reforma da educao superior e a formao de um novo
intelectual urbano. In: NEVES, L. M. Wanderley; SIQUEIRA, . (Orgs.). Educao
Superior: uma reforma em processo. So Paulo: Xam, 2006.
NEVES, L. M. W.; PRONKO, M. A. O mercado do conhecimento e o conhecimento para o
mercado. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008.
OLIVEIRA, M. M. O Desenvolvimento da Ao Sindical do Ensino Privado Brasileiro. Rio de
Janeiro: Preal Brasil, CPDOC/Fundao Getlio Vargas, 2001.
PRONKO, M. Universidades del Trabajo en Argentina y Brasil. Montevidu: Cinterfor,
2003.
RODRIGUES, J. O Moderno Prncipe Industrial: o pensamento pedaggico da Confe-
derao Nacional da Indstria. Campinas: Autores Associados, 1998.
SAVIANI, D. A Nova Lei da Educao (LDB): trajetria, limites e perspectivas. Cam-
pinas: Autores Associados, 1997.
SAVIANI, D. Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educao: por uma outra poltica
educacional. Campinas: Autores Associados, 1998.
WOOD, E. M. El Imperio del Capital. Matar: El Viejo Topo, 2003.
INTRODUO
1
A
s percepes sobre a formao profssional com o avano do
capitalismo monopolista nas ltimas dcadas so percebidas
atravs da dialtica entre o trabalho, a formao humana e os
complexos processos sociais presentes nas dimenses econ-
mica, poltica e social. As polticas pblicas voltadas para a formao de
trabalhadores infuenciam e so infuenciadas pelas mediaes dialticas
existentes em seu tempo, entre as quais a diviso internacional do traba-
lho constitui-se em um fator considervel.
Quando analisamos a insero de um pas na diviso internacio-
nal do trabalho, devemos considerar que essa expresso de diferenas e
desigualdades, materializao das relaes de poder e dominao do seu
tempo; exemplo fundamental da constituio de uma produo cientf-
ca heterognea que circula de diferentes formas no planeta. Ao fazermos
1 O presente texto foi publicado originalmente na Revista Histedbr On-line, Campinas, Especial, p. 147-
161, mai. de 2009.
MUNDIALIZAO E
TRABALHO: UM DEBATE
SOBRE A FORMAO
DOS TRABALHADORES
NO BRASIL
Carlos Lucena
Robson Luiz de Frana
Fabiane Santana Previtalli
Adriana Omena
Lzara Cristina da Silva
Lurdes Lucena
163
Carlos Lucena et al
essa afrmao, tomamos como princpio que os processos formativos
humanos, voltados para a formao dos trabalhadores, so expresses
da complexa lgica do trabalho, expresso das relaes da humanidade
com a natureza que d sentido e objetiva a sua existncia. Marx afrma
em os Grundisse que a
[...] natureza no constri mquinas, nem locomotivas, nem
estradas de ferro, nem telgrafos eltricos, nem mquinas
automticas de tecer, etc.; isso so produtos da indstria
humana, da matria natural, transformada em instrumentos
da vontade e da atividade humana sobre a natureza. So ins-
trumentos do crebro humano, criados pela mo do homem,
rgos materializados do saber. (MARX, 1980b, p. 52)
Engels em O Anti-Dhring problematiza a relao humana com
a natureza, afrmando que a liberdade a expresso da conscincia das
necessidades naturais, um produto da evoluo histrica humana e suas
relaes com a natureza. Os primeiros homens
[...] que se levantaram do reino animal eram, em todos os
pontos essenciais de suas vidas, to pouco livres quanto os
prprios animais; cada passo dado no caminho da cultura
um passo no caminho da liberdade. Nos primrdios da his-
tria da humanidade, realizou-se a descoberta que permitiu
converter o movimento mecnico em calor: a produo do
fogo pela frico; o progresso tem, atualmente, como sua
etapa terminal, a descoberta que transforma, inversamente, o
calor em movimento mecnico: a mquina a vapor. E apesar do
colossal abalo de libertao que a mquina a vapor trouxe ao
mundo social e que at hoje ainda no deu sequer a metade
de seus frutos indubitvel que a produo do fogo pela
frico, nos tempos primitivos, foi superior quela descoberta
como condio emancipadora. O fogo, obtido dessa forma,
foi que permitiu ao homem o domnio sobre uma fora da
natureza, emancipando-o defnitivamente das limitaes do
mundo animal. (ENGELS, [s.d.], p. 65)
Engels aprofunda essa discusso em A dialtica da natureza, afr-
mando, em negao aos princpios metafsicos relativos origem em
explicao da humanidade, que foi o trabalho, resultado de aes racio-
164
Carlos Lucena et al
nais do homem com a natureza, objetivados sua prpria sobrevivncia,
que deu sentido e conscincia aos seres humanos. A humanidade foi
inventada pelo trabalho que colocou ela condies para o desenvolvi-
mento da linguagem, da sociedade, da cincia e da tecnologia. Podemos
dizer que Engels utilizou o conceito de trabalho na sua forma abstrata
como um pressuposto que diferenciava os homens dos animais. Essa
afrmao comprova-se quando se verifca as comparaes realizadas
entre o homem e a guia. Ele ilustrou essa questo afrmando que o
olho da guia enxerga muito mais longe do que o olho do homem,
no existindo comparao quanto ao alcance de um e de outro. Porm,
o olho do homem, mesmo sendo restrito em relao ao da guia, en-
xerga e interpreta o mundo no apenas nas fronteiras do instinto, mas,
sim, pela racionalidade que d sentido e substncia quilo que v. Essa
afrmao de Engels infuenciou profundamente Marx na elaborao da
clebre passagem no Livro Primeiro de O Capital, afrmando que o
[...] trabalho um processo entre o homem e a Natureza,
um processo em que o homem, por sua prpria ao, me-
dia, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele
mesmo se defronta com a matria natural como uma fora
natural. Ele pe em movimento as foras naturais pertencen-
tes sua corporalidade, braos e pernas, cabea e mo, a fm
de apropriar-se da matria natural como uma forma til para
a sua prpria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre
a Natureza externa a ele e ao modifc-la, ele modifca, ao
mesmo tempo, sua prpria natureza. Ele desenvolve as po-
tncias nela adormecidas e sujeita ao jogo de suas foras a
seu prprio domnio. No se trata aqui das primeiras formas
instintivas, animais de trabalho. O estado em que o trabalha-
dor se apresenta no mercado como vendedor de sua prpria
fora de trabalho deixou para fundo dos tempos primitivos
o estado em que o trabalho humano no se desfez ainda de
sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa
forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma ara-
nha executa operaes semelhantes s do tecelo, e a abelha
envergonha mais de um arquiteto humano com a construo
do favo de suas colmias. Mas, o que distingue de antemo, o
pior arquiteto da melhor abelha que ele construiu o favo em
sua cabea, antes de constru-lo na cera. No fm do processo
de trabalho obtm-se um resultado que j no incio deste
existiu na imaginao do trabalhador, e, portanto idealmen-
165
Carlos Lucena et al
te. Ele no apenas efetuou uma transformao da forma da
matria natural; realiza, ao mesmo tempo, na matria natural
seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espcie
e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar a sua
vontade. (MARX, 1985b, p. 149-150)
O trabalho como a consolidao do modo de produo capi-
talista, relacionado ao avano da maquinaria industrial passa por uma
importante inverso. Marx no Captulo VI Indito do Livro Primeiro de O Capital
afrma que os trabalhadores so percebidos gradativamente como es-
tranhos maquinaria, autmatos da prpria mquina. Desenvolve-se
uma inverso de relaes entre o trabalho e seus instrumentos, relaes
que tm como explicao a histria do trabalho no capitalismo. Essa se
explica pelo pressuposto que, se antes as mquinas foram criadas como
extenso dos braos dos homens, agora so os homens que se transfor-
maram, em maioria absoluta, nos braos dessas mquinas.
Marx tambm aponta essa questo nos Grundisse, demonstrando
que os trabalhadores se transformam em acessrios conscientes da ma-
quinaria industrial, um acessrio vivo da mquina, um mero meio de
ao para uma atividade estranha a eles. A cincia do capitalismo no
existe mais no crebro dos trabalhadores, pelo contrrio, se manifesta
nas mquinas que agem sobre os trabalhadores como uma fora estra-
nha, como o prprio poder da mquina. (MARX, 1980b, p. 39)
A mquina j no tem nada de comum com o instrumento
do trabalhador individual. A atividade manifesta-se muito
mais como pertencente mquina, fcando o operrio a
vigiar a ao da mquina e proteg-la de avarias. Com a fer-
ramenta era diferente. O trabalhador animava a ferramenta
com sua arte e criatividade. Com efeito, a mquina que
passa a ter virtuosidade, pois as leis mecnicas em seu interior
dotaram-na de alma. [...] Nos numerosos pontos do sistema
mecnico, o trabalho aparece como corpo consciente, sob a
forma de alguns trabalhadores vivos. Dispersos, submetidos
ao processo de conjunto da maquinaria, no forma mais do
que um elemento do sistema, cuja unidade no reside nos
trabalhadores vivos, mas na maquinaria viva (ativa) que, em
relao atividade isolada e insignifcante do trabalho vivo,
aparece como um organismo gigantesco. (MARX, 1980b,
p. 38-39)
166
Carlos Lucena et al
Quando problematizamos esse processo de inverso imposto
pelo avano do capitalismo monopolista nas ltimas dcadas, verifcamos
que esse avano materializa contradies que colocam possibilidades e
limites para a burguesia e reproduo do capital. Entre as possibilidades
esto as formas de explorao cada vez mais substantivas, tanto no m-
bito da mais-valia absoluta, como na mais-valia relativa. O investimento
em capital constante, em detrimento do capital varivel, reduz a velo-
cidade da reproduo do capital, uma vez que a maquinaria industrial
se paga atravs da depreciao. As sadas encontradas esto presentes na
adoo de estratgias voltadas para a explorao mxima dos trabalha-
dores. A efcincia do capitalista est na sua capacidade e inventividade
de assimilao mxima do trabalho na sua dimenso objetiva e sub-
jetiva, transformando o tempo livre, a imaginao e a resistncia dos
trabalhadores em mais trabalho. Essas iniciativas se consolidam com a
antecipao das reivindicaes dos trabalhadores, incorporando seus
anseios e aspiraes aos interesses das empresas, bem como, em nvel
estrutural, promoo de novas elites que se manifestam em governos
eleitos pelos trabalhadores com potencial de promover medidas que
prejudiquem os prprios trabalhadores. nesse sentido que se criam e
recriam ideologias voltadas para a explorao mxima das capacidades
dos trabalhadores que se manifestam em polticas educacionais voltadas
para esse fm, sendo o Brasil um dos exemplos.
Relacionado dialeticamente s possibilidades de reproduo do ca-
pital apontadas acima, vemos os limites que se manifestam na constituio
de crises econmicas cclicas do capitalismo que afetam a reproduo
do capital e as respostas dos homens de negcios para a recomposio
desse processo de acumulao. O que se verifca uma aposta radical
na economia de mercado como instrumento da liberdade individual. A
adoo de novas formas de gesto e organizao da produo se explica
por meio do movimento transnacional da economia poltica imposta
pela burguesia internacional que constri imperativos legitimados pela
expanso incontrolvel do capital que impem a explorao mxima da
fora de trabalho tal qual afrmamos anteriormente.
No podemos desconsiderar que entre as iniciativas dos homens
de negcios, objetivadas no incremento da reproduo do capital, a bus-
167
Carlos Lucena et al
ca do envolvimento dos trabalhadores com os interesses das empresas
se intensifca. Quanto mais as empresas incorporam os interesses dos
trabalhadores aos seus, construindo alternativas para que os interesses
sejam homogeneizados, consolidam-se os alicerces para que o saber dos
trabalhadores se volte contra os prprios trabalhadores, pois atravs
dele que as empresas sistematizam a produo, elevando as fronteiras
do trabalho alienado. O saber dos trabalhadores ao ser codifcado deixa
gradativamente de ser misterioso e perde o seu potencial de resistncia,
um dos fundamentos principais da sua qualifcao.
com essas questes que se problematiza a insero dos traba-
lhadores, sua qualifcao e a importncia da educao nesse complexo
e contraditrio processo. A luta dos trabalhadores passa pela incessante
busca do conhecimento, mesmo entendendo que esse no se explica
por si s, mas seu maior acesso ou no, se justifca nas mediaes da
sociedade capitalista. o que j demonstrava Marx, ao debater a condi-
o miservel da educao oferecida aos trabalhadores na Inglaterra do
sculo XIX.
Ao visitar uma dessas escolas expedidoras de certifcados
fquei to chocado com a ignorncia do mestre-escola que
lhe disse: Por favor, o senhor sabe ler? Sua resposta foi: Ah!
Algo (summat). E, como justifcativa, acrescentou: De todos os
modos estou frente dos meus alunos [...] A primeira escola
que visitamos era mantida por uma Mrs. Ann Killin. Quando
lhe pedi para soletrar o sobrenome, ela logo cometeu um erro
ao comear com a letra C, mas, corrigindo-se imediatamen-
te, disse que seu sobrenome comeava com K. Olhando sua
assinatura nos livros de assentamento escolares, reparei, no
entanto, que ela o escrevia de vrios modos, enquanto sua
letra no deixava nenhuma dvida quanto a sua incapacidade
de lecionar. Ela mesma tambm reconheceu que no sabia
manter o registro [...] Numa segunda escola, encontrei uma
sala de aula de 15 ps de comprimento e 10 ps de largura e
nesse espao contei 75 crianas que estavam grunhindo algo
ininteligvel. No , porm, apenas nessas covas lamentveis
que as crianas recebem certifcados escolares, mas nenhu-
ma instruo, pois, em muitas escolas onde o professor
competente, os esforos dele so de pouca valia em face ao
amontoado atordoante de crianas de todas as idades, a partir
de 3 anos. Sua receita, msera no melhor dos casos, depende
168
Carlos Lucena et al
totalmente do nmero de pences recebidos do maior nmero
possvel de crianas que seja possvel empilhar num quarto.
A isso acresce o parco mobilirio escolar, carncia de livros e
outros materiais didticos, bem como o efeito deprimente,
sobre as pobres crianas, de uma atmosfera fechada e ftida.
Estive em muitas dessas escolas, onde vi sries inteiras de
crianas no fazendo absolutamente nada; e isso certifcado
como freqncia escolar e, na estatstica ofcial, tais crianas
fguram como sendo educadas (educated). (MARX, 1988, p. 25)
Marx retrata a educao oferecida aos trabalhadores nas inds-
trias metalrgicas de estamparia inglesa, problematizando que, em uma
sociedade de classes organizada nas fronteiras da reifcao crescente, o
acesso ao conhecimento heterogneo e diversifcado.
Toda criana, antes de ser empregada numa dessas estampa-
rias, deve ter freqentado a escola ao menos por 30 dias e
por no menos de 150 horas durante 6 meses que precedem
imediatamente o primeiro dia de seu emprego. Durante a
continuidade de seu emprego na estamparia, precisa igual-
mente freqentar a escola por um perodo de 30 dias e de
150 horas a cada perodo semestral. [...] Em circunstncias
normais, as crianas freqentam a escola de manh e tarde
por 30 dias, 5 horas por dia e, aps o decurso dos 30 dias,
quando estatutria global de 150 horas foi atingida, quando
eles, para usar seu linguajar, acabaram o seu livro, voltam para
a estamparia, onde fcam de novo 6 meses at que vena ou-
tro prazo de freqncia escolar, e ento fcam novamente na
escola at que acabem o livro novamente. [...] Muitos jovens
que freqentavam a escola durante as 150 horas requeridas,
quando voltam ao trmino de 6 meses de permanncia, esto
no mesmo ponto em que estavam no comeo. [...] Eles natu-
ralmente perderam tudo quanto tinham adquirido com sua
freqncia anterior escola. (MARX, 1988, p. 26)
Mesmo com o crescimento do acesso a nveis escolares mais ele-
vados, a qualifcao dos trabalhadores no se eleva. O aumento do nvel
de escolaridade atenta explorao gratuita, por parte da empresa, dos
saberes formais dos trabalhadores adquiridos nas escolas, consolidando
relaes em que mesmo diplomados em nvel superior, exercem fun-
es no condizentes com a sua formao intelectual. Esses atuam como
169
Carlos Lucena et al
executantes e, atravs de polticas empresariais de sugestes no processo
produtivo, tm seus saberes solicitados em troca de uma promessa
subjetiva de continuidade no emprego, enquanto que na realidade no
recebem nada por isso. Em alguns casos, o risco que correm que suas
sugestes se voltem contra eles mesmos, racionalizando, ainda mais, o
processo produtivo e custando o prprio emprego de quem as criou: a
criao volta-se contra o prprio criador.
O aumento do nvel de escolaridade no signifca elevao de
sabedoria operria, e muito menos a construo de homens superiores
que visualizam alm do trabalho alienado. O desafo consiste na unio
entre o saber e o fazer, na juno de algo que as constantes transforma-
es na organizao tcnica e social da produo capitalista separam e
que est muito distante dos trabalhadores. A qualifcao fragmentada
e despolitizada constitui-se no esvaziamento do contedo dos traba-
lhadores. A noo de formao profssional deve ser construda pelos
prprios trabalhadores, recuperando a historicidade das suas lutas e rei-
vindicaes, constituindo-se em um grande desafo de interveno dos
prprios trabalhadores. Para isso, necessria a recuperao de expe-
rincias nacionais sem perder de referncia as mediaes internacionais,
problematizando suas contradies, identifcando projetos e concepes
de mundo que aparentemente so neutros, mas essencialmente no o
so.
ALGUMAS CONSIDERAES SOBRE A FORMAO
PROFISSIONAL NO BRASIL
A anlise da formao profssional no Brasil corrobora com as
preocupaes citadas anteriormente. No podemos desconsiderar que
as mediaes da humanidade com a natureza impulsionam processos
de formao humana, mediam relaes sociais e proporcionam proces-
sos de disputa. A formao obtida no contexto educacional brasileiro
contraditria, uma vez que tanto manifesta processos de resistncia
com relao a afrmaes dos interesses da reproduo do capital, bem
como materializa concepes que, baseadas na noo de individualida-
170
Carlos Lucena et al
de, responsabilizam os trabalhadores pela sua formao e manuteno
no mercado de trabalho.
Essa uma contradio que atravessa o capitalismo e seus
processos de formao humana. O mercado de trabalho ocasiona desi-
gualdades e discriminaes devido concentrao de renda nas mos
de poucos que conseguem melhores condies de trabalho, enquanto
que parcela considervel fca desempregada e submissa a empregos pre-
crios, sem nenhuma perspectiva de ascenso social e de permanncia
no mercado de trabalho. Segundo Pochmann, a dinmica do mercado
de trabalho extremamente excludente e danifca as contribuies que
a educao oferece, aumentando, consequentemente, as desigualdades
sociais existentes no pas. As taxas de desemprego vm aumentando para
a populao mais escolarizada, o que acaba por exceder mo de obra
para o mercado nesse seguimento social. Desta maneira, a elevao dos
nveis de escolaridade num quadro de estagnao econmica, baixo
investimento em tecnologia e precarizao do mercado de trabalho
acaba se mostrando insufciente para potencializar a gerao do trabalho.
(POCHMANN, 2004)
Pode-se perceber que os melhores empregos acabam com os
mais ricos, sendo que os menos favorecidos e com alta escolaridade
fcam desempregados, alm de sofrer preconceitos raciais e de classe.
necessrio que ocorra uma expanso da escolaridade, no apenas do
ponto de vista produtivo, como tambm da cidadania.
A crise atual do capitalismo, bem como o seu processo de reor-
ganizao e a construo de uma nova sociabilidade no Brasil, dentro
de uma tica subalterna ao capital (ARRIGHI, 1997), apresenta-se como
um perodo de amplas e profundas transformaes nos polos cientfco
e cientfco-tecnolgico, alterao no interior dos processos de trabalho,
reorganizao dos Estados etc.
Essas mudanas, em um contexto amplo de Estado, so carac-
terizadas por dois perodos distintos. O primeiro deles descrito por
Hobsbawn (1995), sendo considerado como Era do Ouro, que se evi-
dencia com um amplo crescimento econmico e de estabilidade e com
uma crescente produo e consumo. Por outro lado, evidencia-se, tam-
171
Carlos Lucena et al
bm, nesse contexto, a poltica do pleno emprego. O segundo perodo
caracterizado pela globalizao e mundializao de capital, discutido
por Ianni (1996) e Chesnais (1997), perodo que revela as polticas
neoliberais e responsveis pelas profundas mudanas no contexto das
polticas sociais, do trabalho, da reestruturao produtiva, bem como,
das reformas estatais que visam garantir de um lado a desestatizao da
economia e, por outro, a presena do estado com base em mecanismos
de regulao da economia.
No Brasil, o processo de desestatizao e regulao inicia-se
nos anos de 1990, com o governo Collor de Mello
2
e, a seguir, com
Fernando Henrique Cardoso
3
, no discurso de modernizao econmica
e produtiva do pas. As principais consequncias da implementao
desse modelo refetem na fragilizao dos direitos trabalhistas, no es-
vaziamento do poder de negociao coletiva de trabalho e no acirrado
discurso de qualifcao do trabalhador como requisito fundamental
para a manuteno no mercado de trabalho.
Rodrigues (1998) afrma que o que ocorreu, nesse perodo,
foi a tentativa de instaurar no Brasil uma hegemonia to desejada pela
burguesia, implementando seu projeto baseado na ideologia neoliberal,
na fexibilidade, na descentralizao e autonomia, e na privatizao. O
iderio neoliberal se constitui como uma prtica ideolgica com prio-
rizao do social que transforma todo o planejamento em mercado,
ressaltando o individualismo e, principalmente, o capitalismo.
Segundo Ianni (1998), o neoliberalismo possui cinco bases fun-
damentais: prticas ideolgicas; cultura; desencantamento do mundo;
diplomacia e globalizao. As prticas ideolgicas funcionam como troca
de hbitos, de atitudes, comportamentos, ideias, procedimentos, enfm,
tudo que objetive expandir os espaos para o mercado. A cultura atua
infuenciando a populao pela dinmica da economia. O processo de
desencantamento do mundo ocorre baseado na intensifcao de ideias
inspiradas na razo instrumental, traduzidas em pragmatismo, racio-
2 N.E.: Fernando Affonso Collor de Mello, 32. Presidente do Brasil, 15 de maro de 1990 a 02 de
outubro de 1992
3 N.E.: Fernando Henrique Cardoso, 34. Presidente do Brasil, 01 de janeiro de 1995 a 01 de janeiro
de 2003
172
Carlos Lucena et al
nalizao, modernizao etc.. (IANNI, 1998) A diplomacia reproduz e
dissemina os ingredientes nazifascistas, difundindo por todo o mundo
e intensifcando a globalizao. Essa, por sua vez, provoca mudanas nos
quadros sociais, interferindo nos territrios a fm de expandir fronteiras
econmicas pelo mundo, visando expanso do capitalismo. Isso tudo
tem sido o que produz e reproduz as classes subalternas, a pobreza, o
desemprego, resultando em violncia, em protestos, lutas sociais e di-
versas formas de reivindicaes que expressam as desigualdades sociais.
Ainda segundo Ianni, h uma ordem social global que no se
parece com o antigo equilbrio entre os Estados Nacionais nas suas
relaes internacionais (a bipolaridade da era da Guerra Fria, por
exemplo), mas que demonstra que o discurso do globalismo, como
apologia dos valores do mercado, no passa de uma ideologia que
pressupe esta ordem, embora a negue como estrutura mundial de
poder que sustenta um sistema econmico causador desta situao de
misria social e destituio de direitos.
Ianni radicaliza este ponto de vista terico:
Sim, as organizaes multilaterais e as corporaes transna-
cionais so novas, poderosas e ativas estruturas mundiais de poder.
Elas se sobrepem e impem aos Estados nacionais, com-
preendendo extensos segmentos das sociedades civis, isto ,
das suas foras sociais. [...] Sim, j se formaram e continuam
a desenvolverem-se estruturas globais de poder, respondendo
aos objetivos e s prticas dos grupos, classes ou blocos de
poder organizados em escala realmente global. (IANNI, 1998,
p. 20) [Grifos do autor]
Desta forma, a gesto capitalista da crise, que se esconde por trs
do discurso triunfante do pensamento nico neoliberal e da ideologia
do globalismo, administrada por intelectuais, instituies, empresas,
governos e classes sociais que formam uma coalizo que se contrape a
uma noo, como a da universalizao da apropriao dos direitos hu-
manos na condio de forma de desenvolvimento econmico-social. A
gesto da excluso social um subproduto lgico e real deste processo
social de carter conservador, pois perpetua a desigualdade social e a
pobreza estrutural.
173
Carlos Lucena et al
Fica claro, portanto, que em meio evoluo capitalista do
mundo, as relaes de trabalho sofrem profundas modifcaes e a prin-
cipal delas o conceito de trabalho visto como uma mercadoria. Alm
disso, segundo Chesnais (1997) e Ianni (1996), h uma reordenao
geogrfca do capital em que os trabalhadores globalmente passaram a
ter uma relao com o trabalho incerto em que esse no consegue impor
seu carter humano. Outra caracterstica do trabalho o distanciamento
entre o empregador e empregado, tomando como base as formas de
gesto do trabalho, reduzindo o trabalhador a uma massa desprovida de
individualidades e subjetividades.
Portanto, a transitoriedade a marca de um estilo de vida, que
se estabelece pelo no comprometimento com o outro e ausncia
quase que total da solidariedade social. Nesse contexto, o subempre-
go, fruto do expressivo desemprego estrutural, uma realidade. Sem
direitos e sem deveres legais, o subempregado automaticamente se
torna um excludo margem do processo produtivo e social do Estado.
Outra caracterstica no contexto do capitalismo avanado a alta qua-
lifcao/formao atrelada ao crescimento de baixos salrios. Com a
concorrncia acirrada e o alto ndice de desemprego, os trabalhadores,
principalmente os mais jovens, so submetidos aceitao de uma re-
munerao aqum de suas obrigaes e necessidades, fator que ajuda
na manuteno e disseminao das agruras econmicas e dos nveis de
insegurana. (PETRAS, 1999)
As desigualdades sociais tambm aumentaram devido ao fator
educao que separa ainda mais as diferenas de classe e a ascenso
social, alm de ressaltar a infuncia da economia capitalista no campo
educativo, no atendendo ou oferecendo educao de qualidade para
todos, no desenvolvendo as concepes sobre as condies impostas
aos menos favorecidos, que so esmagados pela poltica, pela falta de
acesso sade, pelas relaes desiguais de classes sociais, e pelas demais
dinmicas presentes em nossa sociedade que contribuem para a conti-
nuidade desta situao para essa populao.
A retrica neoliberal atribui um papel estratgico educao e
determina-lhe basicamente trs objetivos:
174
Carlos Lucena et al
1. Atrelar a educao escolar preparao para o trabalho e
para a pesquisa acadmica como um imperativo do mer-
cado ou s necessidades da livre iniciativa. Assegura, ainda,
que o mundo empresarial tenha interesse na educao
porque deseja uma fora de trabalho qualifcada, apta
competio no mercado nacional e internacional. Fala em
nova vocacionalizao, isto , profssionalizao situada
no interior de uma formao geral, na qual a aquisio de
tcnica e linguagens de informtica e conhecimento de ma-
temtica e cincia adquirem relevncia. Valoriza as tcnicas
de organizao, o raciocnio de dimenso estratgica e a ca-
pacidade de trabalho cooperativo. Apple (1999) afrma que
na sociedade contempornea, a cincia se transforma em
capital tcnico-cientfco. As grandes empresas controlam a
produo cientfca e colocam-na a seu servio de diversas
formas: a) por meio da pesquisa cientfca industrial orga-
nizada na prpria empresa; b) pelos controles das patentes,
de produtos de tecnologia cientfca, podendo, portanto, se
antecipar s tendncias do mercado consumidor; c) con-
trolando os denominados pr-requisitos do processo de
produo cientfca da escola e, principalmente, da univer-
sidade, onde se produz conhecimentos tcnico-cientfcos.
A integrao da universidade produo industrial baseada
na cincia e na tcnica transforma a cincia em capital
tcnico-cientfco.
2. Tornar a escola um meio de transmisso dos seus princpios
doutrinrios. O que est em questo a adequao da escola
ideologia dominante. Essa precisa sustentar-se, tambm,
no plano das vises de mundo, por isso, a hegemonia passa
pela construo da realidade simblica. Em nossa socie-
dade, a funo de construir a realidade simblica , em
grande parte, preenchida pelos meios de comunicao de
massa, mas a escola tem um papel importante na difuso
da ideologia ofcial. O problema para os neoliberais que,
nas universidades e nas escolas, durante as ltimas dcadas,
o pensamento dominante, ou especular, conforme Alfredo
175
Carlos Lucena et al
Bosi (2001), tem convivido com o pensamento crtico
nas diversas reas do conhecimento e nas diversas prticas
pedaggicas dialgicas, alternativas. Nesse quadro, fazer da
universidade e da escola veculos de transmisso do credo
neoliberal pressupe um reforo do controle para enqua-
drar a escola, a fm de que cumpra, mais efcazmente, sua
funo de reprodutora da ideologia dominante.
3. Fazer da escola um mercado para os produtos da indstria
cultural e da informtica, o que, alis, coerente com a
ideia de fazer a escola funcionar de forma semelhante ao
mercado, mas contraditrio, porque, enquanto no discur-
so os neoliberais condenam a participao direta do Estado
no fnanciamento da educao, na prtica, no hesitam em
aproveitar os subsdios estatais para divulgar seus produtos
didticos e paradidticos no mercado escolar.
Enquanto o liberalismo poltico clssico colocou a educao en-
tre os direitos do homem e do cidado, o neoliberalismo, segundo Silva
(1999), promove uma regresso da esfera pblica, na medida em que
aborda a escola no mbito do mercado e das tcnicas de gerenciamento,
esvaziando, assim, o contedo poltico da cidadania, substituindo-o pe-
los direitos do consumidor. como consumidor, tanto no Brasil, como
fora dele, que o neoliberalismo v alunos e pais de alunos. Como obser-
vamos, a novidade, se que assim se pode chamar, do projeto neoliberal
para a educao no s a privatizao. O aspecto central a adequao
da escola e da universidade pblica e privada aos mecanismos de mer-
cado, de modo que a escola funcione semelhana do mercado.
Isso tudo possui signifcado, pois antes dos objetos chegarem
at ns, j passaram por uma longa cadeia de relaes que retirou
pessoas da terra, causando sua ida para as favelas e negando aos seus
flhos cuidados mdicos e escolas. (COSTA, 1996) O senso comum e
nossos modos de compreender as atividades cotidianas, dentro e fora da
educao, dependem das relaes sociais e das experincias vividas por
cada um. As vantagens que obtemos do trabalho resultante de relaes
hierarquizadas em funo do capitalismo so ocultadas nos currculos
escolares. No distinguimos os processos de dominao e subordinao
176
Carlos Lucena et al
em que vivemos, pois h uma criao do senso comum com a legiti-
mao da dominao racial, de gnero e de classe, resultando em um
carter de nossa compreenso que tem origem nos modos pelos quais
nos so apresentadas e cotidianamente estruturadas.
Assim, o individualismo, que um dos ingredientes do iderio
neoliberal, um fenmeno que est muito disseminado nos dias atuais
e muito presente nas nossas prticas e neste senso comum que nos
colocado hoje. O individualismo, de acordo com Durkheim (1895),
ocorre quando o sujeito se orienta objetivando a satisfao de interesses
cada vez menos coletivos e mais pessoais e individuais na disputa de
sobrevivncia na sociedade. Ele tambm dizia que a sociedade faz o ho-
mem na mesma medida que o homem a faz e, nesse sentido, a educao
que nos colocada procura nos ajustar aos padres de nossa sociedade.
O mbito educacional brasileiro refete as mediaes dialticas
existentes nos anos de 1980 e de 1990 que articulam as relaes entre
a educao, modernizao e qualifcao profssional. A infuncia do
capitalismo fca evidente nas prticas educacionais que visam prepa-
rar mo de obra adequada para atender as necessidades do mercado,
acompanhando o momento e o desenvolvimento econmico do pas.
Nesse contexto, a educao profssional apresenta-se como mecanismo
de excluso, considerando sua origem e trajetria marcada no Brasil por
duas caractersticas: em primeiro lugar, esta sempre foi uma educao
destinada aos subalternos da sociedade classe trabalhadora , e, em
segundo, ter-se constitudo, historicamente, em paralelo ao sistema
regular de ensino. Esse quadro torna-se, ainda, mais perverso quando
consideramos que uma imensa maioria foi e est excluda at mesmo
desta estrutura dual, ou seja, grande parcela da populao que nem a
esta educao de classe teve acesso, faz com que nos certifquemos do
carter classista e discriminatrio da sociedade brasileira.
Os empresrios assumiram publicamente a defesa de um mo-
delo de formao profssional mais moderno, mais adequado ao novo
momento econmico do Brasil; o conceito de globalizao da economia,
assim como a questo da qualidade, tem ocupado um lugar de destaque
nessa defesa pblica do valor da educao. Princpios tradicionalmen-
te pertencentes classe trabalhadora e aos educadores progressistas,
177
Carlos Lucena et al
como a universalizao da educao geral bsica, so empenhados pela
burguesia industrial. (RODRIGUES, 1998) Dessa maneira, reformas
educacionais foram implementadas com um duplo princpio: por um
lado, voltadas para os princpios da empregabilidade, qualifcao/
treinamento/formao profssional, por outro, para o combate ao anal-
fabetismo e a excluso.
Ao analisarmos as polticas pblicas para a educao na ltima
dcada no Brasil, percebemos que esta no s tem se caracterizado pelo
aspecto irregular, fragmentrio e compensatrio, como tambm pelo
afastamento do poder pblico quanto defnio e implementao de
polticas que possam, efetivamente, garantir essa modalidade educativa.
Algumas aes do Ministrio da Educao e do Ministrio do
Trabalho so desenvolvidas para garantir formao profssional por meio
de cursos tcnicos oferecidos por instituies especializadas mantidas
pelo Governo ou por instituies credenciadas. Outros tipos de fnancia-
mento tm se apresentado, principalmente, com recursos do Ministrio
do Trabalho, Ministrio da Educao e tambm do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educao (FNDE) para as reas de capacitao de
recursos humanos, aquisio de material escolar e reproduo de mate-
rial didtico.
evidente que tal forma de lidar com o problema insufciente,
alm de inadequada, tendo em vista a amplitude da carncia educacional
da populao jovem e adulta do pas, sinalizando, pois, a inexistncia
de uma poltica efcaz para o enfrentamento da questo. Desse modo,
percebemos que, nos anos de 1990, a inaugurao de um novo pero-
do na educao brasileira, comparvel, em sua dimenso, s mudanas
ocorridas a partir de meados dos anos de 1960, de maneira semelhante,
associavam educao s necessidades do setor produtivo no entanto
planejada sob os cuidados do tlos do Brasil desenvolvido. Em outras
palavras, da ideologia desenvolvimentista ideologia competitivista,
observamos que a educao passou de uma tentativa de adequar-se
s exigncias do padro fordista para, aps profunda reformulao,
tentativa de adequar-se ao referencial de fexibilizao e globalizao.
Assim, se, ao longo dos anos de 1960 e de 1970, a Teoria do Capital
Humano dominou fortemente a educao; na dcada de 1990, o que
178
Carlos Lucena et al
podemos perceber que conceitos como competncias e empregabili-
dade podem estar confgurando um ressurgimento ou uma neoteoria
do Capital Humano.
No contexto da anlise dessa tica empresarial o eixo principal
divulgado pelos formadores dos trabalhadores parece ser a conscientiza-
o e a emancipao do sujeito aluno/trabalhador adulto na condio de
sujeito social e coletivo. No entanto, esse argumento frgil e percebe-se
que fca apenas no campo do marketing empresarial do convencimento do
trabalhador, tendo em vista que, o que se v, de fato, uma concepo
de formao pautada pelo horizonte individualista e da submisso.
Finalmente, nossas anlises apontam que a nova educao pro-
fssional brasileira e, particularmente, seu nvel bsico, orienta-se pelo
conceito de empregabilidade. Como consequncia, tem ocorrido um
processo de individualizao da formao do trabalhador, pelo qual se
indica que cada um responsvel por buscar suas competncias a serem
alcanadas, segundo o discurso governamental, com o desenvolvimento
das habilidades bsicas, das habilidades especfcas e das habilidades de
gesto. Essas habilidades bsicas seriam potencializadoras do empreen-
dedorismo na economia dada. Entretanto, o que de fato ocorre , por
um lado, um processo ideolgico naturalizador da excluso social e, por
outro, a tentativa de reduo do processo educativo a um mecanismo
instrumental e adaptativo voltado para a integrao perifrica ou infor-
mal no mercado de trabalho.
Observa-se, pois, a confgurao de uma proposta de formao
para o trabalho que se prope a estar totalmente separada da educao
formal e escolarizada. O Estado, o empresariado e uma parcela dos
trabalhadores justifcam e defendem as reformas no sistema educa-
cional como necessrias para uma maior competitividade industrial.
(FIDALGO, 1999; RUMMERT, 2000) A apologia modernizao tomou
a educao como pedra de toque. O empresariado brasileiro, alm de
suas prprias aes na poltica de qualifcao de seus empregados e da
ampla mobilizao pela educao bsica, mais do que nunca, assumiu
posio nas relaes com o Estado, destacando a educao do trabalhador
como condio fundamental para a qualidade e para a produtividade
industrial.
179
Carlos Lucena et al
Nesse quadro, a educao de qualidade emerge como uma
demanda comum e urgente, apresentando-se como suposto elemento
de convergncia que se sobrepe aos interesses mais distintos e carac-
tersticos de grupos sociais diversifcados e, muitas vezes, antagnicos.
(RUMMERT, 2000) Entende-se, pois, que a educao ainda se revela, no
sculo XXI, restrita a um papel compensatrio, apresentando-se em
um momento marcado por incertezas, por diversas formas de precari-
zao das condies de existncia e por fortes processos de excluso ,
sob uma forma ideolgica de novo tipo, que constri uma nova socia-
bilidade moldada pela lgica mercantil e que coloca sobre os indivduos
a responsabilidade pelo alcance de melhor qualidade de vida.
REFERNCIAS
ANDERSON, P. Balano do neoliberalismo. In: SEDER, E; GENTILI, P. PsNeolibe-
ralismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1995.
APPLE, M. W. Educao e poder. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1989.
ARANHA, A. V. S. O conhecimento tcito e a qualifcao do trabalhador. Revista
Trabalho e Educao. Belo Horizonte, v.1, n. 2, pp. 12-30. 1997.
ARISTTELES. Metafsica. Traduo de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo,
1969.
ARRIGHI, G. A Iluso do Desenvolvimento. Petrpolis: Vozes, 1997.
BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia. So Paulo: Brasiliana. 1988.
BOSI, A. Dialtica da colonizao. SP: Companhia das Letras, 2001.
BRASIL. Ministrio do Trabalho e Emprego. SEFOR. PLANFOR-Plano Nacional de
Qualifcao do Trabalhador. Braslia, 1998.
BRASIL. Ministrio do Trabalho e Emprego. SEFOR. Educao profssional, um projeto
para o desenvolvimento sustentado. Braslia, 1999.
BRYAN, N. A. P. Educao, Trabalho e Tecnologia em Marx. Texto para Dis-
cusso. Campinas: Unicamp/FE-DASE. 39p. (Mimeo.).
CHESNAIS, F. O Capitalismo de Fim de Sculo. In: COGGIOLA, O. et. al. Globa-
lizao e Socialismo. So Paulo: Xam, 1997. pp. 7-34.
180
Carlos Lucena et al
COSTA, M. V. (Org.). Escola Bsica na virada do sculo: cultura, poltica e educao.
So Paulo: Cortez, 1996.
DREIFUS, R. A poca das perplexidades: mundializao, globalizao e planetarizao: novos
desafos. 2. ed. Petrpolis: Vozes, 1996.
DURKHEIM, E. Les rgles de la mthode sociologique. Paris: Flix Alcan, 1895.
ENGELS, F. Anti-Dhring. Herr Eugen Dhrings Revolution in Science. Disponvel em
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_fontes/acer_marx/tme_12.pdf.
ESTEVO, C. V. Formao, gesto, trabalho e cidadania. Contributos para uma
sociologia crtica da formao. Educao e Sociedade. Revista de Cincia em Educao.
Campinas, v 1; n.1, p.15-25, ago. 2001.
FERRETTI, C. J. Consideraes sobre a apropriao das noes de qualifcao
profssional pelos estudos a respeito das relaes entre trabalho e educao.
Educao e Sociedade. Revista de Cincia em Educao. Campinas, 1; n.1, p.15-25, ago.
2004.
FIDALGO, F. A Formao Profssional Negociada: Frana e Brasil, anos 90. 1999. Tese
(Doutorado em Educao) - Programa de Ps-graduao em Educao, PUC/
SP, So Paulo. 1999,
GOUNET, T. Fordismo e Toyotismo na civilizao do automvel. So Paulo: Boitempo
Editorial, 1999.
HAER, F.A. O Caminho da Servido. Rio de Janeiro: Instituto Liberal. 1990
HOBSBAWM, E. Era dos Extremos: o breve sculo XX (1914 1991). So Paulo:
Cia. das Letras, 1995.
HOLLOWAY, J.; PELEZ, E. Aprendendo a curvar-se: ps-fordismo e determi-
nismo tecnolgico. Revista Outubro. So Paulo, v.1, n. 2. p.21-30, set. 1998.
IANNI, O. Neoliberalismo e Nazi-fascismo. Revista Crtica Marxista v. 1. So Paulo:
Xam, 1998.
IANNI, O. A era do globalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1997.
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1996.
KANT, I. Crtica da razo pura. Traduo de Valerio Rohden e Udo Baldur Moos-
burger. So Paulo: Abril Cultural, 1980. [Coleo: Os Pensadores].
LUCENA, C. Tempos de destruio: educao, trabalho e indstria de petrleo no
Brasil. Campinas: Autores Associados; Uberlndia: EDUFU, 2004.
181
Carlos Lucena et al
LUCENA, C. Os Tempos Modernos do Capitalismo Monopolista: um estudo sobre a Pe-
trobrs e a (des)qualifcao profssional dos seus trabalhadores. 2001. Tese
(Doutorado em Educao) - Faculdade de Educao, Unicamp, Campinas,
2001.
LUCENA, C. Aprendendo na Luta: A Histria do Sindicato dos Petroleiros de Cam-
pinas e Paulnia. So Paulo: Ed. Publisher Brasil, 1997.
LUCENA, C. Os desafos da formao educativa sindical frente ao neoliberalis-
mo. Revista Educao. Campinas, v.1, n. 3, p.51- 58. jul. 1997.
MARX, K. O Capital: crtica da economia poltica. 1 Livro, v. II. Traduo Regis
Barbosa e Flvio R. Kothe. 3. ed. So Paulo: Ed. Nova Cultural, 1988.
MARX, K. Manifesto Comunista. So Paulo: Boitempo Editorial, 1998.
MARX, K. Miseria de la Filosofa. Mxico: Siglo Veintuno Editores, 1987.
MARX, K. Captulo VI (indito) do Livro Primeiro de O Capital. So Paulo: Cincias
Humanas, 1985a.
MARX, K. O Capital: crtica da economia poltica. 1 Livro, v. I. Traduo Regis
Barbosa e Flvio R. Kothe. 2. ed. So Paulo: Ed. Nova Cultural, 1985b.
MARX, K. Elementos Fundamentales para la Crtica de la Economa Poltica (Grundisse) 1857-
1858. 10a. ed., v. 2. Cidade de Mxico: Siglo Veintiuno Editores, 1985c.
MARX, K. O Capital: crtica da economia poltica. 3 Livro, v. VI. Traduo Regi-
naldo SantAnna. 3a. ed. So Paulo: Ed. Nova Cultural, 1984.
MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980a.
MARX, K. Grundisse. In ______. Obras Completas: conseqncias sociais do
avano tecnolgico. So Paulo: Edies Populares, 1980b.
MELLO, A. F. Marx e a globalizao. So Paulo: Boitempo Editorial, 1999.
NAPOLEONI, C. Lies sobre o captulo sexto (indito) de Marx. Traduo de Carlos Nel-
son Coutinho. So Paulo: Livraria Editora Cincias Humanas, 1981. pp. 86-95.
PAULA, T.C. Proposta Pedaggica do Curso Tcnico em Gesto de Atividades em Comrcio e
Servios. Uberlndia: CENEX, 2005.
PAULA, T.C. Plano de Curso (Tcnico para Gesto de Atividade em Comrcio e Servios). Uber-
lndia: CENEX, 2005.
PETRAS, J. Armadilha Neoliberal e alternativa para a Amrica Latina. So Paulo: Xam,
1999
182
Carlos Lucena et al
POCHMANN, M. Educao e trabalho: como desenvolver uma relao virtuo-
sa? Educao e Sociedade. Revista de cincia em educao. Campinas, v.1, n.2, p.70-80,
dez. 2004.
RODRIGUES, J. dos S. O moderno prncipe industrial: o pensamento pedaggico da
CNI. Campinas: Autores Associados, 1998.
RUMMERT, S. M. Educao e Identidade dos Trabalhadores: concepes do capital e do
trabalho. So Paulo: Xam; Niteri: Intertexto, 2000.
SALM, C. L. e FOGAA, A. Tecnologia, emprego e qualifcao: algumas lies
do sculo XIX. In: ______. Emprego e Desenvolvimento Tecnolgico. So Paulo: Dieese,
1998.
SALM. C. Escola e Trabalho. So Paulo: Brasiliense, 1980.
SANTOS, E. H. Trabalho Prescrito e Trabalho Real no Atual Mundo do trabalho.
Revista Trabalho e Educao. Belo Horizonte, v.1, n. 1, p. 13-27, junho, 1997.
SAVIANI, D. Sobre a Concepo de Politecnia. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1989.
SILVA, A. O. da. Trabalho e poltica. Ruptura e tradio na organizao poltica
dos trabalhadores (uma anlise das origens e evoluo da tendncia articula-
o PT). In: PRIORI, . (Org.). O mundo do Trabalho e a Poltica. Maring: EDUEM,
1999.
TADDEI, E. H. Empregabilidade e Formao Profssional: A Nova Face da
Poltica Social da Europa. In: SILVA, H. S. A Escola Cidad no Contexto da Globalizao.
So Paulo: Vozes, 1999, pp. 340-367.
O novo colonialismo, como defniria [...] a insuspeita revista Newsweek
(edio de 1. de agosto de 1994), estaria assentado num programa
ou estratgia seqencial em trs fases: a primeira, consagrada
estabilidade macroeconmica, tendo como prioridade absoluta
um supervit fscal primrio, a reviso das relaes fscais
intergovernamentais e reestruturao dos sistemas de previdncia
pblica; a segunda, dedicada ao que o Banco Mundial vem
chamando de reformas estruturais, quer seja, a liberao
fnanceira e comercial, desregulao dos mercados e privatizao
das empresas estatais; e, a terceira etapa, defnida como a retomada
dos investimentos e do crescimento econmico. (FIORI, 1995,
p.234)
INTRODUO
1
A
mudana estrutural por que passou o capitalismo na dcada
de 1970 deve ser explicada, inclusive no que se refere se-
mntica das expresses usadas para defni-la e, assim, poder
fugir-se ideologia intrnseca linguagem. Um primeiro
passo para compreender essa complexa transio consiste em desven-
1 Fernando Henrique Cardoso (FHC) 34. Presidente do Brasil, perodo de 01. de janeiro de 1995
a 01. de janeiro de 2003.
DISCURSO SOBRE A
INEXORABILIDADE. FHC
ANUNCIA A PANACEIA DO
ATUAL MONETARISMO
VIGENTE NO PAS
Joo dos Reis Silva Jnior
184
Joo dos Reis Silva Jnior
dar o emaranhado semntico e ideolgico que envolve a expresso
globalizao. Ela tem sua origem em reconhecidas escolas de economia
e administrao dos pases da economia central e pressupe que, bem
administrada a organizao social presente e dado esse salto estrutural
do capitalismo, este atingiria todos os cantos do planeta e cuidaria, me-
diante polticas sociais, do bem-estar de todos; sua pedra de toque seria
a educao para a cidadania e o trabalho, em um mercado cada vez mais
complexo, apoiado em novas tecnologias, e, pela mesma razo, cada vez
mais enxuto.
Outra expresso frequentemente utilizada internacionalizao do
capital, amide confundida com mundializao do capital, processos muito
distintos no plano emprico e terico. Internacionalizao consiste no
processo de expanso do capitalismo por toda a extenso do planeta,
por meio do intercmbio comercial, e, neste ponto, as teses clssicas,
neoclssicas, keynesianas e marxistas no conseguem explic-la de modo
adequado: trata-se da consolidao do capitalismo em nvel planetrio,
no mbito da circulao da mercadoria, isto , no plano da realizao do
valor, como mostrava Lnin em seu Imperialismo: fase superior do capitalismo.
A mundializao, por sua vez, refere-se a um movimento em
que uma empresa nacional forte num ramo industrial se descentraliza
em unidades, em diversos pases ou regies, com menores custos e
maiores vantagens quanto a fora de trabalho, matria-prima, leis traba-
lhistas, universidades a servio das empresas etc. Aqui reside a diferena,
o capital produtivo tambm se internacionaliza em sua nova confgura-
o: o Investimento Externo Direto.
O novo modelo que se inaugura nos anos de 1970 transcende
a internacionalizao da economia, trata-se de sua mundializao. Se-
gundo Chesnais (1996, p. 51), existem trs dimenses principais para a
realizao desse processo: intercmbio comercial, investimento produ-
tivo no exterior e os fuxos de capital monetrio, ou capital fnanceiro
e acrescenta que
[...] as relaes entre essas trs modalidades de internaciona-
lizao devem ser buscadas ao nvel das trs formas ou ciclos
da movimentao do capital, defnidos por Marx: o capital
185
Joo dos Reis Silva Jnior
mercantil; o capital produtor de valor e de mais-valia; o capi-
tal monetrio ou capital-dinheiro.
E acrescenta:
Tornou-se lugar-comum ouvir, especialmente de fguras
polticas e de jornalistas, que a mundializao do capital j
se tornou irreversvel e que no h alternativa a no ser
adaptar-se a ela, para o bem e para o mal. No h dvida
de que a internacionalizao das foras produtivas aumentou
muito e que a interconexo das economias exigir daqueles
que querem construir outra forma de sociedade, ou mesmo
modifcar a atual ordem de prioridades, um pensamento e
uma ao comuns, pois pouco ou nenhuma soluo duradou-
ra pode ser concebida no quadro de pases isolados. Mas h
certos campos, como o das fnanas, onde soa incongruente a
idia de irreversibilidade. Basta uma viso dolhos histria
fnanceira do sculo XX para nos convencer disso. (CHESNAIS,
1996, p. 20)
Neste contexto os termos globalizao e internacionalizao do
capitalismo foram tomados como sinnimos, o que em uma perspectiva
marxista, corretamente, deveria ser denominada como mundializao
do capital. Juntamente, com este momento novo do capitalismo que se
seguiu ao sculo da social-democracia e para legitimar a este novo e lon-
go ciclo neoliberal no Brasil e em nvel planetrio, os arautos seguidores
de Hayek, Friedman e policymakers em geral ligados s universidades dos
Estados Unidos ou aos organismos multilaterais, criaram a ideologia
da integrao ao capitalismo mundializado e servido fnanceira. A
ideologia da inexorabilidade. No Brasil, sem dvida, o poltico que
mais contribuiu para esta perspectiva, que se arrasta at hoje com gra-
ves consequncias para todas as instituies republicanas, foi Fernando
Henrique Cardoso. (SGUISSARDI; SILVA JNIOR, 2009)
O ANNCIO DA NOVA RACIONALIDADE HISTRICA
Em 14 de dezembro de 1994, Fernando Henrique Cardoso
(FHC) na condio de presidente eleito, despedia-se do Senado Federal
186
Joo dos Reis Silva Jnior
por meio de discurso
2
de agradecimento pelas lies de poltica que
ali teria aprendido e rendia homenagens a Ulisses Guimares e a Andr
Franco Montoro, bem como a todos que, juntamente com ele tiveram a
virtude de abrir mo de seus interesses individuais em benefcio do pas.
Neste discurso, em que desde logo buscava um pacto poltico para o
Congresso Nacional, analisava vrios pontos e, a um s tempo, apontava
para o norte que pretendia dar ao seu governo e a racionalidade que
pretendia fazer orientar o processo histrico do pas, que teria neste
perodo estrutural ruptura. Acrescento desde agora a argcia deste pro-
nunciamento para o que muito contribui a epgrafe, intencionalmente
escolhida, para este item do primeiro captulo:
Tnhamos noo clara do rumo. A viso geral e vrias medidas
especfcas da agenda de reformas que ocupou todo o meu
primeiro mandato (1995-1998) e boa parte do segundo
(1999-2002) estavam esboadas j nos documentos do Plano
Real. O caminho, porm, se fez ao caminhar, com muitas
pedras e curvas imprevistas. Nosso ponto de partida era a
convico de que o quadro de superinfao, desequilbrio
fscal, endividamento externo e estagnao econmica que
se arrastava desde a dcada de 1980 sinalizava o fm de um
ciclo de desenvolvimento do Brasil, sem que as bases de outro
ciclo estivessem assentadas. A crise tinha causas conjunturais
conhecidas, desde os choques externos do petrleo e dos
juros at os erros e omisses de sucessivos governos. Mas sua
causa profunda era a falncia do Estado centralista interven-
cionista fundado na ditadura de Getlio Vargas (1937-1945)
e reforado pelos governos militares (1964-1985). Depois de
proporcionar ao pas 50 anos de forte crescimento mas tam-
bm de concentrao de renda e marginalizao social esse
modelo de Estado esgotara sua capacidade de impulsionar a
industrializao via investimentos pblicos [j se punha aqui
o uso do Fundo Pblico em prol do Capital, FHC faria o mes-
mo, porm de forma historicamente atualizada em face da
mundializao do capital e seus refexos no pas], barreiras
protecionistas e subsdios ao setor privado. (CARDOSO, 2010,
pp.147-148)
2 Disponvel em https://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/desped.htm. Acesso em
21/01/ 2000
187
Joo dos Reis Silva Jnior
Os principais eixos indicados pelo ento presidente eleito
podem ser assim elencados: 1) as eleies teriam marcado o fm da
transio para a democracia, 2) o Congresso deveria constituir-se em
um solucionador de impasses, 3) o fm da Era Vargas, para que fossem
estruturadas 4) as Bases de um novo modelo de desenvolvimento, para
o que deveria o pas assegurar 5) a estabilidade macroeconmica, 6) a
abertura da economia brasileira economia mundial, 7) a necessria e
nova relao entre o Estado e o mercado, 8) a constituio de infraes-
trutura econmica e social e o aproveitamento da conjuntura favorvel
para enfrentar os problemas estruturais que ainda persistiam no pas, 9)
a produo de uma agenda para a reviso constitucional, 10) a neces-
sria reforma tributria, 11) a repartio de encargos do Estado para a
desconcentrao dos deveres do Estado entre as esferas da Unio, estado,
municpios e a sociedade civil, 12) a necessidade de clareza oramentria
para fexibilidade centralizada no mbito da Unio, com o objetivo de
realizao das mudanas estruturais pretendidas, 13) a imprescindvel
reforma da Previdncia, 14) a nova relao com o capital estrangeiro,
15) a necessria reviso dos monoplios estatais, com o objetivo das
privatizaes (a verdadeira rifa do fundo pblico em qualquer de suas
formas) 16) e, por fm, manter as reformas em constante continuidade.
Nestes 16 eixos pautava-se a mudana da racionalidade histri-
ca do Brasil que viria a se realizar nos oito anos de governo de FHC, com
continuidade de mais oito anos do governo Lula
3
. As prticas e alianas
polticas em cada governo, e entre eles, levam a diferenas aparentes
da gesto da Repblica, porm a racionalidade que articula os pontos,
arrolados anteriormente, consistiu numa linha de continuidade que nos
parece ter caracterizado os ltimos 16 anos da histria recente do Bra-
sil, com indicaes de mais quatro anos ao menos, com consequncias
considerveis para a grande maioria da sociedade, com destaque para a
pesquisa e a identidade e cultura das Instituies Federais de Educao
Superior (Ifes); para a natureza do trabalho do professor e de sua iden-
tidade, mas, sobretudo, para a estrutura da vida cotidiana das Ifes. Na
viso de FHC as eleies que o levaram presidncia teriam colocado
3 N.E.: Luiz Incio Lula da Silva 35. Presidente do Brasil, perodo de 01. de janeiro de 2003 a 01.
de janeiro de 2011.
188
Joo dos Reis Silva Jnior
o fm no perodo de transio para a democracia. Depois de dezesseis
anos de marchas e contramarchas, a abertura lenta e gradual do ex-
-presidente Geisel parece fnalmente chegar ao porto seguro de uma
democracia consolidada.
REFORMAS INSTITUCIONAIS
O que no incio deste seu pronunciamento no fcavam claras
eram as condies em que se daria a referida consolidao democrti-
ca, em que conjuntura mundial e as diretrizes que tais mudanas mais
amplas imporiam ao Brasil. Ao enfatizar que a democracia histrica
e edifcio em constante construo, FHC anunciaria, j em 1994, a ra-
cionalidade que gostaria de impor ao processo histrico brasileiro em
seu governo. Indagava ser a democracia uma construo inacabada e ao
mesmo tempo indicava o caminho sempre em construo do regime
poltico que emergia slido da transio. E j anunciava o necessrio
para fazer avanar a democracia brasileira. H uma agenda de reformas
polticas que no se esgotou na questo do sistema de governo. Teremos
de encaminhar essas reformas, at para compatibilizar a opo presiden-
cialista do eleitorado com os requisitos de legitimidade e efccia das
instituies representativas.
J em 1994, FHC tinha clareza da desigualdade de renda e pa-
trimonial brasileira e propugnava por regime poltico orientado no
pelo marasmo de uma democracia meramente formal, esvaziada de
contedo econmico e social pelas pragas do elitismo, do fsiologismo
e do corporativismo. Acrescentava que no deixava de ser espantoso
que uma sociedade marcada por tamanhas desigualdades [...] tenha
sido capaz de marchar para as urnas com tanta tranqilidade. FHC
buscava construir a aliana realizada para produo do Plano Real no
Congresso Nacional. O ento presidente eleito tinha pressa, pois j havia
realizado alianas para aquele momento, no plano poltico formal para
a garantia de sua governabilidade em face da demanda de necessria
longevidade de uma sociedade civil estvel para a realizao do ajuste
poltico, econmico e ideolgico pretendido que, certamente, iria alm
189
Joo dos Reis Silva Jnior
de dois possveis mandatos. Isto implicava, poca, engessar as institui-
es republicanas e a Constituio e pensar em fazer sucessor ou criar
condies histricas tais para a continuidade, ainda que com colorido
diferente, em conformidade com as foras polticas que viriam assumir
o poder maior da poltica brasileira.
A BUSCA DA ALIANA POLTICA NO CONGRESSO
NACIONAL
Por isso, acrescentava cautelosamente ao seu discurso que os
polticos, em geral, e o Poder Legislativo em especial, tm sido alvo
de crticas durssimas. Crticas em parte procedentes. Longe de mim
tapar o sol com a peneira por uma descabida solidariedade de classe.
Para ento induzir, por meio da aliana feita, o Congresso a um papel
de necessrio solucionador de impasses. Mas h que separar o joio
do trigo, at para que a cobrana seja efcaz. justo que se diga, ento,
em alto e bom som: a transio no teria chegado a bom termo, o
edifcio da nossa democracia no pararia de p, se dentro do Congresso
Nacional no houvesse polticos com p maisculo. Com palavras cui-
dadosamente escolhidas buscava na herana da transio fnalizada e de
uma democracia em construo realizadas por deputados e senadores
da melhor qualidade, cuja presena honraria qualquer parlamento do
mundo. Homens pblicos que, nas horas mais difceis, preferiram cor-
rer o risco de se abrir aos anseios de mudana da sociedade do que se
entrincheirar em posies estabelecidas.
Contudo, deixava clara sua mensagem de presidente o que es-
perava do Congresso Nacional ao dizer que teria sido cmodo e at
humanamente compreensvel, cuidar dos prprios assuntos e lavar as
mos diante do quebra-cabeas quase insolvel criado pela fragmen-
tao das nossas foras polticas?. A aliana para a formulao e a
implementao do Plano Real durante o governo Itamar Franco, quan-
do ocupava a pasta fazendria, era exigida, agora, com a autoridade de
quem em menos de um ms assumiria a presidncia da Repblica do
Brasil. Por contar com polticos desta envergadura, o Congresso [...] foi
190
Joo dos Reis Silva Jnior
capaz de se superar e vencer os grandes desafos da transio. Foi aqui
que o surgimento de uma nova maioria mudancista, fundida no calor da
mobilizao por eleies diretas para Presidente, em 1984, prenunciou
o fm do ciclo dos governos militares.
RUPTURA COM A ERA VARGAS
4
E AS BASES DO NOVO
MODELO DE DESENVOLVIMENTO
FHC consolidava sua hegemonia juntamente com seus intelec-
tuais e polticos, agora, que j possua o poder e buscava anunciar que iria
continuar a mudana operada no plano poltico em outras dimenses
da histria brasileira. Acontece que o caminho para o futuro desejado
ainda passa, a meu ver, por um acerto de contas com o passado. Conti-
nuava anunciando com muita clareza e segurana:
Acredito frmemente que o autoritarismo uma pgina vira-
da na histria do Brasil. Resta, contudo, um pedao do nosso
passado poltico que ainda atravanca o presente e retarda o
avano da sociedade. Refro-me ao legado da Era Vargas, ao
seu modelo de desenvolvimento autrquico e ao seu Estado
intervencionista. Esse modelo, que sua poca assegurou pro-
gresso e permitiu a nossa industrializao, comeou a perder
flego no fm dos anos 70. Atravessamos a dcada de 80 s
cegas, sem perceber que os problemas conjunturais que nos
atormentavam - a ressaca dos choques do petrleo e dos juros
externos, a decadncia do regime autoritrio, a superinfa-
o - mascaravam os sintomas de esgotamento estrutural do
modelo varguista de desenvolvimento. No fnal da dcada
perdida, - assim chamada, s vezes, com injustia, - os ana-
listas polticos e econmicos mais lcidos, das mais diversas
tendncias, j convergiam na percepo de que o Brasil vivia
no apenas um somatrio de crises conjunturais, mas o fm de
um ciclo de desenvolvimento de longo prazo. Que a prpria
complexidade da matriz produtiva implantada exclua novos
avanos da industrializao por substituio de importaes.
Que a manuteno dos mesmos padres de protecionismo e
4 N.E.: Getlio Dornelles Vargas 14. Presidente do Brasil, perodo de 03 de novembro de 1930 a
29 de outubro de 1945; retornando como 17. Presidente do Brasil, perodo de 31 de janeiro de 1951
a 24 de agosto de 1954.
191
Joo dos Reis Silva Jnior
intervencionismo estatal sufocava a concorrncia necessria
efcincia econmica e distanciaria cada vez mais o Brasil
do fuxo das inovaes tecnolgicas e gerenciais que revo-
lucionavam a economia mundial. E que a abertura de um
novo ciclo de desenvolvimento colocaria necessariamente na
ordem do dia os temas da reforma do Estado e de um novo
modo de insero do Pas na economia internacional.
5
O presidente eleito anunciava o ncleo central para a radical
transformao da economia, do pacto social, da cidadania, do ento
desenho da sociedade civil e das instituies republicanas, consequen-
temente, do pacto social e da sociabilidade do cidado brasileiro. Neste
excerto estampam-se o elogio ao fm do protecionismo e s inovaes
tecnolgicas e gerenciais, o incio de outro ciclo de desenvolvimento, a
reforma do aparelho de Estado, consequentemente das demais institui-
es republicanas e a adaptao econmica mundializao do capital
que j havia comeado com o Plano Real e com ele a revoluo dos
fundamentos da economia brasileira, mas no s, o plano era de longo
prazo com o objetivo de reordenar o pas luz da ortodoxia que vinha
da aderncia de FHC ao Consenso de Washington. Por isso o presidente anun-
ciava o que seriam as bases do novo modelo de desenvolvimento.
Chamando todos os parlamentares responsabilidade para o que viria
a ser a caracterstica central do pas: servido voluntria ao capital
fnanceiro mundializado. Permitam, Srs. Senadores, que eu repasse os
pontos fundamentais dessa agenda, sublinhando aqueles em que a par-
ceria do Presidente com o Congresso e com as foras polticas em geral
ser imprescindvel para o xito das mudanas.
O primeiro ponto a continuidade e aprofundamento do
processo de estabilizao econmica - no como um fm
em si mesmo, mas como condio para o crescimento
sustentado da economia e para o resgate da dvida social.
Meu governo, pela manifestao expressa e macia de apoio
popular ao Plano Real, nasce absolutamente comprome-
tido com a preservao da estabilidade da economia e da
moeda nacionais. Creio no ser outro o sentido do mandato
recebido pela imensa maioria dos governadores, senadores e
deputados recm-eleitos - tanto os que apoiaram o Plano Real
5 Todos os grifos em negrito so do autor do captulo.
192
Joo dos Reis Silva Jnior
como aqueles que, no apoiando, foram sensveis ao entu-
siasmo da populao com a moeda forte e propuseram-se a
defend-la, ainda que por outros meios.
O presidente eleito prometia manter e ampliar a equipe eco-
nmica que traduzira as diretrizes do Washington Consensus no plano de
estabilizao nacional de longo prazo e que orientou mais de 60 planos
de homogeneizao de poltica econmica em nvel planetrio. Mas
ainda assim, acorria ao apoio do Congresso Nacional: Confo que terei
a solidariedade do Congresso e dos governadores estaduais no cum-
primento deste compromisso. Contarei com a colaborao da mesma
equipe econmica, reforada por quadros igualmente competentes e
dedicados.
Em acrscimo com a legitimidade das urnas, a coero tambm
se colocava nas entrelinhas de seu intencional e inteligente pronun-
ciamento, destacando a mudana de paradigma (fm da Era Vargas), a
disciplina fscal e monetria (o monetarismo e ortodoxia econmica
j se apresentavam de forma explcita), a crtica interveno do Esta-
do (exacerbao da economia de mercado e os aplausos liberalizao
comercial e fnanceira, novamente a ortodoxia neoclssica) e, por fm, j
anunciava nova forma de gesto do fundo pblico e, consequentemente,
a necessidade de reviso constitucional, posto que na Carta Magna de
1988 os ventos de um espectro de Estado previdencirio sopraram pela
primeira vez. No se tratava mais do Plano Real, mas de seu programa
de governo. A ortodoxia econmica j vinha se realizando com o Plano
Real, ao se tornar um programa de governo defendido e colocado em
movimento com toda habilidade e as condies polticas institucionais
que viria com as reformas a comear pela do aparelho de Estado, FHC
mudaria de forma indelvel a racionalidade histrica do pas, ainda que
hoje se alardeie ser Lula este homem, no o , ainda que seja o mais
popular. Necessria popularidade para dar continuidade ao pecado ori-
ginal do ento presidente eleito:
Com esta solidariedade, com estes colaboradores na rea
econmica e com o engajamento de todo o governo en-
gajamento do qual, convm antecipar, no vou abrir mo,
no se trata de um programa do ministro tal ou qual, um
193
Joo dos Reis Silva Jnior
programa do Governo e do Presidente da Repblica serei
infexvel na manuteno da disciplina fscal e monetria,
que o fundamento da estabilidade econmica. A agenda
da modernizao nada tem em comum com um desenvol-
vimentismo moda antiga, baseado na pesada interveno
estatal, seja atravs da despesa, seja atravs dos regulamentos
cartoriais. A realidade do comportamento da economia desde
a implantao do Real desmentiu a falcia do plano reces-
sivo, como se a austeridade fscal necessria ao controle da
infao andasse na contramo do crescimento econmico.
A continuidade do crescimento da economia supe taxas de
investimento acima de 20 por cento do PIB, como na dcada
de 70. A retomada dos investimentos especialmente em
infra-estrutura tem como seus pilares a confana na esta-
bilidade econmica do Pas e a construo de um marco
institucional que permita iniciativa privada exercer na
plenitude seu talento criador. Marco no qual cabe destacar
a crescente autonomia do Banco Central como guardio da
estabilidade da moeda.
O ex-presidente Collor
6
, dentre os muitos equvocos cometi-
dos ao realizar a agenda pretendida pela elite brasileira, acertou nesta
linha de continuidade no ponto da abertura da economia brasileira
economia mundial e o incio do processo de privatizao das estatais,
sem, contudo, preocupar-se em escudar os bons ramos industriais e de
produo de conhecimentos nacionais. FHC na esteira da breve estadia
do ex-presidente alagoano no Palcio do Planalto e pela necessidade
de compromissos assumidos nacional e internacionalmente, e especial-
mente para produzir um plano de estabilizao de natureza ortodoxa
com origem no Plano Real via-se impelido a dar continuidade de for-
ma enftica ao que Collor havia comeado. Neste ponto a poltica de
estabilizao cruza com outro item da agenda para um novo modelo
de desenvolvimento. Trata-se de levar adiante a abertura da economia
brasileira incluindo, no que couberem, os setores fnanceiros e de
servios e sua integrao ao mercado mundial.
Em 1990, quando a abertura comercial ganhou velocidade,
com a abolio de muitas barreiras no-tarifrias e o incio
6 N.E.: Fernando Affonso Collor de Mello 32. Presidente do Brasil, perodo 15 de maro de 1990
a 02 de outubro de 1992.
194
Joo dos Reis Silva Jnior
do cronograma de reduo das tarifas de importao, no
faltou quem previsse a quebradeira da indstria nacional.
Em vez disso, o que se tem visto so provas da vitalidade
do nosso parque industrial. Apesar das altas taxas de infa-
o, que praticamente inviabilizaram o recurso ao crdito
bancrio, indstrias de todos os ramos e tamanhos respon-
deram ao desafo da abertura comercial com enorme vigor.
Reestruturaram-se; buscaram a atualizao tecnolgica e
gerencial; conseguiram ganhos expressivos de qualidade e
produtividade. Um bom indicador desse dinamismo so as
quase 500 empresas brasileiras, detentoras do certifcado
de qualidade internacional ISO 9000 qualquer dos nossos
pases vizinhos no chega centena, longe dela; e j temos
mais de 500 empresas com esse certifcado. Mas o indicador
crucial , obviamente, o desempenho das exportaes. Elas
aumentaram mais de 14% nos ltimos trs anos. Esto fe-
chando 1994 com um crescimento de 13% em relao ao
ano anterior, que j havia sido um ano de grande expanso.
Os compromissos que o Brasil acaba de assumir no encontro
entre governantes das Amricas, em Miami, apontam para
uma rea hemisfrica de livre comrcio em 2005, daqui a 10
anos apenas. O MERCOSUL funcionar como unio aduaneira
a partir de 1 de janeiro prximo. E os acordos de cooperao
entre os pases da Amrica do Sul o ALCSA esto sendo
rapidamente defnidos. A integrao ao mercado mundial
supe a manuteno da curva ascendente de nossas vendas
externas. Eu queria aproveitar para transmitir ao Senado,
agora que assisti recentemente a essa cpula hemisfrica, o
meu sentimento at de uma certa ansiedade, por ver que o
amanh j comeou e que, eventualmente, ainda no temos
a conscincia disseminada no nosso Pas do enorme esforo
que teremos que empreender para que possamos efetivamen-
te chegar a 2005 com condies efetivas, reais de competio.
O professor Fernando Henrique Cardoso tinha todas as con-
dies de entender o que ali se passava (bastando para isso rememorar
o que escrevera em sua Teoria da Dependncia e do conhecimento da obra
de Marx, dentre outros clssicos, como fcou claro no memorvel Semi-
nrio sobre O Capital
7
realizado na dcada de 1960 e do qual foi um dos
7 Certamente a contribuio terica predominante do grupo que participava do seminrio de O Capital
foi compreender o materialismo histrico e dialtico e transform-lo num instrumental terico que
pudesse ser aplicado no Brasil. Foi assim que eles desenvolveram as ferramentas que possibilitariam a
elaborao de anlises de classes da sociedade brasileira, vale dizer abordagens que privilegiavam as re-
195
Joo dos Reis Silva Jnior
idealizadores e brilhante participante ao lado de Jos Arthur Giannotti)
independente da ao poltica as contradies da economia no capitalis-
mo em seu momento histrico de mundializao do capital impunham
aes desta natureza e, portanto, no se tratava de um novo modelo de
desenvolvimento, mas de uma adaptao econmica imposta de forma
exgena ao Brasil.
A CONSTRUO DA PLATAFORMA DE VALORIZAO
FINANCEIRA INTERNACIONAL
O pas teria que se colocar como um emergente na condio
de produo de valor para uma massa de mais de 1 trilho de dlares
de capital fnanceiro que giravam sem lastro a cada 24 horas no planeta
no incio da dcada de 1990. Assim, era presumvel o crescimento do
parque industrial de pases como Brasil e uma necessidade a concreti-
zao das normas tcnicas, efcincia gerencial e inovaes tecnolgicas
para as corporaes mundiais avanarem mundialmente com padres
defnidos e segurana.
Daqui para frente, no entanto, nosso lema ter que ser clara-
mente: exportar mais para importar mais. No para continuar
produzindo saldos comerciais gigantescos e acumulando
reservas, alm dos 43 bilhes de dlares que temos deposi-
tado nos bancos internacionais. Nas circunstncias passadas,
laes e as foras internas na determinao da dinmica social ou a maneira pela qual as foras externas
aqui se materializavam e interagiam com as internas. Colocado de uma maneira simples, Marx havia
enunciado que preciso identifcar em cada sociedade ou modo de produo as classes dominantes e
dominadas, cujos interesses e confitos (a famosa luta de classes) iro animar a dinmica dessa orga-
nizao social. Se bem que o fundador do marxismo tenha mencionado apenas en passant os modos de
produo pr-capitalistas, dedicou-se a dissecar o modo de produo capitalista e a luta entre a burgue-
sia e o proletariado, classes sociais que ele caracterizou com maestria. Porm, no era exatamente este o
quadro social que caracterizava a sociedade brasileira da metade do sculo XX, se que bem j houvesse
burgueses e proletrios na cena poltica, e muito menos aquele que se verifcava em perodos mais dis-
tantes do nosso passado agroexportador. Em outras palavras, as classes brasileiras no se enquadravam
nesse esquema marxista e muito menos nos esquemas da sociologia funcionalista americana, que sequer
falava em classes, mas enxergava apenas os indivduos e, quando muito, os atores sociais ou as massas e
as elites. Portanto era preciso conhecer a especifcidade da sociedade brasileira, com suas classes particu-
lares, seus interesses e sua articulao com os interesses do capitalismo mundial, conforme recomendava
a boa dialtica. (MANTEGA, G. 1997)
196
Joo dos Reis Silva Jnior
foi fundamental manter essas reservas elevadas. O Senador
Jos Sarney, como Presidente da Repblica, enfrentou dif-
culdades quase sem paralelo porque no tinha a estruturao
poltica de que dispomos hoje. Ele sabe do valor estratgico
da existncia de saldos e divisas no montante que temos hoje.
o que nos d os graus de liberdade, que permitiram ser
o Brasil o nico pas a conseguir redefnir sua dvida ex-
terna, sem ter feito nenhuma carta de inteno do Fundo
Monetrio Internacional. No h outro exemplo. Foi a
maior negociao de dvida na histria do capitalismo. E
foi feita sem que houvesse a necessidade de monitorar a
economia brasileira, porque dispnhamos daquilo que era
a condio necessria para decises audaciosas, mas corretas,
nessa renegociao, que eram as nossas reservas.
H, neste excerto, clara aluso de aumento e acentuao do
movimento do capital mercantil o que supe, para a no ocorrncia de
crise, a produo de valores e o equilbrio na balana de pagamentos,
a expanso do capital produtivo nacional, internacional e capital na-
cional ou fundo pblico associado ao capital internacional produtivo e
fnanceiro. Hoje, tudo muito claro como se pode observar na citao
anterior. Isto, segundo o que se pode ler, fornece a credibilidade do pas
e aparenta internamente como inexorvel a sada da crise por meio de
uma poltica econmica de natureza muito conservadora que no m-
dio prazo estrangula a prpria economia brasileira. Este movimento
melhor defnido pelo ento presidente eleito. Exportar para importar:
esta a regra que deve presiir ao novo ciclo de crescimento. Importar
equipamentos e insumos para acelerar a modernizao e a expanso
da indstria, da agricultura e dos servios domsticos. Acrescenta
cautelosamente a possibilidade de importar bens de consumo, sim,
mantendo uma proteo tarifria moderada, para que os preos internos
se aproximem dos preos internacionais, e os ganhos de produtividade
j ocorridos [...].
A credibilidade tinha seus lastros nas reservas, sem dvida,
porm muito mais na consolidao do programa de governo de Fer-
nando Henrique Cardoso para o que estabeleceu compromissos quando
diplomata e os cumpriu parcialmente na condio de ministro da Fa-
zenda do presidente Itamar Franco e, para a continuidade, necessitava
197
Joo dos Reis Silva Jnior
da equipe de intelectuais que o acompanhava e, fundamentalmente, da
aliana poltica que fzera para eleger-se no Brasil. Tratava-se de manter
esta aliana e cumprir os compromissos agora na iminncia de assumir
a presidncia da Repblica do Brasil. Por isso alertava que deveria criar
condies polticas e econmicas para
[...] impulsionar o desenvolvimento tecnolgico necess-
rio a nossas indstrias [e para as corporaes mundiais].
E para seu fnanciamento com juros aproximados das taxas
internacionais primeiro passo, alis, que j foi dado atravs
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico [e Social]
e novos passos tero de seguir nessa direo [...].
Tinha incio a realizao de transformar o pas em uma das
importantes plataformas de produo de valor (PAULANI, 2008) para
o capital fnanceiro mundializado, para o que o Plano Real de longo
prazo transformado em programa de governo que mantinha a mesma
racionalidade passava a exigir agora, como assinalamos anteriormente,
um longo perodo de reformas constitucionais e institucionais. Hoje,
mais de 15 anos depois deste dia no Senado Federal, podemos aquilatar
a potncia existente e ampliada pelas realizaes do governo FHC que
teve continuidade no governo Lula, no porque as condies assim
impunham, mas porque houve em 2003 uma opo consciente e inten-
cional, como bem mostra Paulani (2008).
A NECESSIDADE DE REFORMA DO ESTADO E DA
PESQUISA APLICADA
Em razo disso o aparelho de Estado foi o primeiro alvo de
ataque do governo FHC capitaneado pelo ento ministro Bresser Pereira
(1995) e um documento emblemtico deste movimento escrito com
base em consistente livro sobre o Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995.
Sem meias palavras, vaticinava FHC sobre as relaes entre o Estado e
o mercado referindo-se [...] nova relao entre o Estado e o setor
produtivo privado. No ciclo de desenvolvimento que se inaugura, o eixo
dinmico da atividade produtiva passa decididamente do setor estatal
198
Joo dos Reis Silva Jnior
para o setor privado. Aqui estava o embrio do que viria a acontecer
com as universidades pblicas e estatais no Brasil. O destaque refere-se
s universidades federais por encontrarem-se muito mais suscetveis s
polticas com origem no Ncleo Estratgico do aparelho de Estado. Con-
tudo, o embrio aqui referido iria afetar com estruturais repercusses
todas as universidades estatais pblicas federais, estaduais e municipais.
A ortodoxia que iria orientar todo o processo de reforma, e
que de fato hoje vemos realizada, no foi escondida de ningum que
estivesse um pouco atento ao pronunciamento de FHC. Tenho repetido
exausto, mas no custa insistir: isto no signifca que a ao do Estado
deixe de ser relevante para o desenvolvimento econmico. Ela continua-
r sendo fundamental, mas mudando de natureza. Continuava dizendo
que O Estado produtor direto passa para segundo plano. Entra o Estado
regulador [com a funo] de criar o marco institucional que assegure
plena efccia ao sistema de preos relativos, incentivando assim os in-
vestimentos privados na atividade produtiva.
O marco institucional tambm signifcou colocar o fundo p-
blico de forma direta ou no a servio do capital, como o caso das
privatizaes, a reforma previdenciria e, a conta-gotas, a reforma
universitria das instituies estatais e pblicas. A identidade das insti-
tuies universitrias estatais pblicas deveria submeter-se assertiva de
FHC de que em vez de substituir o mercado, trata-se, portanto, de ga-
rantir a efcincia do mercado como princpio geral de regulao. Para
a realizao do novo modelo de desenvolvimento, segundo Cardoso, a
infraestrutura econmica e social constitua-se em ponto fundamental.
Nesta poca de competio global, os pases bem-sucedidos
tratam de acumular dois tipos de ativos que se caracterizam
pela baixa mobilidade internacional e pela alta ponderao
no rateio das vantagens comparativas: a infra-estrutura de
energia, transportes e telecomunicaes, e aquilo que se
denomina impropriamente, na minha opinio capital
humano.
Aqui, a infraestrutura econmica imprescindvel para um pas
que, com o novo paradigma de desenvolvimento em construo em
199
Joo dos Reis Silva Jnior
cujo centro encontrava-se a necessidade estrutural de produo de valor.
Contudo, mesmo com dedos, usa um lxico revelador de sua poltica
para o trabalhador: capital humano.
Havia, na estratgia de Cardoso, a demanda de fora de trabalho
qualifcada para reestruturao produtiva que j estava em curso desde
a dcada de 1980, por um lado, por outro a formao do que Lula
viria a chamar de formar o cientista empresrio. Aqui, portanto, a
educao brasileira deveria, em seus nveis e modalidades, ser refor-
mada. A educao bsica e profssional deveria prover um incremento
qualitativo e quantitativo na fora de trabalho e a necessidade de ex-
portao de produtos com alto valor agregado exigia a produo de
tecnologia e inovao e, para isso, a demanda inequvoca de uma re-
forma educacional voltada para o trabalho e de natureza pragmtica se
punha como soluo. Este privilgio no era um privilgio exclusivo
do Brasil. As reformas se proliferaram pelo mundo na dcada de 1980 e
na Amrica Latina, particularmente no Brasil, na dcada de 1990, com
base na matriz terica, poltica e ideolgica da reforma do aparelho de
Estado. (SILVA JNIOR; SGUISSARDI, 2001) A nova identidade da ins-
tituio universitria estatal pblica, com mediaes, relativa e aparente
autonomia tem sua origem nesta demanda do novo modelo de desen-
volvimento pensado por Cardoso e sua equipe econmica. Acentuava
o presidente eleito, vamos desencadear uma srie de aes na rea da
infra-estrutura e quanto ao capital humano era enftico: ao mesmo
tempo, o aperfeioamento nas condies de educao, sade, no capital
humano e alertava sobre o j feito nas fnanas seno no adiantar de
nada o esforo estabilizador da moeda, porque no esse o propsito
de uma nao grande, como a Nao brasileira.
A RELAO ENTRE O ESTADO E O MERCADO
Reconhecendo a ainda realidade do desigual no campo da ren-
da e do patrimnio, a interveno do Estado ganhava ento novas faces
pela proposio de mudanas de fundo na institucionalidade do que
ento era pblico ou privado. A nova relao entre Estado e mercado
200
Joo dos Reis Silva Jnior
impunha uma nova relao entre o Estado e a sociedade civil. Tudo es-
tava a exigir a reforma do aparelho de Estado e a um novo paradigma
poltico, no qual as polticas universais estariam a servio do capital e as
sociais escorregariam para sociedade civil por meio de aes afrmativas
e polticas focais. Ao referir-se misria do povo brasileiro, dizia aos
senadores do Congresso Nacional.
Essa tarefa, no nosso caso, vem junto com o imperativo tico
de incorporar ao processo de desenvolvimento os milhes de
excludos pela misria. Tambm a, na rea social existe uma
rea cinzenta entre o pblico e o privado. a zona cinzenta do
clientelismo e da corrupo, onde tantos recursos e tantas boas
intenes j se extraviaram. Por isso, a parceria com a comu-
nidade fundamental para o xito das polticas sociais. Nesta
Casa, h muitos representantes do Nordeste. Todos sabem que
a ltima seca, que foi dramtica, quando os Governos Federal
e Estadual tiveram que socorrer os milhes de brasileiros
assolados pela seca, tivemos no s a maior transferncia de
alimentos para esta regio, como de recursos fnanceiros, cuja
efccia foi assegurada pela participao crescente das comu-
nidades locais, das igrejas, dos sindicatos, das Prefeituras, num
esforo de cooperao e de parceria entre Estado e sociedade.
Por isso a parceria fundamental. No porque a comunidade
possa substituir a ao do Estado. Mas porque ela indispen-
svel para dar efccia a essa ao, apontando as prioridades
corretas, fscalizando a aplicao dos recursos, participando
diretamente da execuo. O que agora, no Brasil, se deu
por chamar as ONGs - organizaes no-governamentais, j
provaram sua valia na defesa da causa ecolgica. Bem ao con-
trrio de ameaas soberania do Estado, devemos aprender
a v-las como organizaes neo-governamentais. Talvez os
membros das ONGs no gostem de ser chamados de mem-
bros de organizaes neo-governamentais. Mas quase como
socilogo, eu diria que o que acontece. So formas novas
de ligao entre a sociedade e o Estado em que a sociedade
civil, muitas vezes, se apresenta quase agressivamente frente
ao Estado. O Estado se defende e tem receio delas, mas com o
correr do tempo, passam a ser instrumentos da ao pblica,
e a ao pblica passa a ser penetrada tambm pela sociedade
civil. Como tudo que novo, num primeiro momento, causa
impacto e h uma reao negativa. Mas com o tempo se per-
cebe que a dinmica essa e que isso faz parte da sociedade
contempornea. Formas inovadoras de articulao da socieda-
201
Joo dos Reis Silva Jnior
de civil com o Estado e, por isso mesmo, sujeitas prestao
de contas e ao escrutnio pblico. Por que no aprofundar
essa experincia, ento, engajando amplamente as ONGs no
combate misria? J tivemos, neste ano em curso, o esforo
enorme feito pelo CONSEA na questo alimentar, com xitos
bastante signifcativos. Por que no adotar o mesmo modelo e
aperfeio-lo, reconhecendo nelas, em parceria com o Estado,
um agente novo de um modelo de desenvolvimento que seja
sustentvel, tanto do ponto de vista tico e social como eco-
lgico? O prprio Estado tem que se reorganizar para acolher
essa parceria. O princpio da reorganizao j est dado: a
descentralizao. Ns escrevemos na Constituio que cabe ao
municpio executar os servios pblicos de interesse local. S
falta aplicar o princpio.
Como a reforma do aparelho de Estado viria mostrar, o novo
arcabouo jurdico possibilitou a gesto do fundo pblico direcionada
para o fnanciamento de polticas de toda ordem, com o objetivo dire-
to e mediado de valorao de capital, e o que foi bandeira de muitos
movimentos sociais da dcada de 1980, a descentralizao como forma
democrtica de ao da sociedade civil, tornou-se a desconcentrao das
funes do Estado, especialmente na rea social, tendo como base ini-
cialmente as Organizaes no-Governamentais seguido do Terceiro Setor e depois
das Organizaes da Sociedade Civil de Interesse Pblico, que por meio de metas
centralizadas no mbito do Ncleo Estratgico do Estado e fnanciamento por
contrato de gesto, desenvolveriam as funes que historicamente sempre
estiveram na competncia do Estado.
No deixou de imputar a responsabilidade de seu programa a
todos que lhe ouviam sobre o bom momento por que passava o pas,
mas tambm de sua caracterstica inicial e precria. Sr. Presidente, Srs.
Senadores, um Presidente da Repblica mesmo que seja apenas o Pre-
sidente eleito no deve se aventurar na anlise de riscos polticos. Pelo
menos no em pblico. Positivamente alertava que o maior risco que
o Brasil corria era o risco do sucesso. Ocorre que uma sucesso de
fatos positivos a vitria sobre a infao, a retomada do crescimento,
as prprias eleies, at mesmo a conquista do Tetra tudo isso levou
o Pas a um momento de desafogo e recuperao da autoconfana.
Acrescentava o signifcado do Plano Real prpria estabilizao da
202
Joo dos Reis Silva Jnior
economia, e com ela as chances de crescimento sustentado, no est
garantida. Eu nunca deixei de afrmar claramente que o Plano Real
o que : apenas o primeiro passo das mudanas e uma ponte para as
reformas estruturais que perdemos a oportunidade de encaminhar
neste ano.
A Constituio de 1988 tornava-se, pela sua natureza de colo-
rao social-democrata, um entrave para as reformas e sua reviso seria
inevitvel. Sei que recair sobre mim, como chefe do governo, a parcela
principal da responsabilidade pela conduo das reformas nos prximos
quatro anos. Acautelava-se sobre o tema e o movimento reformista
embora a agenda das reformas no seja minha, no sentido de que no
fui eu que a inventei, fui eu que sa em sua defesa no pleito presiden-
cial. de mim, portanto, que primeiro sero cobrados os resultados.
E anunciava sua iniciativa em reformar a constituio brasileira que
tampouco sairia do papel. Entendo que, no esprito da regra presiden-
cialista, caber a mim suscitar a discusso, pelo Congresso, das medidas
legislativas necessrias para dar curso s reformas. Com cautela, porm
com determinao, asseverava FHC que pretendia desempenhar esse
papel com sentido democrtico, fel s [...] [suas] origens de parla-
mentar, dentro do rigoroso respeito soberania do Poder Legislativo,
mas com enorme afnco. Bem explcito acrescentava a proposio de
recomear a reviso constitucional. Pela remoo, da Carta de 88, dos
ns que atam o Estado brasileiro herana do velho modelo, e de al-
gumas impropriedades que ns, constituintes, acrescentamos por nossa
conta. A reforma tributria foi alvo de ateno, desnecessrio dizer que
os princpios consistiam na capacidade fnanceira de interveno do
Estado e de sua desconcentrao. Atribuindo aos estados e municpios
responsabilidades defnidas no mbito da Unio. Os Constituintes f-
zeram uma opo, a meu ver, correta pela descentralizao fnanceira e
administrativa do Estado brasileiro. Em vez de reconcentrar recursos,
buscar uma diviso mais equilibrada das atribuies.
A agilidade administrativa do Estado no mbito da Unio era
outro alvo, o tempo econmico se punha para a administrao pblica.
Na rea do oramento federal, o grande problema o engessamento
dos gastos. Voltava necessria reviso constitucional e negava a des-
203
Joo dos Reis Silva Jnior
centralizao, afrmando a desconcentrao de funes do Executivo e
centralizao de decises.
Alm de aumentar as transferncias automticas de recursos
para os Estados e Municpios, a Constituio de 88 criou ou
acolheu tantas vinculaes de receita e renncias fscais, que
reduziu a quase nada a liberdade do Executivo federal e do
prprio Congresso para defnirem as prioridades do gasto
pblico.
Quanto reforma da Previdncia era enftico em mostrar como
se poderia abrir espao para uma alternativa para a produo de valores
para simultneo redirecionamento do fundo pblico, segundo a racio-
nalidade aqui j referida. Pouparei os Senadores de um diagnstico
com o qual eles j esto familiarizados. Passo diretamente constatao
fundamental: a relao entre contribuintes e benefcirios, que hoje
de apenas dois para um, tende a baixar ainda mais nos prximos anos.
Com tal reforma, abria-se desta forma um espao colossal para a pro-
duo de valor, redirecionamento do fundo pblico como j se via em
muitos pases de economia central, um espao para os fundos de pen-
so, sob o discurso da inviabilidade de gesto pblica desta empresa que
muito bem poderia ser estatal.
Contudo, no anncio da nova racionalidade que orientaria os
ltimos 16 anos da recente histria do Brasil como um pas emergente,
e uma das plataformas estratgicas de produo de valor para o capital
fnanceiro em nvel mundial produzida por meio da valorao do capital
produtivo nacional e estrangeiro, e com base na gesto do fundo pbli-
co como forma objetivada pelo Estado ou por meio do fundo pblico
na sua forma objetivada em dinheiro ou isenes fscais coroaria o pro-
nunciamento feito pelo presidente eleito Fernando Henrique Cardoso.
A Constituio de [19]88 andou na contra-mo da histria
em relao ao capital estrangeiro. Enquanto no mundo in-
teiro, inclusive no mundo socialista, os governos tratavam
de atra-lo como um importante fator de desenvolvimento,
ns impusemos restries sem precedentes sua presena na
economia brasileira.
204
Joo dos Reis Silva Jnior
FHC atualizava em sua prtica poltica a sua famosa Teoria da
Dependncia, ainda que num futuro no to longe do dia deste discurso
solicitaria ao povo brasileiro esquecer-se de tudo que escrevera.
notvel como a maioria dos Constituintes, esquerda e di-
reita, respondeu, no fundo, mesma viso antiquada segundo
a qual o capital estrangeiro, ou era um obstculo ao desen-
volvimento nacional, ou operava predatoriamente atravs de
trustes, e muitos de ns, em 1988, apoiamos tais medidas.
Para o professor Fernando Henrique Cardoso a burguesia in-
dustrial brasileira, em razo de nossa colonizao, no tinha vocao
para liderar um processo socioeconmico nacional de desenvolvimento
e, por isso, estaramos fadados a presas de um modelo de desenvolvi-
mento associado ao capital estrangeiro. Hoje parece termos ido alm do
anunciado. Colocamo-nos para alm da dependncia, colocamo-nos em
um estado de emergncia econmica, de iminente crise e legitimamos
uma verdadeira servido fnanceira.
Ia alm ao anunciar a necessria articulao entre empresas
brasileiras e corporaes mundiais fundamentais para a mundializao
do capital, tendo como mvel o Investimento Externo Direto (IED) ao
referir-se reviso constitucional no que diz respeito s defnies entre
empresa brasileira e empresa de capital nacional.
Acredito que o momento amadureceu para acabar com as
restries descabidas: rever os dispositivos que impedem que
o capital estrangeiro venha engrossar a massa de investimen-
tos necessria para dinamizar os setores de energia eltrica e
minerao.
Ponto crucial para as especfcas privatizaes que se viriam a
realizar de pronto quando FHC assumiu a presidncia. Para isso seria
imprescindvel eliminar a distino, mais retrica do que prtica,
mas ainda assim discriminatria, entre empresa brasileira e empresa
brasileira de capital nacional, como quase aprovamos na Reviso Cons-
titucional. Com isso os monoplios estatais, fundos pblicos na forma
patrimonial estavam colocados em leilo para o capital estrangeiro que,
205
Joo dos Reis Silva Jnior
na forma de Investimento Externo Direto (IED), como veremos mais
adiante articularia, sob o arcabouo jurdico da reforma do Estado e da
reviso constitucional, as corporaes mundiais s empresas nacionais,
subordinando-as na forma das empresas-rede, realizando a mundia-
lizao do capital, bem como assegurando o pas como um espao
econmico estratgico de produo de valor.
A mesma viso que inspirou a discriminao do capital es-
trangeiro levou a inscrever na Constituio o princpio do
monoplio estatal do petrleo, que vigorava com base em lei
ordinria desde 1954, e estend-lo s telecomunicaes e aos
servios locais de gs canalizado.
O Brasil a pronta-entrega parecia ser a racionalidade que Paulani
(2008), de forma aguda e precisa, chamou de Brasil Delivery. Justifca-
do em nome dos interesses estratgicos do Pas, como se a explorao
privada fosse uma porta aberta a objetivos antinacionais, o monoplio
estatal corre outro risco, fel aos seus princpios quanto ao modelo de
desenvolvimento para Brasil, continuava FHC. O risco de tornar-se um
guarda-chuva de privilgios corporativistas, de associaes esprias com
interesses privados, e um obstculo realizao dos investimentos ne-
cessrios em setores vitais da infra-estrutura. A lgica de apresentar-se
o estatal como a causa de todos os males e o privado, com sua efcincia
e efccia, como a soluo para a administrao das polticas econmicas
e como argumento central necessrio ao projeto brasileiro derivado do
Washington Consensus, assumido pela elite que se preparava para governar
o pas. Por fm as condies para o hiperpresidencialismo (SILVA JNIOR;
SGUISSARDI, 2001) eram anunciadas e em breve realizadas.
Concluo com algumas observaes sobre a questo, que me
parece crucial, do encaminhamento poltico dessas reformas.
A amplitude das mudanas possveis, pelo rito de emenda
constitucional, menor, obviamente, do que numa reviso
por maioria absoluta e em sesso unicameral. Eu veria com
bons olhos frmulas que permitissem ao Congresso acelerar
a tramitao das emendas. Esclareo, para evitar que se repro-
duza o mesmo equvoco quando mencionei anteriormente
esse assunto, que no estou pensando em reduo de qu-
rum, mas em frmulas regimentais, com eventuais comisses
206
Joo dos Reis Silva Jnior
conjuntas ou simultneas entre a Cmara e o Senado; enfm,
mecanismos que a imaginao poltica das duas Casas nunca
foi escassa, e que poder produzir algum mecanismo regi-
mental que permita, respeitando-se o rito constitucional, a
acelerao das reformas. Desde que isso no leve, porm, a
uma controvrsia paralisante sobre os procedimentos, em
prejuzo dos possveis consensos sobre o teor das propostas.
Mesmo reconhecendo as difculdades, penso que no devera-
mos restringir de antemo a pauta das discusses. prefervel
ser ambicioso no ponto de partida, para que a sociedade e as
prprias foras polticas tenham a viso completa de onde se
quer chegar por isso, mencionei tantos pontos hoje e ter
uma idia clara do grau de prioridade das propostas para, se
for o caso, distribuir no tempo as deliberaes e no conges-
tionar a pauta do Congresso.
Com a reforma do aparelho do Estado e a constituio de dois
amplos setores defnia-se a relao entre o Estado e a sociedade civil e
a relao entre os trs poderes do Estado. Um primeiro, em que todas
as polticas seriam defnidas, controladas e reguladas e, um segundo,
em que se permitiriam as articulaes nos moldes j aqui tratados entre
Estado e mercado e entre Estado e sociedade civil. Destaque-se, a socie-
dade civil, agora redesenhada e tendo como interlocutores do Estado,
no mais sindicatos, partidos polticos, centrais sindicais, movimentos
sociais que reivindicavam polticas de demanda social, mas as polticas
de oferta e fnanciadas por fundos calculados segundo a lgica das ne-
cessidades da valorao do capital produtor de valor. E assim, entre idas
e vindas se fez com FHC e Lula.
SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidncia sus-
pende a sesso por 5 minutos para os cumprimentos dos Srs.
Parlamentares ao Senador Fernando Henrique Cardoso, eleito
Presidente da Repblica. Est suspensa a sesso. (Suspensa s
16h49min, a sesso reaberta s 17h08min).
207
Joo dos Reis Silva Jnior
REFERNCIAS
CARDOSO, F. H. Xadrez internacional e social-democracia. So Paulo: Paz e Terra, 2010.
CHESNAIS, F. A mundializao do capital. So Paulo: Xam Editora, 1996.
FIORI, J. L. Da Dependncia ao Social-Liberalismo: a bssola de Fernando
Henrique Cardoso. In: ______. Em busca do dissenso perdido. Rio de Janeiro: InSight
Editorial, 1995.
MANTEGA, G. Teoria da Dependncia Revisitada: um balano crtico. Relat-
rio de Pesquisa n 27/1997, EAESP/FGV/NPP Ncleo de Pesquisas e
Publicaes. Disponvel em http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/
handle/10438/3003/P00187_1.pdf?sequence=1
PAULANI, L. Brasil Delivery. So Paulo: Boitempo Editorial, 2008.
PAULANI, L. Teoria da infao inercial: um episdio singular na histria
da cincia econmica no Brasil. In: LOUREIRO, M. R. G.; BIANCHI, A. M.;
DELFIM NETTO, A. 50 anos de cincia econmica no Brasil: pensamento, instituies,
depoimentos. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1997.
PEREIRA, B. Plano diretor da reforma do aparelho de Estado. Braslia, Docu-
mentos da Presidncia da Repblica, 1995.
SGUISSARDI, V.; SILVA JR., J. dos R. Trabalho intensifcado nas federais: ps-graduao
e produtivismo acadmico. So Paulo: Xam Editora, 2009.
SILVA JR., J. dos R. Reforma do Estado e da Educao no Brasil de FHC. So Paulo: Xam,
2002.
SILVA JR., J. dos R.; SGUISSARDI, V. As novas faces da educao superior no Brasil: reforma
do Estado e mudana na produo. 2 ed. So Paulo: Cortez Editora; Bragana Paulista:
EDUSF, 2001.
INTRODUO
1
E
ste texto tem como objetivo analisar os elementos da ra-
cionalidade da reforma educacional contempornea, que se
insere no contexto de ressurgimento do interesse mundial
pela mudana educacional as dcadas de 1980 e 1990
do sculo XX , como condio de desenvolvimento econmico, trans-
formao cultural e solidariedade nacional, nos pases centrais, e de
insero no processo global de desenvolvimento, nos pases perifricos.
O suposto bsico que, particularmente, nos anos de 1990 emergiu
mundialmente uma preocupao em solucionar os dfcits educacionais
nos pases em desenvolvimento, sendo que tal preocupao centralizou
discursos em torno do controle de natalidade, da adequao dos sujeitos
aos novos padres e processos de trabalho e da necessria tolerncia e
convivncia dos povos educados, to necessrios para o novo milnio;
aspectos que sintetizam os princpios e as diretrizes difundidos pelas
agncias internacionais.
1 Publicado originalmente na Revista Histedbr On-line, Especial, Campinas, maio de 2009.
REFORMA E QUALIDADE
DA EDUCAO NO BRASIL
Antnio Bosco de Lima
Mara Rbia Alves Marques
Sarita Medina Silva
Maria Vieira Silva
Gabriel Humberto Munz Palafox
209
Antnio Bosco de Lima et al
Nesse sentido, para evidenciar a articulao entre um novo
padro de modernizao ou mudana social, a reforma do Estado e a
reforma educacional, destacadamente a reforma da educao superior,
o presente texto desenvolvido em trs momentos que, em ltima ins-
tncia, abordam/articulam a reforma e a qualidade da educao. Em
um primeiro momento, desenvolvemos os aspectos da relao entre
reforma do Estado e da educao no Brasil; no segundo, destacamos
as caractersticas centrais na reforma da educao da dcada de 1990
e, em um terceiro, situamos a reforma do ensino superior associada
ao discurso da qualidade, porm, pautada em processos e prticas de
fexibilizao como marcas distintivas daquele padro poltico-cultural
que constitui uma nova ordem liberal, cujo cerne a qualidade em
termos, sobretudo, da equao custo-benefcio.
REFORMA DO ESTADO E DA EDUCAO NO BRASIL
O teor poltico para a construo de um mundo educado,
conforme os princpios e diretrizes difundidos pelas agncias interna-
cionais, entre as quais se destacam: Unesco (Organizao das Naes
Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura), Unicef (Fundo das Na-
es Unidas para a Infncia), Pnud (Programa das Naes Unidas para
o Desenvolvimento), Banco Mundial e BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), pode ser constatado nos encontros que congregaram
a Conferncia Mundial de Educao para Todos, em maro de 1990, em Jomtien,
na Tailndia, da qual resultou, no Brasil, o Plano Decenal de Educao
para Todos, publicado em 1993. Pode ainda, ser encontrado no livro
coordenado por Jacques Delors, Educao: um tesouro a descobrir,
tornado pblico em 1996 e publicado no Brasil, pela primeira vez em
2001, que rene depoimentos de pesquisadores/educadores de vrias
partes do mundo.
O despertar para um projeto de educao nacional consisten-
te veio a reboque da organizao mundial em torno da educao, na
dcada de 1990. A ONU (Organizao das Naes Unidas) proclamou
1990 como o Ano Internacional da Alfabetizao. Ainda nesse ano, aconteceu,
210
Antnio Bosco de Lima et al
como j referenciamos, a Conferncia Mundial de Educao para Todos, da qual
resultaram os documentos: Declarao Mundial de Educao para Todos e o Plano
de Ao para a Satisfao das Necessidades Bsicas de Aprendizagem, que apontavam
os compromissos a serem assumidos pelo Estado e pela Sociedade Civil.
O Brasil s veio a sistematizar tais orientaes depois da Confe-
rencia Mundial de Educao para Todos de 1993, na China, seguida da Conferncia
de Cpula de Nova Delhi, na ndia em 1993. O Brasil realizou sua Conferncia
Nacional de Educao para Todos em 1994, em Braslia, entre 29 de agosto e 2
de setembro, com a participao e organizao do MEC (Ministrio da
Educao), da Undime (Unio Nacional dos Dirigentes Municipais da
Educao), do Consed (Conselho Nacional dos Secretrios de Educao)
e da CNTE (Confederao Nacional dos Trabalhadores em Educao),
signatrios do Plano, que, em nosso entendimento, seria a gnese da
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no. 9.394/96 e do nosso primeiro Plano
Nacional de Educao, promulgado em 2001.
Essa Conferncia resultou em um esforo para a resoluo de
acmulos defcitrios da educao brasileira. Os debates indicaram ser
preciso canalizar o investimento da Educao Superior para a Educa-
o Bsica, responsabilizar os municpios pelo Ensino Fundamental e
instituir um padro de educao que inserisse o homem brasileiro nos
meandros das novas tecnologias, habilitando-o a dialogar com elas;
so aes que buscaram superar os baixos ndices de escolaridade dos
brasileiros. Enfm, tratava-se, na dcada de 1990, de tentar solucionar os
problemas cumulativos de dcadas anteriores, como as vagas reprimidas,
a inadequao do fuxo escolar e os altos ndices de reprovao, discre-
pncia no fnanciamento da Educao Bsica e da Educao Superior.
Esse movimento marcado pela reforma do Estado Brasileiro
que, paradoxalmente, ir colocar a educao como um servio no ex-
clusivo do Estado, conforme podemos constatar no Plano da reforma do
Estado brasileiro. Segundo a apresentao do Plano Diretor (1995) pelo
ento presidente da Repblica Fernando Henrique Cardoso
2
, a refor-
2 N.E.: 34. Presidente da Repblica do Brasil, perodo de 01. de janeiro de 1995 a 01. de janeiro
de 2003.
211
Antnio Bosco de Lima et al
ma do Estado passou a ser instrumento indispensvel para consolidar a
estabilizao e assegurar o crescimento sustentado da economia. (p. 9)
Colocada desta forma, a reforma tornou-se um discurso que
buscou convencer a populao e os chefes de governos estaduais da
necessidade imprescindvel de superar a crise, considerada pelo Exe-
cutivo Federal, naquele momento, como uma crise fscal ocasionada
pela incapacidade gerencial dos governos. A crise foi destacada, naquele
momento, como resultado de o aparelho de Estado concentrar e centra-
lizar funes, pela rigidez de procedimentos e pelo excesso de normas
e regulamentos (1995), num ataque virulento forma burocrtica de
administrao.
Da a necessidade de se criar uma nova forma de administrao
que ultrapassasse o setor pblico e o setor privado, a qual foi denomina-
da pelo Plano da Reforma como o setor pblico no-estatal
3
, o qual seria
responsvel pela produo de servios competitivos ou no-exclusivos
de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre o Estado e a
sociedade para o seu fnanciamento e controle. (p. 18)
O Plano de Reforma estabeleceu como atividade exclusiva,
dentre as vrias elencadas, a Educao Bsica, e como servios no ex-
clusivos, as universidades.
Essa ideia da centralidade da Educao Bsica persegue o precei-
to de que os pases que investiram na educao estariam em melhores
condies econmicas; ademais, seria necessria minimamente a for-
mao para a adequao do trabalhador ao mundo do trabalho, prevista
e pautada j no sculo XVIII por Adam Smith (1983), e resgatado pelas
novas posies liberais, cujo pressuposto seria o de uma educao com-
pensatria, mnima, para a manuteno dos meios de produo.
O argumento da centralidade da educao bsica uma propo-
sio que se refere a um postulado de democratizao da educao, via
universalizao do Ensino Fundamental, no qual sabemos o que ocor-
3 Pblico no-estatal so organizaes ou formas de controle pblicas porque voltadas ao interesse
geral; so no-estatais porque no fazem parte do aparato do Estado, seja por no utilizarem servido-
res pblicos, seja por no coincidirem com os agentes polticos tradicionais. (PEREIRA; GRAU, 1999,
p. 16)
212
Antnio Bosco de Lima et al
reu: cerca de 98% de matrculas e os ndices de aprendizagem piores
que alguns pases da Amrica Latina
4
. Temos, no Brasil, uma fagrante
queda na qualidade do ensino, que se expressa, principalmente, no ato
de 50% dos alunos da 4. srie do Ensino Fundamental no saberem ler
e da maioria dos que leem, no compreender aquilo que l.. (FOGAA,
2006)
Essa foi a preocupao central dos educadores de vrios gover-
nos, ao buscarem elementos que garantissem a ampliao e o acesso ao
Ensino fundamental, incluindo mais alunos, formando mais professores,
sem, entretanto, conforme atestam os vrios instrumentos avaliativos, a
garantia e a permanncia e uma formao com primor da qualidade
social.
Os dados dos testes avaliativos nacionais e internacionais tm
demonstrado que o processo ensino-aprendizagem continua com srios
entraves no que diz respeito ao sucesso do ensino. o que afrma Castro
(2008, p. 3) ao caracterizar a demanda reprimida de matrculas como
um problema ultrapassado:
[...] superado o desafo da incluso devido a fundamentais
polticas de universalizao do acesso em anos anteriores, o
governo do Estado enfrenta o problema do baixo desempenho
de seus alunos, tendo como prioridade aperfeioar o sistema
de educao.
A autora trata da realidade do Estado de So Paulo, entretanto
tal anlise pode ser estendida para todos os Estados da Federao.Ora,
se a questo est esclarecida no tocante ao problema apresentado, a sua
resoluo depende de um movimento global em torno da educao e
do papel do Estado, problematizando-a, buscando elementos de anlise,
buscando a relao entre a educao Bsica e a Educao Superior. Af-
nal, como afrma Chau (2003, p. 12-15) preciso
1. Colocar-se claramente contra a excluso como forma da
relao social defnida pelo neoliberalismo e pela globalizao
4 O Brasil possui o mais elevado ndice de repetncia da Amrica Latina e, segundo a Unesco (2006),
no ndice de Desenvolvimento Educacional, entre 121 pases est na 71 posio.
213
Antnio Bosco de Lima et al
[...]; 2. Defnir a autonomia universitria no pelo critrio
dos chamados contratos de gesto, mas pelo direito e pelo
poder de defnir suas normas de formao, docncia e pes-
quisa. [...] 3. Desfazer a confuso atual entre democratizao
da educao superior e massifcao. [...]; 4. Revalorizar
a docncia, que foi desprestigiada e negligenciada com a
chamada avaliao da produtividade quantitativa. [...]; 5.
Revalorizar a pesquisa, estabelecendo no s as condies de
sua autonomia e as condies materiais de sua realizao, mas
tambm recusando a diminuio do tempo para a realizao
dos mestrados e doutorados. [...]; 6. A valorizao da pesquisa
nas universidades pblicas exige polticas pblicas de fnan-
ciamento por meio de fundos pblicos destinados a esse fm
por intermdio de agncias nacionais de incentivo pesquisa
[...]; 7. Adotar uma perspectiva crtica muito clara tanto sobre
a idia de sociedade do conhecimento quanto sobre a educa-
o permanente, tidas como idias novas e diretrizes para a
mudana da universidade pela perspectiva da modernizao.
Estes so elementos problematizadores que Chau indica para a
refexo qualitativa sobre a Educao Superior. , a partir de tais ideias,
que desenvolvemos a relao entre reforma educacional e a Educao
Superior, a seguir.
ASPECTOS CENTRAIS NA REFORMA DA EDUCAO NA
DCADA DE 1990
A racionalidade da reforma do Estado e uma agenda global para
a educao associam o Estado, o mercado e a comunidade nos pro-
cessos de regulao das polticas pblicas, especialmente das polticas
educacionais, no contexto do ressurgimento do interesse mundial pela
mudana da administrao estatal e da mudana educacional pautadas
na globalizao, nas novas tecnologias da informao e nos novos mo-
vimentos na sociedade civil.
A propsito, Pimenta (1998, pp. 173-174)
5
tratou do processo
de transformao do Estado Moderno, por meio do processo de refor-
5 Administrador formado pela FGV-SP, poca ligado ao Programa de Modernizao do Poder Execu-
tivo Federal do Mare, fnanciado pelo BID.
214
Antnio Bosco de Lima et al
ma da administrao pblica burocrtica no atual contexto das grandes
tendncias mundiais a globalizao, os progressos na tecnologia da
informao e a emergncia da sociedade civil organizada, rumo a um
novo conceito de Estado ou construo de um novo Estado. O sen-
tido da anlise era ressaltar o pressuposto bsico de que
[...] o Estado est abandonando algumas funes e assumindo
outras, o que o est levando a um novo papel, onde o setor
pblico passa de produtor direto de bens e servios para in-
dutor e regulador do desenvolvimento, atravs da ao de um
estado gil, inovador e democrtico [...].
Segundo o autor, para desempenhar esse novo papel seria
necessrio reformar gerencialmente o Estado brasileiro combinando
uma mistura de trs instituies o mercado (o neoliberalismo), o
Estado (o estatismo) e a comunidade (o comunitarismo) , com base
em oito princpios (desburocratizao, descentralizao, transparncia,
accountability, tica, profssionalismo, competitividade e enfoque
no cidado) e por meio de trs estratgias para a reorganizao da
administrao pblica (privatizao, publicizao e terceirizao).
Estes princpios e estratgias migraram facilmente da reforma
do Estado para a reforma da Educao e de outros setores sociais pbli-
cos, haja vista se tratar de processos e prticas de modernizao da esfera
estatal, mais especifcamente da administrao pblica em geral no Bra-
sil, com um forte sentido de rompimento com os padres anteriores e
anacrnicos de gesto do pblico.
De qualquer modo, reforma do Estado e reforma da Educao
so fenmenos poltico-culturais historicamente inter-relacionados,
embora concordemos com a premissa de que a palavra reforma
abrange diferentes conceitos ao longo do tempo, dentro do contexto
dos desenvolvimentos histricos e das relaes sociais. (POPKEWITZ,
1997, p. 22) O pressuposto bsico de que os padres historicamente
formados compem uma cosmologia que envolve o Estado moderno,
as vises desenvolvimentistas da individualidade, as concepes otimis-
tas da cincia e a interveno da reforma planejada, associando reforma
215
Antnio Bosco de Lima et al
e mudana social no sentido do melhoramento e cuja anlise possibilita
uma ecologia da reforma.
Considerando-se os seus padres histricos estruturais, a re-
forma como poltica social, o Estado moderno e as cincias sociais e
educacionais so prticas de governar emergentes no sculo XIX, ligadas
aos processos de nacionalizao e de formao do cidado. Tais prticas
so fenmenos modernos que articulam o governo da sociedade e o go-
verno do indivduo, no sentido de autogoverno. Fazem parte de novos
padres de governana (POPKEWITZ, 1998, p. 149), relativamente
tradio pr-moderna, que articulam o planejamento social e a adminis-
trao da liberdade pelo Estado; ou as aspiraes dos poderes pblicos s
capacidades pessoais e subjetivas dos indivduos; ou s novas metas de
bem-estar social a uma forma particular de especializao cientfca que
deveria organizar as subjetividades.
Assim, o saber profssional corporifcava uma idia secular
peculiar ao progresso que vinculava as racionalidades polticas cons-
truo do indivduo. (POPKEWITZ, 1998, p. 150)
As formas histricas de pensar a mudana escolar, que infuen-
ciam as cincias educacionais e a pesquisa educacional, e a poltica estatal
para a reforma da pedagogia contm quatro princpios de mudana que
funcionam como a doxa da reforma e regem os professores, os dirigentes
e os alunos (POPKEWITZ, 1998, pp. 147-148):
1. O discurso educacional vincula as racionalidades polticas
do Estado s estratgias solucionadoras de problemas e s
pedagogias que regem os sujeitos/subjetividades. A profs-
sionalizao de professores e dirigentes e a formao dos
alunos implicam na reconstruo da criana e na reconsti-
tuio da identidade dos professores (POPKEWITZ, 1998,
p. 154), por meio de normas de identidade oferecidas
nas reformas educacionais;
2. A ideia de progresso social ou de modernizao encon-
tra-se inscrita na pedagogia e individualizada como a
administrao social da alma ou do self. (POPKEWITZ,
1997, 1998, 2000) O que implica, na pedagogia moderna,
216
Antnio Bosco de Lima et al
a relao entre ideia de progresso/mudana social e sua
internalizao pela subjetividade como mudana pessoal.
As sociedades liberais do sculo XIX estabeleceram uma
nova relao entre o governo da sociedade e o governo, ou
controle, do indivduo. [...] A sociedade civil devia ter seus
prprios padres de regras separadas da interveno estatal.
No entanto, se o Estado devia se responsabilizar pelo bem-
-estar de seus cidados, a identidade dos indivduos, tanto na
arena civil, quanto na arena poltica, tinha de estar vinculada
aos padres administrativos encontrados na sociedade mais
ampla. (POPKEWITZ, 1998, p. 149)
6
3. Uma cultura da redeno (POPKEWITZ, 1998, p. 142),
ou cultura redentora (POPKEWITZ, 1998, p. 147), le-
gitima as prticas das cincias sociais e educacionais que
adquirem papel ou status de produtores de mudana social
e pessoal;
Enquanto nossa idia de progresso como padro linear de
desenvolvimento uma inveno da Renascena, as noes de
desenvolvimento e progresso j se encontram no pensamento
clssico. Os gregos, por exemplo, tinham uma concepo
do mundo que no colocava as pessoas no centro do palco
ou como eixo da sociedade ao redor da humanidade. Ao
mesmo tempo em que se acreditava no desenvolvimento e
no crescimento, o aperfeioamento social no era a base da
organizao da sociedade no existia nenhuma noo de
uma flosofa da mudana biolgica ou aprimoramento cul-
tural da humanidade; cada coisa vivente tinha suas prprias
leis de causao, mecanismo e fnalidade, sua sucesso fxa
de estgios e propsito. Com o cristianismo, os elementos da
resignao e do fatalismo da atitude clssica foram alterados
para os da esperana e do futuro. O tempo torna-se linear
e no reversvel; e introduz-se um movimento dialtico do
nascimento at a crise, crucifcao e ressurreio. H tambm
uma idia de necessidade histrica. Os fatos ocorridos no pas-
6 Popkewitz afrma tratar-se da constituio ou produo de uma mentalidade atravs da qual o novo
cidado/indivduo agia e participava, aquilo que Norbert Elias chamou de o processo civilizatrio e
Foucault de governamentalidade com a ressalva de que, embora haja distines entre os arrazoados de
Elias e Foucault, cada um deles aponta como a maneira de governar as disposies, as sensibilidades e
as conscincias do indivduo tornou-se um problema da modernidade. (1998, pp. 149-172)
217
Antnio Bosco de Lima et al
sado so considerados no s como verdade pura, mas como
verdade necessria. (POPKEWITZ, 1998, p. 172)
O que as cincias sociais fzeram foi possibilitar a substituio
da revelao religiosa (da providncia divina) pela refexo sistemtica,
cientfca (processos racionais, controlados), na busca do progresso
humano agora interpretado como projetos coletivos e sociais ins-
titucionalizados. Exemplos da cultura redentora nas cincias sociais
esto na Psicologia, na Sociologia, nos modelos fordista e taylorista da
produo. E, tal como outros projetos sociais, o treinamento de profes-
sores e a pedagogia estavam preocupados com um projeto coletivo e social
(POPKEWITZ, 1998, p. 172), que passava pela reconstruo da criana e
pela mudana da identidade dos professores (o professor profssionali-
zado [por meio da educao formal do professor] tinha que ser resgatado
primeiro, a fm de se resgatar a criana). (POPKEWITZ, 1998, p. 154)
4. O conhecimento cientfco social (a pesquisa social e
educacional) se funda num princpio retrico populista
baseado em ideais democrticos: promessas de autono-
mia, fortalecimento e emancipao.
Reconheo desde o incio que as idias sobre a cultura da re-
deno nas polticas e cincias educacionais so doxa; isto quer
dizer que, no interior do discurso atual da reforma, qualquer
saber cientfco que no reivindique ajudar, emancipar e
fortalecer as pessoas que descrevem sejam professores,
crianas e, mais recentemente, os pais e as comunidades
considerado irrazovel ou at mesmo antidemocrtico.
(POPKEWITZ, 1998, p.148)
Os quatro princpios apresentados unem crenas e agendas
ideolgicas aparentemente distintas (os discursos das reformas es-
colares sistmicas e os discursos da pedagogia crtica ou do professor
ps-moderno, ou da pedagogia crtica ps-moderna, ou ainda da po-
sio ps-moderna/marxista) em torno do professor reformado o
professor participativo e construtivista.
Em termos dos padres histricos estruturais, os quatro prin-
cpios de mudana so resultantes de relaes de poder especfcos da
218
Antnio Bosco de Lima et al
virada do sculo passado, mas que representam continuidades nas refor-
mas atuais enquanto permanncia dos padres histricos. Entretanto,
tais princpios so reembutidos nas reformas das ltimas dcadas do
sculo XX (dcadas de 1980 e de 1990), em termos de mudanas dos
sistemas governantes [ou dos padres de governana] na reforma e na
pesquisa educacional contemporneas (POPKEWITZ, 1998, p. 156),
como rupturas expressas na emergncia de novos conjuntos de padres
culturais.
Sinteticamente, Popkewitz (1997) destaca o conjunto dos
seguintes padres histricos estruturais envolvidos na reforma edu-
cacional:
1. A escola est ligada ao papel do Estado na produo de
progresso;
2. A reforma est associada ao conhecimento profssional;
3. A individualizao da pessoa recebe uma forma institucio-
nal especfca por meio das prticas da pedagogia.
Em termos das reformas educacionais contemporneas, no
entanto, estes elementos [...] fazem parte de um novo campo social
no como uma histria cronolgica, mas como a histria das transfor-
maes das relaes institucionais, do conhecimento e do poder [...].
(POPKEWITZ, 1997, p. 113)
As reformas atuais reconstituem trs lugares importantes: o Estado, as cincias
sociais e a pedagogia, como formas governantes. As metforas operativas
do progresso e da redeno no so mais derivadas de normas
coletivas sociais, das regras comuns e das identidades fxas.
Os discursos reformistas tratam de identidades mltiplas, da
cooperao, da comunidade local e da soluo fexvel de
problemas. [...] As identidades coletivas sociais e as normas
universais corporifcadas nas reformas anteriores so substi-
tudas por imagens da identidade local, comunal e fexvel.
(POPKEWITZ, 1998, p. 156) [grifos nossos]
7
7 Em Popkewitz (1994, p. 186) o conceito de pedagogia identifcado com currculo. J em
Popkewitz (1998, p. 159) identifcado com escolarizao.
219
Antnio Bosco de Lima et al
Trata-se, portanto, de novos conjuntos de padres culturais
em meio aos quais diferentes nveis institucionais a escola e a pe-
dagogia, o Estado, as cincias e as universidades tm interagido nos
processos regulatrios de reforma da escola e na formao de uma nova
subjetividade profssional.
Identifcamos este novo campo social no que constitui o neo-
liberalismo. Neste contexto as reformas do Estado e da Educao
tendem a abarcar fortemente algumas caractersticas, quais sejam:
1. A lgica ou dialtica da (des)qualifcao
8
: as reformas expres-
sas numa recorrente busca pela qualidade por meio de
choques cclicos e traumticos numa espcie de rito/
recorrente. (SACRISTN, 1996, p. 55)
Na poltica educacional, as reformas substituem, muitas vezes,
a carncia de um sistema de inovao e atualizao permanente,
de uma poltica cotidiana, para melhorar as condies do sis-
tema educacional. Desta forma, algumas reformas se seguem
a outras como se fossem convulses peridicas [...] provocan-
do medidas reiteradas de choque. (SACRISTN, 1996, p. 54)
[grifo nosso]
2. A justifcao pela busca da qualidade tem motivaes: atingidas as
metas de expanso quantitativa do sistema escolar a nfase
recai na qualidade das condies internas do sistema os
processos educativos, a partir da constatao dos reforma-
dores de que os macroprojetos anteriores da reforma (anos
8 A propsito, consultar Marques (2000, 2001). A dialtica da (des)qualifcao relacionada ao
mal-estar cultural, institucional e profssional, uma vez que o suposto da qualidade ou da qualifcao
tende ao esvaziamento da histria, da cultura ou das experincias acumuladas, cujo efeito o da tbula
rasa, ou seja, a sensao de estar comeando sempre do ponto zero rumo a solues racionais interpre-
tadas como panaceias universais. Nesse contexto, justifca-se o apelo ao consenso pblico, proporcional
proliferao de propostas reformistas cuja linguagem tanto mais velha quanto mais ressignifcada.
Da o entendimento da reforma educacional como mobilizao e administrao pblicas para um de-
terminado padro de modernizao ou mudana social e para um determinado padro administrativo
do Estado. a identifcao da dialtica da (des)qualifcao na reforma educacional que possibilita a
decomposio e recomposio de elementos recorrentes na prtica social reformista: elementos de conti-
nuidade, conforme os padres histricos estruturais; elementos de ruptura, conforme as variaes histricas
superestruturais; e elementos de sntese entre as reformas, os quais operam no campo simblico-cultural, a
despeito dos padres e das variaes superestruturais da modernizao.
220
Antnio Bosco de Lima et al
de 1960 e de 1970) no atingem o cotidiano da sala se
aula. (SACRISTN, 1996, p. 64-67) Trata-se de uma crise de
qualidade tanto das prticas pedaggicas quanto da gesto
administrativa, o que requer uma profunda reforma admi-
nistrativa com base em parmetros ou valores efcientistas
externos ao processo educacional, associados ao mercado
e utilizados pelas agncias internacionais para comparar e
avaliar os sistemas educacionais (GENTILI, 1996, p. 17):
[...] necessrio destacar que na perspectiva neoliberal os
sistemas educacionais enfrentam, hoje, uma profunda crise de
efcincia, efccia e produtividade, mais do que uma crise de quan-
tidade, universalizao e extenso. Os sistemas educacionais
contemporneos no enfrentam [...] uma crise de democratiza-
o, mas uma crise gerencial. [grifos nossos]
3. A temtica da descentralizao, participao e autonomia (SACRIS-
TN, 1996, p. 67-73): indica necessidade de mudanas na
administrao e na gesto do sistema escolar por meio de
reordenao do poder entre as instncias do sistema edu-
cacional, cujos aspectos fundamentais so: a redistribuio
do poder de deciso e controle entre as autoridades cen-
trais, regionais e locais; O surgimento e reconhecimento
das escolas como as verdadeiras unidades de inovao, elemen-
tos estratgicos para centrar as polticas de mudana e de
reforma (SACRISTN, 1996, p. 68); os movimentos e pro-
postas que afetam a autonomia dos professores em termos
de maior participao no desenvolvimento do currculo e
na gesto das escolas; os movimentos de reivindicao dos
pais e outros agentes sociais no controle do funcionamento
das escolas.
[...] um exemplo de como as medidas tomadas em diferen-
tes aspectos colocam tendncias que nos deixam um tanto
perplexos. [...] Parece que o controle se dilui, como se desa-
parecesse sob a euforia democratizadora. (SACRISTN, 1996,
p. 69)
Essas tendncias descentralizadoras [...] no so alheias as-
censo de um novo neoliberalismo conservador que, receoso
221
Antnio Bosco de Lima et al
diante de qualquer servio pblico regulado pelo Estado,
condena a sua interveno na vida dos indivduos, reclaman-
do para esse e para toda iniciativa privada a capacidade de se
auto-regular. (SACRISTN, 1996, p. 71)
As caractersticas das reformas, apontadas anteriormente,
supem e confrmam em sntese uma relao entre mudana social/
modernizao (mudanas na sociedade); reforma do Estado (mudanas
na gesto pblica); reforma Educacional (mudanas no sistema educati-
vo); reforma da Escola (mudanas ou inovaes no contexto escolar);
reforma da profsso (mudanas pessoais e profssionais de professores
e/ou gestores), sendo que a reforma e a mudana so associadas qua-
lifcao ou qualidade e ao melhoramento.
REFORMA DO ENSINO SUPERIOR: O DISCURSO DA
QUALIDADE
No contexto das reformas educacionais implementadas a par-
tir da dcada de 1990, a formao universitria tornou-se o foco de
planos e diretrizes do modelo de polticas educacionais para os pases
em desenvolvimento, o que tem servido, sobretudo, de instrumento
para justifcar novas funes para as Instituies de Ensino Superior
(IES). Exemplo disso a LDB no. 9.394/96 que sugere como princpio
a ser incorporado reforma do ensino superior, a fexibilizao como
premissa para a qualidade da Educao Superior. Em decorrncia da re-
gulamentao de diretrizes para o ensino de graduao, vivenciamos a
implementao de uma reformulao curricular pautada nos princpios
da fexibilizao com vistas formao de profssionais cujo perfl seja
adequado s novas caractersticas do mundo produtivo e s demandas
do mercado em constante mudana.
Vale dizer que vivenciamos a manifestao da ressignifcao
dos processos formativos pela integrao entre polticas de reformas e
constante inovao dos planos curriculares, para se assegurarem as
condies necessrias formao de profssionais, segundo padres de
transformao do mundo produtivo atual. Noutros termos, uma for-
222
Antnio Bosco de Lima et al
mao que garanta o desenvolvimento de habilidade para o trabalho
prtico, a criatividade e a capacidade para tomar iniciativa. (UNESCO,
1998, p. 22) notrio que tal recomendao revela certa fragilidade ao
apelar para um pragmatismo cujas estratgias sugerem a precarizao, o
aligeiramento e a perda de consistncia da formao.
Nesse contexto, a formao universitria constitui foco privi-
legiado nas polticas de reformas educacionais para o ensino superior.
possvel supor, tambm que, o paradigma da fexibilizao ao ser
incorporado aos discursos e s prticas dos processos das reformas
educacionais em prol da qualidade, constitui-se em proposies da
poltica educacional para o Ensino Superior no Brasil. Da mesma forma,
ao incorporar as noes de fexibilizao e desenvolvimento de compe-
tncias, as reformas fazem destas, elementos nucleares, pois segundo a
tica ofcial, tais elementos devem predominar nas propostas curricula-
res como eixo condutor do novo paradigma da formao universitria.
(SILVA, 2006)
Como princpio orientador e eixo articulador das proposies
ofciais, a fexibilizao atinge o Ensino Superior como pressuposto para
se atingir um padro de qualidade a ser alcanado mediante o discurso
dos textos legais. Signifca a substituio dos antigos currculos mni-
mos aos quais o MEC atribui, dentre outras, a responsabilidade pelos
baixos percentuais de diplomados e pela evaso de alunos dos cursos de
graduao considerados rgidos e ultrapassados perante as mudanas
sociais e necessidades do mundo do trabalho.
Orientadas pelos padres e realidade do mercado, as reformas
buscam, portanto, a efcincia, a competitividade e o bom desempenho,
ou seja, a racionalidade adota a noo de fexibilidade e a apresenta
como sinnimo de inovao e, sobretudo, como liberdade e possibilida-
de tal como na linguagem da rea econmica. Nesse caso, fexibilizar
os currculos tendo em vista o desenvolvimento de competncias, ou
vice-versa, conforme a concepo pedaggica dominante, seria criar es-
tratgias para torn-los mais adequados s estruturas sociais emergentes
que se confguram no processo de globalizao caracterstico do con-
texto histrico atual. Nesse cenrio, tal tendncia cumpriria importante
papel quanto a criar condies para a incorporao dos pressupostos
223
Antnio Bosco de Lima et al
de uma pedagogia que permita fexibilizar os processos formativos e,
ao mesmo tempo, garantir aos gestores das reformas a manuteno do
controle sobre o produto da educao.
Se por um lado, as reformas se propem fexibilizao, suge-
rindo autonomia e liberdade, por outro, tem-se um rgido controle das
instituies e dos processos formativos. Como observa Dias Sobrinho
(2003, p. 98), a avaliao no contexto atual adquire papel preponderan-
te, pois funcionaliza as reformas e tem centralidade nas mudanas da
educao superior. Segundo esse autor, isso possvel porque
[...] os processos de reformas tm implcito um rgido, porm
sutil sistema de avaliao com procedimentos observveis e
verifcveis. A fexibilizao e a liberalizao dos meios, falsos
substitutos da autonomia, tm como contraponto e negao
um rgido controle dos produtos fnais, travestido em avalia-
o [...]. Porm, seus resultados precisam ser objetivamente
demonstrados e comparados, para efeito de medida de com-
petitividade. (DIAS SOBRINHO, 2003, p.105-106)
A conotao de avaliao associada ideia de fexibilizao se
apresenta sutilmente nas indicaes dos documentos do MEC e sugere
um currculo fexvel, estruturado por um modelo de ensino-apren-
dizagem por competncias como parmetro curricular orientador da
formao universitria; e tais competncias so entendidas como obje-
tivos comportamentais (operacionais), conforme expressam claramente
os textos ofciais. Os termos fexibilizao, competncia, habilidades,
entre outros, aparecem repetidamente ao longo dos documentos do
MEC sobre formao universitria e so vinculados a comportamentos
desejveis a serem alcanados.
No que se refere s polticas pblicas, resultantes dos arranjos
macroeconmicos decorrentes do processo de reestruturao produtiva,
podemos verifcar a existncia de um redimensionamento das polticas
de reformas educacionais, especialmente no mbito do Ensino Superior.
Por seu turno, no mbito da reforma do Estado que se pode, sob
muitos aspectos, situar as estratgias e aes ofciais da reforma da edu-
cao superior no pas (SGUISSARDI; SILVA JNIOR, 1999, p. 27), em
224
Antnio Bosco de Lima et al
especial, no que se refere ao papel social das instituies educacionais,
seu fnanciamento, sua gesto.
O padro de modernizao que orienta o atual papel do Estado
mantm, assim, estreita relao com as polticas de reformas sociais, o
que caracteriza as reformas que ora vivenciamos na Educao Superior
e se expressa em todos os setores da vida social, econmica e poltica
do pas, o que signifca dizer que a reestruturao da Educao Superior
tem-se pautado, portanto, pelo ajustamento das IES pblicas, a uma
perspectiva gerencialista, produtivista e mercantilizadora, e pelo alinha-
mento s diretrizes neoliberais impostas pelas agncias multilaterais, tal
como nos aponta Chau (2001); Leher (2003); Dias Sobrinho (2003).
Tal padro de modernizao determina o processo de redefnio da
identidade e papel das universidades; articula-se reforma do Estado e
ao processo de mudana de paradigma da administrao pblica, o que
constitui o n da questo do processo de reestruturao do ensino su-
perior, do que decorrem, as proposies quanto a qualidade articulada
ideia de fexibilidade.
Disso depreende-se que, de acordo com os princpios da reforma
do Estado, as polticas pblicas passam por um processo de privatiza-
o do espao pblico, e sofrem os impactos das teorias gerencialistas,
prprias das empresas capitalistas imersas na lgica do mercado, que se
encontram em plena expanso na perspectiva de orientar a reordenao
do espao pblico sob a mesma lgica do espao privado, estritamente
capitalista.
Da mesma forma, a educao deve nortear-se pelo princpio
da efcincia e produtividade, ou seja, expressar a tima relao en-
tre qualidade e custo dos servios colocados disposio do pblico.
(BRESSER PEREIRA, 1995 apud SGUISSARDI; SILVA JNIOR, 1999,
p. 31) Assim, tal padro acaba por reduzir a noo de qualidade e o
conceito de qualidade passa a signifcar aumento da quantidade de tra-
balhos publicados, pesquisas concludas, estudantes titulados, a relao
ingresso/sada, bem como a proporo alunos/docentes e tantas outras
informaes numricas e estatsticas (DIAS SOBRINHO, 2003, p.107),
fazendo com que a qualidade tenha sua expresso mais exata e clara na
quantifcao dos produtos fnais.
225
Antnio Bosco de Lima et al
Dias Sobrinho (2003) ressalta que a fnalidade do processo de
reforma do Ensino Superior fexibilizar os processos, a gesto, com
o propsito de aumentar a produtividade, e ampliar a liberdade para a
expanso privada. No intuito de concretizar essas propostas, as refor-
mas tm em seu discurso o apelo fexibilizao, que apresentada
como sinnimo de ampla liberdade. Da mesma forma, a autonomia
tambm fca reduzida liberdade sobre os processos administrativos
e fnanceiros, pois, segundo a lgica do mercado e a competitivida-
de incentivada pelos Estados, os processos tm de ser livres; tanto as
instituies educacionais, como as empresas comerciais, precisam de
liberdade para se estabelecer e aumentar sua efcincia e produtividade.
(DIAS SOBRINHO, 2003, p.105)
Diante disso, cabe s instituies cumprir aquilo que est valo-
rizado e determinado externamente a ela. Caber s IES submeterem-se
aos processos externos que comprovem os resultados, tais como exa-
mes e avaliaes, que funcionam como controle de qualidade, com base,
sobretudo em descries quantitativas de sua infra-estrutura e de seus
produtos. (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 20) Neste caso, pouco importa
os processos que produziram tais resultados, a relevncia social e as
difculdades, por exemplo. Fica evidente que o que mais importa so
os rendimentos de cada instituio e que esses possam ser comparados,
permitindo a sua classifcao hierarquizada, que tem como fm, ora
alimentar a competitividade entre si, ora instrumentalizar o exerccio
de controle do governo nas tarefas de fnanciamento e credenciamento.
Assim, as polticas ofciais, longe de traduzirem a construo
da qualidade segundo critrios acadmicos e de relevncia social, fazem
prevalecer os critrios mercadolgicos de qualidade: as comparaes,
as hierarquizaes e a competitividade, fazendo prevalec-los sobre os
critrios acadmicos. (DIAS SOBRINHO, 2002)
O Estado afasta-se da conduo dos processos e das condies
de criao e expanso das instituies (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 105)
denominando assim, esse processo de autonomia, e fazendo com que as
IES se tornem mais livres e fexveis para desenvolver [e oferecer] ser-
vios e atividades que absorvam mais ajustada e facilmente as demandas
do mercado. Nesse sentido, a fexibilizao concebida como libera-
226
Antnio Bosco de Lima et al
lizao dos processos, [e] corresponde a atual noo de autonomia, isto
, liberdade em relao aos meios para aumentarem sua efcincia e
produtividade, ou seja, os resultados. Observa-se, ento, que o valor da
efcincia tende a ser central na administrao pblica e ao Estado caber
o controle do produto fnal por meio de mecanismos de avaliao, de
tal modo que no podemos falar em autonomia, visto que esse conceito
no se efetiva mediante controle.
Nesse contexto, o Estado ao controlar os resultados, em de-
trimento dos processos, faz com que a qualidade tenha sua expresso
mais exata e clara na quantifcao dos produtos fnais, pois toma para
si a tarefa de acompanhar, controlar e avaliar os resultados produzidos
pelos servios prestados pelas IES, defnindo tambm os critrios e os
padres de qualidade a serem perseguidos. Acrescente-se ainda que se a
qualidade representada pela quantidade dos resultados obtidos, a ava-
liao tomada como controle desses produtos, j que esta concepo
de avaliao est associada ao paradigma da fexibilizao e noo de
efcincia, que so conceitos orientados pela lgica economicista (DIAS
SOBRINHO, 2003) que orientam as polticas de reformas.
Verifca-se, portanto que a avaliao defne a qualidade/ef-
cincia da educao, por meio de procedimentos que focam os dados
quantitativos. Esses procedimentos transformam a avaliao numa cor-
rida de contagem de pontos, a qual deve ainda organizar resultados
comparativos e classifcatrios que informem rpida e objetivamente
tanto a administrao superior, em funo de suas polticas de fscali-
zao e regulao, quanto o mercado, para efeito de orientao (DIAS
SOBRINHO, 2003, p.109) dos alunos-clientes. Ainda, de acordo com a
lgica derivada do mercado, a avaliao passa a ser o controle de qua-
lidade, entendendo a qualidade como algo que seja medido segundo
indicadores de produtividade e efcincia. (DIAS SOBRINHO, 2002)
Ao ser colocada no mbito produtivo a universidade tem novas
atribuies, entre outras, a funo de fomentar e legitimar as necessida-
des do mercado e, nesse aspecto, compete a ela formar profssionais e
gerar tecnologias e inovaes que sejam colocadas a servio da expanso
do capital. Segundo analisa Chau (2001), a universidade segundo a
tica capitalista, redefne seu padro de qualidade para atender s neces-
227
Antnio Bosco de Lima et al
sidades do mercado, das empresas e do mundo do trabalho em mutao;
subordinar seus cursos e sua produo acadmica formal s demandas e
necessidades imediatas desse mercado e do capital. (LEHER, 2003)
Em decorrncia disso, as universidades assumem, segundo
Chau (2001), o papel de treinar os indivduos a fm de que sejam
produtivos para quem for contrat-los. A universidade adestra mo-de-
-obra e fornece fora-de-trabalho (p. 52); as IES passam a ser dotadas
de carter econmico, abrindo mo da sua funo produtora de conhe-
cimento cientfco e tecnolgico, de seu carter ideolgico e poltico,
em nome do alinhamento s mudanas do setor produtivo. Todas essas
mudanas tm por fnalidade a adequao da educao superior eco-
nomia global, que fundamentada no paradigma da fexibilizao que
indica uma capacidade adaptativa a mudanas contnuas e inesperadas
do mercado. (CHAU, 2001)
Mostra disso so as reformulaes dos currculos de gradua-
o, decorrentes do parecer no. 776/97 e do edital no. 4/97, que so
fundamentadas nos conceitos de competncias e empregabilidade,
objetivando uma formao profssional fexvel e rpida. (SILVA, 2006)
Segundo Leher (2003), isso nos demonstra o claro alinhamento da
Educao Superior brasileira s diretrizes do Banco Mundial, pois, se-
gundo esse autor, a economia brasileira, no intuito de no contrariar as
expectativas das agncias multilaterais, no requer cursos de graduao
que primem pela produo de conhecimentos tecnolgicos e cientfcos
novos, mas de cursos onde o trabalhador possa adquirir uma quali-
fcao para atuar no mercado, sem precisar de um curso tradicional
(mais longo). (SCHWARTZMAN, 2002 apud LEHER, 2003, p. 92)
Tal como nos mostra Schwartzman (2002) em pesquisa a servio do
Banco Mundial, preciso criar bons escoles de nvel superior, e no
grandes centros de pesquisas para todos (p. 92), pois, os ditos centros
de pesquisas so anacrnicos, de elevado custo e inefcientes, j que
so incapazes de atender s exigncias de mercado, criando os futuros
desempregados. (CHAU, 2001, p. 54)
Por fm, cabe sintetizar que a reforma do Estado e, subjacente
a ela a reforma do Ensino Superior no Brasil, resulta da sintonia entre
polticas educacionais e organismos multilaterais que preconizam o
228
Antnio Bosco de Lima et al
mercado como portador de racionalidade econmica e, portanto, como
princpio fundador e autorregulador da sociedade. Assim, verifcamos
que o atual movimento da conjuntura poltico-econmica desempenha
papel determinante do padro de qualidade do Ensino Superior, em
especial, da universidade pblica brasileira.
Podemos ento reafrmar: o movimento de transformaes que
redefnem a identidade atual das universidades determina novas funes
para o Ensino Superior; em que a reformulao curricular e a formao
adquirem confgurao e signifcado pragmticos. Ao oferecer uma for-
mao aligeirada, superfcial e imediatista, como um ideal de identidade
a ser construdo pelo aluno e futuro profssional, as perspectivas que
se delineiam mostram, claramente, a opo pelo paradigma da fexibi-
lizao neoliberal, cujo iderio ganha centralidade nas proposies do
MEC; enfatiza-se uma concepo pedaggica centrada na fexibilizao
da formao; indica que o profssional deve ter perfl fexvel e apto a
responder s rpidas mudanas do setor produtivo e suprir suas necessi-
dades. Alm disso, sugere determinadas caractersticas pessoais e sociais
que permitem a adequao fexibilizao de organizao do mercado
de trabalho assim como aos seus padres e critrios de qualidade.
Enfm, cabe destacar que o movimento reformista educacional
no Brasil explicita seu verdadeiro signifcado nas relaes contraditrias
entre sociedade, instituies de ensino e Estado no contexto da reforma
do Estado. A reforma do Ensino Superior assume um signifcado his-
trico cuja manifestao se caracteriza e se materializa mediante aes
de rgos ofciais articuladas com orientaes de agncias multilaterais,
que assumem papel preponderante na implementao das polticas
reformistas; resulta da reconfgurao do Estado em vista de seu papel
no contexto de redefnio das estratgias de manuteno e expanso
do capitalismo vinculado ao projeto neoliberal de minimizao de seu
papel social.
229
Antnio Bosco de Lima et al
CONSIDERAES FINAIS: ARTICULANDO REFORMA E
QUALIDADE
Queremos registrar que as reformas se orientam pelo movi-
mento de transformaes globais no mundo do trabalho, o qual orienta
urgentes mudanas sociais globais, fundamentadas nos princpios neo-
liberais. Os processos de mudana educacional norteiam as polticas
educacionais em curso no cenrio mundial, sobretudo na Amrica
Latina, em um contexto de ressignifcao de paradigmas e de moderni-
zao das IES e da formao profssional.
possvel perceber que os paradigmas que orientam a reforma
educacional em geral, e do Ensino Superior em particular, ao pretender
transformar as IES em instituio fexvel geradora de maior competiti-
vidade e lucratividade, se justifca como poltica estratgica do MEC que
articula as reformas na educao s rpidas mudanas do mercado e do
setor produtivo. A fexibilizao do currculo constitui importante me-
diador na relao entre qualidade, formao e mercado. Justifcam-se,
assim, os processos de fexibilizao institucional e curricular coerentes
com o projeto de expanso e reconfgurao institucional de carter
mercadolgico, que a universidade ora vivencia.
Desta anlise, destacamos, como elementos de transformao,
em primeiro lugar que, a lgica da Educao no pode estar pautada na
equao custo-benefcio. Essa uma lgica empresarial, mercadolgica,
admissvel para o planejamento de mercadorias, no para a elaborao e
a transmisso do conhecimento, objetivo essencial da educao.
Em segundo lugar, que a educao carece de universalizao
e democratizao, ou seja, uma relao entre a forma quantitativa e a
qualidade. Incluir sim, mas garantir a permanncia, buscando a im-
plementao da qualidade social, cuja concepo est estreitamente
vinculada ao combate s desigualdades, s dominaes e s injustias de
qualquer tipo. (SILVA, 1996, p. 170)
Isso, no impossvel, pois temos exemplos mundiais de inves-
timentos que criaram sistemas nacionais de educao e que caminharam
na resoluo de seus problemas a partir de investimentos que elimina-
230
Antnio Bosco de Lima et al
ram o analfabetismo e impingiram um padro de qualidade-social para
os alunos. Precisamos superar a equao custo-benefcio, to em voga
no Brasil dos anos de 1990.
REFERNCIAS
BRASIL. Edital 4, de 4 de dezembro de 1997. Reforma Curricular dos Cursos
de Graduao. Braslia: SESU/MEC, 1997a.
BRASIL. Conselho Nacional de Educao. Parecer CNE/CES n. 776/97, de 3 de
dezembro de 1997. Braslia: Cmara de Educao Superior/CNE/MEC, 1997b.
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece Diretrizes e
Bases da Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 1996.
BRASIL. Ministrio da Administrao Federal e da Reforma do Estado. Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Aprovado pela Cmara da Reforma
do Estado em 21 de setembro de 1995. Braslia: Presidncia da Repblica,
1995.
BRASIL. Ministrio da Educao. Plano Decenal de Educao Para Todos. Bra-
slia: MEC, 1993.
CASTRO, M. H. G. de. O mrito do professor. Folha de So Paulo. So Paulo, p. 3,
15 out. 2008. [Sesso Opinio].
CHAUI, M. A universidade pblica sob nova perspectiva. Revista Brasileira de Edu-
cao. Campinas: Autores Associados, 2003.
CHAUI, M. Escritos sobre a universidade. So Paulo: Editora da Unesp, 2001.
DELORS, J. Os quatro pilares da educao. In: DELORS, J. Educao: um tesouro a
descobrir. Relatrio para a Unesco da Comisso Internacional sobre Educao
para o sculo XXI. So Paulo: Cortez; Braslia: MECUnesco, 2001.
DIAS SOBRINHO, J. Educao Superior: fexibilizao e regulao ou avaliao
e sentido pblico. In: DOURADO, L. F.; CATANI, A. M.; OLIVEIRA, J. F. (Org.).
Polticas e gesto da educao superior: transformaes recentes e debates atuais. So
Paulo: Xam, 2003, p. 97-135.
DIAS SOBRINHO, J. Quase-mercado, quase-educao, quase-qualidade. Raies -
Avaliao. Revista da Rede de Avaliao Institucional da Educao Superior. Campinas: 2002,
p. 933.
231
Antnio Bosco de Lima et al
FOGAA, A. Educao, trabalho e desenvolvimento tecnolgico no Brasil:
um breve retrospecto dos ltimos dez anos. Seminrio de Comemorao dos
50 anos do DIEESE. So Paulo. 2006. Mimeografado.
GENTILI, P. Neoliberalismo e educao: manual do usurio. In: SILVA, T. T. da;
GENTILI, P. Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do
neoliberalismo. Braslia: CNTE, 1996, p. 9-49.
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAO NACIONAL. Lei n. 9.394/96.
Curitiba: APP-Sindicato, 1997.
LEHER, R. Expanso privada do ensino superior e heteronomia cultural: um
difcil incio de sculo. In: DOURADO, L. F.; CATANI, A. M.; OLIVEIRA, J. F.
(Orgs.). Polticas e gesto da educao superior: transformaes recentes e debates
atuais. So Paulo: Xam; Goinia: Alternativa, 2003.
MARQUES, M. R. A. A Reforma educacional em Minas Gerais nos anos 80 e
90: a dialtica da (des)qualifcao. Revista Brasileira de Poltica e Administrao da
Educao. Porto Alegre: ANPAE, v. 17, n. 2, jul./dez. 2001. [Publicado em 2003]
MARQUES, M. R. A. Um fno tecido de muitos fos... mudana social e reforma edu-
cacional em Minas Gerais. 2000. Tese (Doutorado) - Universidade Metodista
de Piracicaba, Piracicaba-SP, 2000.
PEREIRA, L. C. B. e GRAU, N. C. (Org.). O pblico no-estatal na reforma do Estado. Rio
de Janeiro: FGV, 1999.
PIMENTA, C. C. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das gran-
des tendncias mundiais. Revista de Administrao Pblica, Rio de Janeiro, v. 32, n.
5, p. 173-199, set./out. 1998.
POPKEWITZ, T. S. Reforma, conhecimento pedaggico e administrao social
da individualidade: a educao escolar como efeito do poder. Trad. Ernani
Rosa. 2 ed. In: IBERNN, F. (Org.). A educao no sculo XXI os desafos do futuro
imediato. Porto Alegre: Artmed, 2000, p.141-169.
POPKEWITZ, T. S. A administrao da liberdade: a cultura redentora das cin-
cias educacionais. Trad. Luiz Ramires. In: WARDE, M. J. Novas polticas educacionais:
crticas e perspectivas. So Paulo: PUC, 1998, p. 147-172.
POPKEWITZ, T. S. Reforma educacional: uma poltica sociolgica - poder e conhe-
cimento em educao. Trad. Beatriz Afonso Neves. Porto Alegre: Artes Mdicas,
1997.
POPKEWITZ, T. S. Histria do currculo, regulao social e poder. Trad. Tomaz
Tadeu da Silva. In: SILVA, T. T. da. O sujeito da educao estudos foucaultianos. Petr-
polis: Vozes, 1994, p.173-210.
232
Antnio Bosco de Lima et al
SACRISTN, J. G. Reformas educacionais: utopia, retrica e prtica. In: SILVA,
T. T. da; GENTILI, P. Escola S. A.: quem ganha e quem perde no mercado educa-
cional do neoliberalismo. Braslia: CNTE, 1996, p. 50-74.
SGUISSARDI, V.; SILVA JNIOR, J. dos R. Novas faces da educao superior no Brasil:
reforma do Estado e mudana na produo. Bragana Paulista: EDUSF, 1999.
SILVA, S. M. Diretrizes Curriculares Nacionais e a formao de professores: fexibilizao e
autonomia. 2006. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
SILVA, T. T. da. O projeto educacional da nova direita e a retrica da qualidade
total. In: SILVA, T. T. da; GENTILI, P. Escola S. A.: quem ganha e quem perde no
mercado educacional do neoliberalismo. Braslia: CNTE, 1996.
SMITH, A. Artigo II. In: ____. A riqueza das naes: investigao sobre a sua natu-
reza e suas causas. Volume II. So Paulo: Abril Cultural, 1983.
UNESCO. Declarao Mundial sobre Educao Superior Declarao Mundial sobre Educao
Superior no sculo XXI: viso e ao. Paris: Unesco, 1998.
UNESCO. Educao para todos: alfabetizao; um desafo inadivel. Relatrio de
monitoramento global, 2006. Braslia: UNESCO, Ed. Moderna, 2006.
C
om relao ao mtodo, a mediao a categoria mais importan-
te tanto terica quanto prtica em nossa poca de transio
histrica. No pode haver surpresa nisso. Terica, porque
em vista da magnitude do desafo que temos de enfrentar,
nada pode ser conquistado com xito sem uma concepo intelectualmente
coerente e verdadeiramente abrangente da mediao. E, na prtica, porque
impensvel instituir na ordem social estabelecida as mudanas quali-
tativas exigidas sem adotar as formas apropriadas de mediao prtica que
podem fazer historicamente vivel no futuro nosso ineludvel modo de
reproduo sociometablica como seres mediados por si prprios da
natureza que devem assegurar at no mais longo prazo suas condies
de existncia numa interao plenamente adequada com a natureza. Tais
ASPECTOS
METODOLGICOS DE
MEDIAO EM UMA
POCA DE TRANSIO
Istvn Mszros
1
1 Istvn Mszros um dos mais importantes intelectuais da atualidade, realizando uma anlise sen-
svel, perspicaz e contundente acerca da sociabilidade humana sob a lgica do capital. O texto aqui
reproduzido refere-se a uma parte do seu livro Estrutura Social e Formas de Conscincia: a determinao social do
mtodo, publicado pela Boitempo Editorial no ano de 2009. Nossos sinceros agradecimentos ao Prof.
Istvn Mszros, Ivana Jinkings e ao Prof. Ricardo Antunes, coordenador da Coleo Mundo do Trabalho da
Boitempo Editorial, que gentilmente concordaram com esta publicao. Esperamos com ela aguar o
desejo dos leitores em conhecer esta instigante obra de Mszros.
234
Istvn Mszros
mudanas qualitativas so necessrias em absoluto porque a destruti-
vidade crescente de seus antagonismos consolidados e defnitivamente
explosivos torna insustentvel ao extremo a ordem existente de repro-
duo social, sob o domnio do capital.
No discurso terico e poltico adequado perspectiva privile-
giada do capital na fase descendente de desenvolvimento do sistema, a
questo da mediao , via de regra, trivializada. Tende a ser reduzida
a um ncleo apologtico do conceito, apenas referente s exigncias
manipuladoras para assegurar a perpetuao das relaes estabelecidas.
por isso que a questo vital da mediao defnida como equilbrio das
foras identifcadas no confito real ou potencial, no interesse de uma
acomodao reconciliadora projetada; e assim considerada marginal em seu
campo de ao, o que deixa intocadas as determinaes estruturais da
ordem estabelecida. Nesse tipo de concepo, permanece oculto o fato
de que a racionalidade pretendida com o equilbrio e a iluminada
acomodao interessada em si prpria se molda realidade tosca da
relao de foras preestabelecida e necessariamente reimposta numa base
contnua da ordem hierrquica de dominao e subordinao consoli-
dada. Consequentemente, o equilbrio consensual uma farsa qual,
sob o domnio do capital, no pode haver alternativa alguma, como por
vezes se reconhece de maneira explcita.
Em contraste apologtica estrutural de equilbrio e aco-
modao, a questo da mediao real em nossa poca histrica de
transio s pode ser defnida de modo signifcativo como a reestruturao
radical da ordem estabelecida como tal, dirigida superao de seus an-
tagonismos estruturais e da destrutividade que deles emerge. Isso s
vivel se o sujeito histrico conclamado a instituir tal transformao estiver
de fato no controle do processo vislumbrado de reestruturao radical,
na qualidade de um sujeito mediado e controlado por si prprio, ao invs
de se submeter s determinaes fetichistas estruturais e aos interesses
concebidos a partir da perspectiva privilegiada do sistema do capital.
Isso abrange todas as regras postuladas e, por defnio, insuperveis do
Estado capitalista dentro de cujos limites se deve alcanar, de modo fc-
tcio, todo o equilbrio e acomodao iluminada, custa do trabalho
como o nico sujeito histrico alternativo vivel, sem nenhum pudor.
235
Istvn Mszros
Todas as concepes justifcadoras do Estado capitalista, at
mesmo suas variedades mais progressistas, caso dos ideais polticos do
liberalismo inaugural, tm que postular um sujeito ativo defnido de
maneira nebulosa (se que de fato o defne) no pice do Estado. s
vezes o fazem at admitindo abertamente, tal como vimos nas palavras
de Hegel
2
, que o monarca no pice do Estado idealizado no tem muito
o que fazer ou decidir por si mesmo. Todos precisam de um sujeito de
comando nebulosamente defnido para impor s partes em disputa, por
meio do Estado concebido dessa maneira por defnio e numa forma
eternizada , uma autoridade em separado, excluindo desse modo a possibili-
dade de a fora subordinada existente de fato conquistar o controle do
processo histrico em marcha. E isso ocorre em um sentido paradoxal
ainda pior, pois as personifcaes do capital de boa vontade no poderiam
de forma alguma aspirar o controle do processo social e histrico geral.
por esse motivo que at os grandes pensadores que conceituaram o
mundo a partir da perspectiva privilegiada do capital devem recorrer a
esquemas explicativos quase mticos, como a mo invisvel de Adam
Smith e a astcia da razo de Hegel.
No entanto, uma vez que se adota esse tipo de estratgia, o
conceito de mediao em si torna-se ipso facto esvaziado de seu contedo, na
medida em que a autoridade estabelecida de maneira misteriosa anula
a possibilidade da mediao signifcativa ao apropriar-se, por defnio,
do poder de tomada de deciso, mesmo se nas palavras reveladoras de Hegel
a admisso da autoridade visvel, como seu monarca, no decida abso-
lutamente nada. Assim, no interior de tal estrutura de tomada de deciso
pr-julgada e unidimensional ao extremo, o processo de mediao
independentemente do quanto possa ser idealizado como equilbrio
iluminado pode apenas ser um ritual vazio da pretensa acomoda-
o consensual, imposta pelas determinaes materiais prevalentes
e brutalmente hierrquicas do capital e pela conveniente fora das
circunstncias correspondente. De maneira signifcativa, quando atin-
gimos o sistema parlamentar plenamente articulado, em sua variedade
2 Como Hegel insistiu, nas leis e na organizao defnida do Estado, a deciso nica do monarca foi
abandonada, dando-se pouca ateno ao substancial. Deve-se considerar uma grande felicidade quando
um povo tem um nobre monarca no poder. Tambm isso pouco se deve a um grande Estado, pois esse
Estado tem a sua fora na razo do monarca.. (HEGEL, Filosofa da Histria, cit., p. 372)
236
Istvn Mszros
dos dias atuais, o equilbrio e acordo consensual fca, desde o princ-
pio, garantido com cinismo e hipocrisia mais ou menos evidentes, graas
ao conformista mecanismo de tomada de deciso poltica, reverenciado
ritualisticamente em nome de democracia e liberdade, os quais, na
realidade, correspondem a nada mais que o sistema unipartidrio com
duas alas direita, na pertinente caracterizao de Gore Vidal
3
.
Naturalmente, nas imagens tericas descritas e racionalizadas
ideologicamente a partir da perspectiva privilegiada do prprio sistema
do capital, a ordem social correspondente no existe sem seu sistema
objetivo de mediaes, ainda que a natureza real da modalidade prevalente
de mediao seja transformada de maneira mistifcadora e deve assim
ser transformada. Na verdade nenhuma formao social jamais teve um
sistema de mediaes to invasivo como a ordem socioeconmica e po-
ltica do capital, com sua tendncia geral de impor suas determinaes
materiais e seus corolrios culturais/ideolgicos por todo o planeta. De
fato, em um sentido muito importante, a constituio da ordem social
do capital idntica emergncia e consolidao de seu sistema nico
de mediaes objetivas inescapveis.
Entretanto, o problema inextricvel que elas no so apenas
mediaes de primeira ordem sem as quais os seres humanos, en-
quanto seres mediados por si prprios da natureza, no poderiam sequer assegurar
suas condies de existncia em uma interao necessria e plenamente
adequada com a natureza, mesmo na mais avanada forma de socieda-
de, como mencionado antes. Trata-se de mediaes de segunda ordem,
antagnicas, que devem ser cruelmente impostas sobre a sociedade no
interesse da acumulao do capital e a servio da reproduo constante-
mente expandida do sistema do capital, incluindo a destruio potencial
da prpria humanidade. Assim, a tendncia universalizante do capital no
poderia ser mais perigosamente contraditria em si mesma em vista dessa
parcialidade antagnica em defnitivo insustentvel ou seja, totalmente
orientada a si prpria e, sob todas as circunstncias histricas concebveis,
3 Para uma discusso detalhada desse problema, ver A crise estrutural da poltica, no captulo 10 de
meu livro O desafo e o fardo do tempo histrico. So Paulo: Boitempo, 2007, p. 347-64. Ver tambm Alternativa
ao parlamentarismo: a unifcao das esferas de reproduo material e da poltica (p. 276-92), captulo
9 do mesmo livro.
237
Istvn Mszros
nada alm de brutalmente autoafrmativa. Ao mesmo tempo, para ser
capaz de eternizar a ordem socioeconmica e poltica prevalente como
o sistema natural da liberdade e justia completas (Adam Smith), ou
mesmo como o absoluto fm da histria (Hegel), j mencionado a
natureza incuravelmente antagnica das mediaes de segunda ordem do
sistema do capital deve ser transformada de maneira mistifcadora pelos
pensadores que adotam o ponto de vista do capital em algo no apenas
sustentvel por um perodo curto ou longo de tempo, mas no ideal insu-
pervel, em plena sintonia com as exigncias mais profundas da prpria
razo.
J em um estgio relativamente precoce do desenvolvimento da
teoria burguesa, um dos modos mais reveladores de tentar superar as
defcincias das mediaes antagnicas de segunda ordem era a franca
separao da sociedade civil do Estado poltico. Essa separao era vislum-
brada como uma maneira de encontrar solues para os antagonismos
materiais dos indivduos na dita sociedade civil por meio das postuladas
funes reconciliadoras abrangentes do Estado. Contudo, a soluo te-
rica vislumbrada de simplesmente presumir a relao reclamada entre a
sociedade civil dilacerada por seus antagonismos e o Estado pol-
tico (que se supunha super-las, ou ao menos mant-las em indefnido
equilbrio) era problemtica ao extremo, para falar de modo brando. A
concepo hegeliana ocupa um lugar privilegiado nesse aspecto.
A principal defcincia da abordagem de Hegel era o papel que
atribua mediao em sua teoria da relao entre o Estado e a socieda-
de civil. Ele percebeu que se o Estado deveria cumprir a funo vital de
totalizao e reconciliao a ele incumbido em seu sistema, deveria ser
constitudo como uma entidade orgnica. Nesse esprito, Hegel afrma-
va que:
um assunto dos mais importantes para o Estado que uma
classe mdia deva ser desenvolvida, mas isto somente pode ser
feito se o Estado for uma unidade orgnica, ou seja, s pode
ser feito ao dar-se autoridade s esferas de interesses particulares, as quais
so relativamente independentes e ao apontar um exrcito de
funcionrios cuja arbitrariedade pessoal rompida contra tais
corpos autorizados.
238
Istvn Mszros
O problema, no entanto, que o quadro oferecido aqui nada
mais que uma transubstanciao especulativa/idealizada da formao
poltica do Estado em sociedade civil dividida. Uma sociedade que
continua a manter todas as divises e contradies existentes enquanto
oculta, em termos especulativos, sua destrutividade defnitiva. Como
posto por Marx em seus comentrios anexos passagem recm-citada
de Hegel: Certamente, apenas em uma tal organizao o povo pode
aparecer como um estamento, o estamento mdio; mas uma organizao
aquilo que se mantm em funcionamento mediante o equilbrio dos
privilgios?
4
Assim, a soluo vislumbrada mesmo autocontraditria (de-
fnindo organicidade em termos de um contrapeso perigosamente
instvel de hostis foras centrfugas), sem mencionar seu carter fctcio
que predica um remdio permanente base de uma confitualidade sempre
crescente. Na realidade, o Estado poltico moderno no foi constitudo
de modo algum como uma unidade orgnica mas, pelo contrrio, foi
imposto sobre as classes subordinadas s relaes de poder j materialmente
prevalentes da sociedade civil, no preponderante interesse do capital
(e no na cuidadosa manuteno do equilbrio). Dessa forma, a ideia
hegeliana de mediao poderia apenas ser uma falsa mediao, motivada
pelas necessidades ideolgicas de reconciliao, legitimao e ra-
cionalizao. Como observado por Marx sobre o carter apologtico da
circularidade hegeliana da mediao prevalente de maneira especulativa
em sua sociedade civil e no Estado:
No momento em que os estamentos sociais so, como tais,
estamentos polticos, no necessria aquela mediao, e, no
momento em que a mediao necessria, o estamento social
no poltico, e tampouco o , portanto, aquela mediao.
[...] Eis aqui, portanto, uma inconsequncia de Hegel no in-
terior de seu prprio modo de ver, e uma tal inconsequncia acomodao.
5
4 MARX, K. Crtica da flosofa do direito de Hegel. Trad. Rubens Enderle e Leonardo de Deus. So Paulo: Boi-
tempo, 2005, p. 72.
5 MARX, 2005, p. 111-2.
239
Istvn Mszros
Portanto, o conceito hegeliano de mediao revela-se uma
reconstruo especulativa sofsticada do dualismo conciliador anistori-
camente assumido entre sociedade civil e o Estado, de modo algum
uma mediao real. Como Marx coloca:
Hegel concebe, em geral, o silogismo como termo mdio,
como um mixtum compositum. Pode-se dizer que, em seu de-
senvolvimento do silogismo racional, toda a transcendncia
e o mstico dualismo de seu sistema tornam-se evidentes. O
termo mdio o ferro de madeira, a oposio dissimulada
entre universalidade e singularidade.
6
E, ao falar a respeito do papel designado por Hegel relao
entre o monarca e os Estados da sociedade civil, Marx sublinha o carter
fctcio ao extremo e tambm autocontraditrio da mediao postulada:
o poder governamental justamente o termo mdio entre ele e a socie-
dade estamental, e esta o termo mdio entre ele e a sociedade civil!
Como deveria ele mediar aqueles de quem ele tem necessidade, como
seu termo mdio, para no ser um extremo unilateral? Aqui se evidencia
todo o absurdo desses extremos, que desempenham alternadamente ora
o papel de extremos, ora o de termo mdio.
[...] uma complementao recproca. [...] Tal como o leo no Sonho
de uma noite de vero, que exclama: Eu sou um leo e no sou
um leo, eu sou Marmelo. Assim, cada extremo , aqui, ora
o leo da oposio, ora o Marmelo da mediao. [...] no-
tvel que Hegel, que reduz esse absurdo da mediao sua
expresso abstrata, lgica, por isso no falseada, intransigvel,
o designe, ao mesmo tempo, como o mistrio especulativo da
lgica, como a relao racional, como o silogismo racional.
Extremos reais no podem ser mediados um pelo outro, precisamente
porque so extremos reais. Mas eles no precisam, tambm,
de qualquer mediao, pois eles so seres opostos. No tm
nada em comum entre si, no demandam um ao outro, no
se completam.
7
6 MARX, K. Crtica da flosofa do direito de Hegel. Trad. Rubens Enderle e Leonardo de Deus. So Paulo: Boi-
tempo Editorial, 2005, p. 101.
7 MARX, 2005, p. 104-5.
240
Istvn Mszros
Conceber a mediao como um instrumento serviente a si pr-
prio de uma sociedade de mtua reconciliao distorce de modo irremedivel
porm revelador o estado efetivo de coisas, pois no h mutuali-
dade alguma na relao efetiva de poder, estruturalmente estabelecida
e reforada, estritamente hierrquica que deve manter-se permanente
na ordem socioeconmica e poltica do capital enquanto tal ordem
antagnica puder sobreviver baseada na subordinao e explorao
materialmente estabelecida do trabalho. Ademais, a dimenso poltica
dessa ordem no uma entidade separada da efetividade racional, con-
vertida de maneira conveniente em algo fctcio, mas uma parte integrante
do sistema em sua totalidade, com sua modalidade irracionalista post festum
incontrolvel em defnitivo de reproduo sociometablica. Representa
a estrutura global de comando de um sistema profundamente integrado
por meio do qual o Estado capitalista pode prover a garantia defnitiva para a
perpetuao das relaes de poder antagnicas materialmente bem esta-
belecidas de dominao e subordinao, com o capital e no a imaginria
soberania mediadora como seu pice. Dessa maneira, o Estado capitalista,
emaranhado de maneira inextricvel com sua base material antagnica,
pode regular sob circunstncias normais o intercmbio poltico global
de seus vrios componentes de classe e reforar politicamente as deter-
minaes primrias do sistema (incluindo suas propriedades materiais
legalmente codifcadas), se necessrio, at mesmo com os meios mais
violentos em aberto contraste com o nebuloso postulado especulativo
da racionalidade insupervel e universalmente benevolente no caso de
qualquer crise maior.
precisamente essa relao de dominao e subordinao es-
truturais que deve ser transformada de modo mistifcador e, em termos
especulativos, transubstanciada, em um arranjo ideal de efetividade ra-
cional, que se pretende correta e verdadeiramente mediada mesmo
na maior de todas as concepes tericas burguesas, como encontramos
em Hegel. Isso para que a efetividade das mediaes antagnicas do sistema
do capital cujas refexes categoriais vimos nas pginas da ltima se-
o possa reaparecer organicamente inter-relacionada e perfeitamente
mediada, como tambm plenamente equilibrada, at mesmo em seus
mais confitivos detalhes, eliminando, assim, no constructo terico os
241
Istvn Mszros
sinais das aprofundadas defcincias e contradies estruturais da ordem
socioeconmica e poltica defnitivamente explosivas, no interesse de
impor sua racionalidade eternizvel e permanncia material como o sis-
tema insupervel de liberdade e justia completas. Por conseguinte, o
que deve desaparecer sem deixar rastros por meio de tal transformao
terica mistifcadora e pseudomediao especulativa autocontraditria
o fato esclarecedor de que extremos reais no podem ser mediados um pelo
outro, precisamente porque so extremos reais.
O antagonismo objetivo estrutural entre o capital e o trabalho,
como alternativas sistmicas recprocas, o exemplo mais bvio e ur-
gente daquele fato esclarecedor. No pode haver mediao reconciliadora
entre capital e trabalho, j que eles constituem, de uma maneira muito
instvel e apenas por um perodo histrico determinado , verdadeiros
extremos combinados. O capital uma fora material fetichista que s
pode dominar o trabalho impondo de maneira implacvel com todos
os meios a seu dispor, incluindo seu aparato estatal os imperativos
objetivos de seu impulso expansivo. Se falhar nisso, o sistema do capital
implode. Assim, as questes humanas racionalmente reguladoras e os
valores correspondentes devem ser excludos a priori dos clculos expan-
sivos do capital, eliminando, dessa forma, a possibilidade de qualquer
concesso mediadora ao trabalho de compartilhar o papel de controle, que
o que de maneira grotesca se afrma em toda mitologia mediadora.
Ao mesmo tempo, no polo oposto do agora antagonicamente mediado
e materialmente imposto e em consequncia insustentvel a longo
prazo metabolismo social, o trabalho como alternativa histrica
cega reproduo social expansiva do capital no pode sequer comear
a instituir seu modo qualitativamente diverso de gerenciamento da
relao racional exigida com a natureza e dos indivduos entre si. Ao
tentar faz-lo ou seja, ao tentar incorporar, em nome da mediao
e acomodao reconciliadoras estabelecidas, a irracionalidade fetichista
do capital no modo de reproduo sociometablica conscientemente
planejado do trabalho, orientado por previdncia abrangente poderia
ser apenas outra verso do absurdo deplorado por Marx em relao a
Hegel.
242
Istvn Mszros
Nunca ser exagero frisar que extremos reais no podem ser
mediados precisamente porque so extremos reais. Por esse motivo a
nica soluo vivel a mudana estrutural radical da ordem estabelecida,
em termos de suas determinaes objetivas mais profundas, guiadas
pelo objetivo generalizado de instituir um modo historicamente vivel
de reproduo sociometablica. O signifcado disso a necessidade de
instituir um modo qualitativamente diverso de reproduo social, ca-
racterizado pela mediao no antagnica entre humanidade e natureza
e entre os indivduos sociais livremente cooperativos. E isso pode ser
alcanado apenas pela superao irreversvel das mediaes de segunda ordem
cada vez mais destrutivas do capital, e no por uma ilusria funilaria
reconciliadora com os componentes da ordem dominante da qual vi-
mos incontveis tentativas frustradas no passado, independentemente
de quo marcantes possam ter sido os pensadores que em seu tempo a
defenderam, como Hegel.
A incompatibilidade estrutural entre a nova forma histrica
do trabalho e a ordem estabelecida do capital uma incompatibilida-
de que necessariamente exclui a possibilidade de mediar e combinar
os dois em termos orgnicos apresenta um desafo fundamental em
todos os campos, das relaes materiais mais elementares e diretas aos
intercmbios polticos e culturais mais mediados e abrangentes do cor-
po social. Isso signifca que deve ser encontrado um caminho a partir da
determinao cega do sistema regulador do capital no qual at mesmo
as personifcaes do capital podem apenas obedecer aos imperativos
materiais objetivos de seu modo de reproduo expandido, ainda que
tal determinao estrutural inconsciente seja idealizada por elas mesmas
como a fora motriz superior da mo invisvel e o princpio ordena-
dor defnitivo do prprio universo descrito como a astcia da razo
em direo a uma modalidade futura de racionalidade reprodutiva
abrangente.
Assim, o signifcado da mediao necessria em nossa poca de
transio no mistrio algum, em contraste com a nebulosa transubs-
tanciao especulativa das ordens materiais estruturalmente reforadas
do capital (levando, na realidade, a uma tosca prevalncia de mediaes
antagnicas) em um equilbrio consensual e uma acomodao ne-
243
Istvn Mszros
cessariamente interessada em si mesma. Em outras palavras, em uma
poca de transio s se pode conceber a mediao como a elaborao
coerente e a instituio prtica dos princpios operativos do intercmbio
social, mediante os quais a alternativa hegemnica do trabalho ordem
antagnica do capital ou seja, a alternativa hegemnica denominada
de a nova forma histrica, com sua racionalidade abrangente emergindo
das determinaes conscientes de seus membros individuais pode
sustentar-se como um modo vivel de controle sociometablico.
A nica mediao vivel e sustentvel de forma indefnida entre
a humanidade e a natureza, assim como dos indivduos sociais entre si,
como a caracterstica defnidora da nova forma histrica, inconcebvel
sem um sujeito social ativo que possa intervir autonomamente no processo
social em curso. Nesse sentido, a mediao em questo pode adquirir
seu signifcado apropriado apenas enquanto mediao dos indivduos
sociais por si prprios, os quais exercem seu controle genuno sobre o
processo de reproduo social como sujeitos reais livremente associados de sua
ao planejada de modo abrangente, junto aos detalhes prticos de sua imple-
mentao. Isso quer dizer, os conceitos de controle e mediao de si prprios,
alm da autonomia genuna dos reais sujeitos histricos agindo conscientemente,
devem marchar todos juntos se quisermos conferir um sentido tangvel
e vivel ideia de mediao, no lugar dos postulados especulativos que
vimos antes, adequados apenas para ofuscar e idealizar as relaes de
poder hierarquicamente reforadas da mediao antagnica que do-
minam a ordem agora estabelecida. O que est e deve estar ausente
da ordem social do capital precisamente esse conjunto de exigncias
intimamente entrelaadas de ao afrmadora de si mesma de forma
consciente, representando o controle reprodutivo genuno exercido
pelos sujeitos sociais racionalmente mediados por si prprios de forma
consciente. por isso que no pode haver dvida em se encontrar uma
soluo para os problemas urgentes de nossa crise sistmica por meio de
uma mediao reconciliadora do modo estabelecido de reproduo
sociometablica com a nova forma histrica.
A destrutividade crescente da ordem existente inseparvel da
quantifcao fetichista do capital: a nica modalidade concebvel das prti-
cas reprodutivas do sistema do capital. Contudo, impensvel mudar
244
Istvn Mszros
para uma modalidade qualitativamente orientada de reproduo social, para
superar as contradies da produo cada vez mais destrutiva do capital,
sem determinar os alvos e as formas de atividade produtiva com base
nas necessidades reais conscientemente analisadas e legitimadas dos sujeitos
humanos produtivos e ativos. Um modo de operao qualitativamente
orientado vivel apenas em termos de uma contabilidade genuinamente socia-
lista tornada possvel por meio da alocao autodeterminada de seu tempo
disponvel pelos produtores livremente associados, em contraste com os
apetites artifciais perdulrios e que devem ser impostos sobre a socie-
dade como um todo e sobre os indivduos particulares. Isso porque tais
apetites emergem, mais ou menos de maneira automtica, dos impera-
tivos reifcados expansivos do sistema, em conjunto com a explorao
anacrnica mas rentvel do necessrio tempo de trabalho, quaisquer que
possam ser as consequncias humanas e ecolgicas.
O problema insupervel para a ordem estabelecida que ape-
nas um sujeito humano real, com suas necessidades genunas e valores
correspondentes, pode oferecer uma alternativa historicamente vivel
ao modo fetichista e destrutivo do capital de regulao do processo
de reproduo social. Entretanto, o capital como fora de comando do
intercmbio reprodutivo no pode qualifcar-se para coisa alguma seno
para ser um sujeito usurpador, no importando o quanto domine o processo
sociometablico por meio de seus imperativos estruturais prevalentes
de maneira objetiva. inevitavelmente parasitrio ao trabalho, o qual e
deve sempre seguir sendo o sujeito produtivo real.
Naturalmente, esta no uma relao simtrica, j que o prprio
trabalho no de modo algum dependente do capital para sua prpria
existncia, mesmo que sob determinadas circunstncias histricas este
possa parecer o caso, como afrmado de maneira veemente (porm falsa)
pelos idelogos do sistema do capital. Da mesma forma, a falsa cons-
cincia inevitvel do prprio capital, com todas as suas consequncias
negativas potenciais e reais, erigida sobre a fundao da expropriao
para si do papel do sujeito histrico o qual capaz de desempenhar
apenas em um sentido muito restrito, no interior da constrangedora
camisa de fora do fetichismo da mercadoria. Portanto sua viso estra-
tgica, referindo-se ao que possa ou no ser sustentvel no futuro, est
245
Istvn Mszros
necessariamente confnada ao que pode ser ditado pelos interesses e im-
perativos expansionistas da sociedade mercantil. E enquanto esse mais
profundo tipo de determinao estrutural for totalmente compatvel
com um grande dinamismo produtivo (e reprodutivo) por um longo
perodo histrico, tambm carrega consigo o perigo de consequncias
catastrfcas todas as vezes que as condies objetivas do desenvolvi-
mento histrico exigem a reavaliao consciente e radical do caminho a ser
seguido. Em especial quando nada menos que a prpria sobrevivncia
da humanidade est em jogo.
Assim a incompatibilidade radical da nova forma histrica com
as mediaes antagnicas do sistema do capital torna bastante claro que
estamos preocupados com duas concepes histricas qualitativamente
diversas. A objetividade fetichista da perspectiva privilegiada do capi-
tal impede a possibilidade de se compreender os mecanismos de um
movimento histrico real, ilimitado, porque a efetividade alienada da
hierarquia estrutural de dominao e subordinao estabelecida, custa
do trabalho como o real sujeito produtivo, no pode ser desafada a par-
tir da perspectiva privilegiada do capital. Por conseguinte, nas imagens
tericas que descrevem o mundo a partir da perspectiva privilegiada do
capital, o sistema histrico estabelecido de alienao deve ser transfor-
mado em uma condio permanente da prpria existncia humana. Nas
racionalizaes ideolgicas isso alcanado como regra por meio da fal-
sa identifcao da objetividade em geral com a especifcidade histrica da alienao
capitalista. E, obviamente, isso solidifca, ao mesmo tempo, as mediaes
antagnicas do capital como sendo ontologicamente insuperveis, anulando
desse modo a possibilidade de instituir uma ordem alternativa histori-
camente vivel de mediaes emancipatrias no antagnicas.
Podemos ver um claro exemplo dessa abordagem na mistifca-
dora caracterizao de [Martin] Heidegger sobre a concepo marxiana
de histria, apresentando-a como o que parece ser uma rplica positiva
e uma aprovao incondicional. Na verdade, o elogio ambguo de
Heidegger despoja totalmente a viso de Marx de sua substncia crtica.
assim que Heidegger descreve a importncia de Marx: Porque Marx,
atravs de sua experincia da alienao do homem moderno, est ciente de uma
dimenso fundamental da histria, a perspectiva marxista da histria superior
246
Istvn Mszros
a todas as outras.
8
Naturalmente, Marx no experimentou a alienao
como alienao do homem moderno, mas a alienao do homem sob
o domnio do capital. Tampouco ele enxergou a alienao como uma
dimenso fundamental da histria, mas como uma questo vital de
uma fase dada da histria. Pois ao identifcar a alienao do trabalho de
uma determinada e supervel fase do desenvolvimento histrico, que por
acaso afrma-se por tanto tempo quanto o domnio do capital possa
prevalecer, o fundador do socialismo cientfco situa a nfase na necessi-
dade de retomar o controle sobre o processo histrico, insistindo ao mesmo
tempo que isso deve e pode ser feito por meio da restituio do poder de
controle ao real sujeito histrico, o trabalho. isso o que se faz desaparecer
mediante a identifcao heideggeriana da especifcidade histrica capi-
talista (da qual somente a vaga palavra utilizada, moderno, permanece
em seu esquema de coisas) com a alienao como uma dimenso fun-
damental da histria, concebida como uma objetividade reifcada e
ontologicamente infada.
Na mesma vertente de Heidegger, tambm a concepo de Jean
Hyppolite sobre a especifcidade histrica da alienao transformada
de forma mistifcadora em um absoluto ontolgico, decretado como
inseparvel da prpria existncia humana e da autoconscincia como
tal. Ele escreve com referncia direta crtica de Marx identifcao
hegeliana entre alienao e objetivao que:
[Hegel] no confundiu a alienao do esprito humano na
histria com a objetivao sem qualquer razo vlida. [...] O
fato de que o homem, ao objetifcar-se na cultura, no Estado,
no trabalho humano em geral, ao mesmo tempo aliena-se a
si mesmo, faz dele mesmo outro e descobre nessa objetivao
uma alteridade insupervel, esta uma tenso inseparvel da prpria exis-
tncia [...] e da autoconscincia humana.
9
Dessa maneira, tanto em Heidegger como em Hyppolite, o ca-
minho est bloqueado para qualquer tentativa que possa ser vislumbrada
como um engajamento numa interveno emancipatria no processo
8 HEIDEGGER, Martin apud FETSCHER, Iring. Marxismusstudien, Soviet Survey, n. 33, jul/set. 1960,
p. 88.
9 HYPPOLITE, Jean. tudes sur Marx et Hegel. Paris: Librairie Marcel Rivire & Cie., 1955.
247
Istvn Mszros
histrico em andamento. Diz-se que esse processo controlado pela
alienao do homem moderno como a dimenso fundamental da
prpria histria. A existncia postulada de maneira arbitrria como
um absoluto ontolgico inaltervel, e suas manifestaes alienadas/alie-
nantes podem, portanto, ser absolvidas, de toda culpa possvel como as
determinaes objetivadas, mas insuperveis de uma eternamente
solidifcada histria. As mediaes antagnicas do sistema estabelecido
de alienaes (supostamente ontolgicas) deve, da mesma maneira,
prevalecer para sempre. Por conseguinte, no pode haver dvida a res-
peito de uma ordem de mediaes no antagnicas como alternativa
histrica vivel. Em outras palavras, as mediaes de segunda ordem
alienadas e reifcadas do capital devem ser aceitas de modo eterno como
a dimenso fundamental da histria absolutamente insupervel no
interior da qual a existncia humana como tal deve ser encerrada at
o fm dos tempos. Apesar de sua pretensiosa apresentao profunda-
mente existencialista, nada poderia martelar de maneira mais grosseira
a brutal afrmao de que no h alternativa do que sua identidade
reivindicada a tal dimenso fundamental da histria especulativa e
apologeticamente postulada.
Entretanto, se no for traada uma evidente linha de demarcao
entre alienao e objetivao sem negar de maneira romntica que a
alienao constitui uma forma de objetivao, identifcando claramente
a especifcidade social e histrica de seu carter , a questo de restituir
o poder de tomada de deciso ao real sujeito produtor, e dessa forma
vislumbrar o controle consciente do processo histrico, no pode ser sequer
levantada, muito menos transformada em realidade. Pois traar uma li-
nha de demarcao no apenas uma ideia entre muitas, mas uma ideia
absolutamente fundamental.
Isso foi bem ilustrado pelo relato de Lukcs, em 1967, sobre o
tremendo efeito liberador exercido em seu desenvolvimento intelectual
quando teve a oportunidade de ler, em 1930, ainda em forma de manus-
crito, os Manuscritos econmico-flosfcos de 1844 de Marx, recm-traduzidos
na poca, nos quais surgiu pela primeira vez a ideia de que:
248
Istvn Mszros
[...] ainda consigo me lembrar do efeito transformador que
produziu em mim as palavras de Marx sobre a objetifcao
como propriedade material primria de todas as coisas e
relaes. [...] objetifcao um tipo natural positivo ou
negativo, conforme o caso do domnio humano sobre o
mundo, ao passo que a alienao representa uma variante es-
pecial que se realiza sob determinadas circunstncias sociais.
Com isso, desmoronavam defnitivamente os fundamentos
tericos daquilo que fzera a particularidade de Histria e cons-
cincia de classe. O livro se tornou inteiramente alheio a mim,
do mesmo modo que meus escritos de 1918-1919. Isso fcou
claro de uma s vez: se quero realizar o que tenho teorica-
mente em mente, ento tenho de recomear tudo desde o
princpio.
10
Esse relato ainda mais importante porque muitos intelectuais,
incluindo Merleau-Ponty
11
, trataram de usar o autor de Histria e conscin-
cia de classe em uma tentativa de desqualifcar a concepo marxiana da
histria contra os principais avanos positivos dos livros do prprio
Lukcs escritos depois da dcada de 1930, impensveis sem a reviravolta
radical em sua orientao flosfca no esprito da necessria anlise crti-
ca da relao entre alienao e objetivao como descrito na citao. Para
se ter uma ideia disso, Lukcs era um pensador que, em 1930, j assinava
alguns clebres livros, como Die Seele und die Formen [A alma e as formas],
A teoria do romance e mesmo Histria e conscincia de classe, e pde efetivamente
comear do zero, conduzindo seu projeto, sob circunstncias hist-
ricas muito difceis, a uma rica concluso. Pois, frequentemente Lukcs
precisa escrever em uma linguagem espica, como por ele colocado
posteriormente. dessa mesma forma que, diante da crise do sistema
do capital em andamento, muitos importantes intelectuais incluindo
Maurice MerleauPonty
12
no hesitam em recuar de sua posio um
dia progressiva e mover-se na direo oposta, contradizendo diretamen-
te sua posio anterior quando isso for necessrio.
10 LUKCS, Georg. Histria e conscincia de classe. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
11 Ver o bastante celebrado livro de Maurice Merleau-Ponty, Adventures of the Dialectic. Londres, 1974.
[Publicado originalmente em 1955.]
12 Para uma discusso bem documentada de tal recuo, ver: Merleau-Ponty e a liga da esperana aban-
donada, em meu livro O poder da ideologia. So Paulo, Boitempo Editorial, 2004, p. 225-232.
249
Istvn Mszros
A questo das tentativas mistifcadoras quase sempre deturpadas,
orientadas para desqualifcar a concepo marxiana da histria, que,
ao desfazer a linha necessria de demarcao entre alienao e objetiva-
o, deveria proclamar que as mediaes de segunda ordem alienadas e
reifcadas do capital constituem o horizonte eterno de toda vida social.
Dessa maneira, ao glorifcar ao mesmo tempo o sujeito usurpador e o
capital independentemente de se isso feito de modo explcito ou por
implicao como o nico controlador concebvel da reproduo social
sob as condies apropriadas ao homem moderno, devemos tambm
aceitar a fatal insuperabilidade do sistema do capital enquanto tal, na
medida em que se diz que a alienao lhe confere nada menos que a
relevncia da dimenso fundamental da histria.
A concepo marxiana da histria, prefgurando uma transio
necessria a um sistema radicalmente diverso de mediaes no anta-
gnicas , projeta os contornos de uma ordem sociometablica muito
distinta na qual a objetivao humanamente realizadora arrancada de seu
disfarce alienado e reifcado, graas abrangente previdncia e ao
consciente do real sujeito histrico da produo, o trabalho, orientado
por uma qualidade baseada na necessidade humana, em contraste com a
quantifcao fetichista insupervel sob o domnio do capital. A objetividade
reifcada dominando cegamente a ordem sociometablica do capital
descrita de modo eloquente por Marx em relao ao sobrepujante papel
do dinheiro:
Se o dinheiro o vnculo que me liga vida humana, que liga
a sociedade a mim, que me liga natureza e ao homem,
no o dinheiro o vnculo de todos os vnculos? No pode
ele atar e desatar todos os laos? No ele, por isso,
tambm o meio universal de separao? Ele a verdadeira moeda
divisionria (Scheidemnze), bem como o verdadeiro meio de unio,
a fora galvano-qumica (galvanochemische) da sociedade. [...] da
representao para a vida, do ser representado para o ser real.
Enquanto tal mediao, o dinheiro a fora verdadeiramente
criadora. [...] Como o dinheiro, enquanto conceito existente e
atuante do valor, confunde e troca todas as coisas, ele ento a
confuso e a troca universal de todas as coisas, portanto, o mundo
250
Istvn Mszros
invertido, a confuso e a troca de todas as qualidades naturais
e humanas.
13
Se algumas pessoas pensam que essa caracterizao do papel
alienante do dinheiro representa as perspectivas imaturas do jovem
Marx, deveriam pensar duas vezes. Pois podem encontrar o mesmo
tipo de abordagem em O Capital, quando ele escreve:
Desperta a avidez pelo outro a possibilidade que oferece de
conservar valor de troca como mercadoria, ou mercadoria como
valor de troca. Ao ampliar-se a circulao das mercadorias,
aumenta o poder do dinheiro, a forma de riqueza sempre dis-
ponvel e absolutamente social. O ouro excelso. Com ele,
constituem-se tesouros, e quem o tem faz o que quer no
mundo. O ouro faz at as almas atingirem o paraso
14
[...] Tudo se pode vender e comprar. A circulao torna-se a
grande retorta social a que se lana tudo, para ser devolvido
sob a forma de dinheiro. No escapam a essa alquimia os ossos
dos santos e, menos ainda, itens mais refnados, como coisas
sacrossantas, res sacrosanctae extra commercium hominum. No di-
nheiro desaparecem todas as diferenas qualitativas das mercadorias, e
o dinheiro, nivelador radical, apaga todas as distines. Mas o prprio
dinheiro mercadoria, um objeto externo, suscetvel de
tornar-se propriedade privada de qualquer indivduo. Assim,
o poder social torna-se o poder privado de particulares. A
sociedade antiga denuncia o dinheiro como elemento corro-
sivo da ordem econmica e moral. A sociedade moderna [...]
sada no ouro o Santo Graal, a resplandecente encarnao do
princpio mais autntico da sua vida.
15
De fato, numa longa nota de rodap anexada s palavras todas
as distines desta passagem, Marx incorpora em O Capital as linhas nas
quais citou, nos Manuscritos econmico-flosfcos de 1844, Timo de Atenas de
Shakespeare.
Como a ordem sociometablica estabelecida do capital, com seu
sistema fetichista de mediaes de segunda ordem cada vez mais destru-
13 Karl Marx, Manuscritos econmico-flosfcos. So Paulo: Boitempo Editorial, 2004, p. 161-2.
14 Cristvo Colombo, em sua carta da Jamaica, 1503
15 Karl Marx, O Capital. So Paulo: Nova Cultural, 1996. v. 1, livro primeiro, parte 1, cap. III, p. 158-9.
251
Istvn Mszros
tivas, no sustentvel, o desafo inevitvel instituir em seu lugar uma
alternativa qualitativamente diversa e historicamente vivel. O dinheiro
como Santo Graal e princpio vital do intercmbio de reproduo
social, impondo seu poder antagnico mediador como o poder galvano-
-qumico universal da sociedade e dessa maneira impondo-se de modo
ubquo como o poder social expropriado dos reais produtores ao se
transformar no poder privado de pessoas privadas destitudo de
toda considerao humana e pode apenas levar a um desastre universal
por meio da imposio de sua alquimia perversa sob as condies da crise
estrutural aprofundada do sistema do capital.
A prtica de reproduo social de armazenar valor de troca na
forma de dinheiro perniciosamente idealizado e eternizado j na flo-
sofa de John Locke armazenar os antagonismos potencialmente mais
explosivos para o futuro. Como modalidade de quantifcao fetichista
par excellence, o dinheiro a corporifcao tangvel do sistema do capital
universalmente alienante. Ele torna a alienao inseparvel da objeti-
vao reifcadora ao extinguir todas diferenas qualitativas. E, como
sabemos muito bem pela dolorosa experincia histrica, isso favorece o
impulso expansivo do capital por um longo perodo histrico. Isto , at
o momento em que a ordem de reproduo sociometablica do capital
colida com seus prprios limites insuperveis, como resultado de sua
intruso na natureza, minando, desse modo, as condies elementares
da prpria existncia humana. Essa a realidade nua e crua da existncia
histrica efetiva da humanidade posta em perigo nos dias de hoje, cujo
conceito est estranhamente ausente do existencialismo profunda-
mente ontolgico. Pois esse tipo de existencialismo que se recusa a
confrontar os perigos da existncia humana efetiva, mesmo quando es-
ses perigos tornam-se cada vez mais bvios em nosso tempo de modo
caracterstico prefere objetivao e alienao juntas no interesse de uma
justifcao pseudoterica de sua prpria defesa do poder fetichista do
capital como a permanente e fundamental dimenso da histria.
Apenas a articulao plenamente coerente e historicamente
vivel de um sistema de mediaes no antagnicas qualitativamente orientadas,
e baseadas em necessidades humanas necessariamente reprimidas com
252
Istvn Mszros
extrema brutalidade pelo capital em crise estrutural, pode oferecer uma
sada de tais contradies.
Um dos aspectos mais problemticos dos desenvolvimentos da
flosofa e das teorias sociais no sculo XX que questes substantivas,
junto com suas determinaes valorativas subjacentes, tendem a ser
transpostas para o que se supe ser o nico nvel metaterico apropriado.
Esse tipo de transio defendido, muito arbitrariamente, em nome
da objetividade rigorosa e da neutralidade axiolgica [Wertfreiheit].
Tendem a ser idealizados: a produo de modelos prontamente for-
malizveis, a criao repetitiva e tendenciosa de clichs a respeito de
mudanas de paradigma, levando a absolutamente lugar nenhum e a
busca por um procedimento autorreferencial e evasivamente autocon-
tido. Ao mesmo tempo, rejeita-se o engajamento dos intelectuais com
problemas que carregam implicaes prticas claramente identifcveis,
sem qualquer arrazoamento, anexando-se a tais tentativas aquilo que
deveria ser um rtulo automtico de desqualifcao, chamado emoti-
vismo. Por defnio, fca decretado como sendo incompatvel com as
exigncias do discurso flosfco racional.
De um modo ou de outro, tudo isso se constitui como manifes-
tao da armadilha positivista, com implicaes nocivas e consequncias
negativas demasiado bvias para o envolvimento emancipatrio ne-
cessrio dos intelectuais no dinmico processo histrico confituoso.
A adoo da mitologia institucionalmente bem guarnecida da neu-
tralidade axiolgica, correspondendo consolidao estrutural (mas
de forma alguma axiologicamente neutra) da perspectiva privilegiada
da ordem dominante do capital frustra-se, porque incapaz de realizar
aquela mitologia no mundo efetivamente existente e profundamente
antagnico. Na realidade, isso signifca que, em nome das declaraes
supraideolgicas, toma-se como dado a conformidade com a quan-
tifcao e reifcao fetichistas da ordem estabelecida de reproduo
sociometablica considerando-a a medida axiologicamente neutra
e o horizonte prtico da objetividade rigorosa, descartando o contravalor
desumanizante da alienao a partir de seu nico tipo vivel de objetivao.
E tudo isso ocorre em um tempo em que a necessria fundao de um
futuro humano sustentvel depende de uma mudana radical para um
253
Istvn Mszros
modo de reproduo social diverso, qualitativamente orientado e dedicado de
forma consciente a superar o desperdcio catastrfco que acompanha a
cada vez mais proeminente produo destrutiva caracterstica do sistema do
capital em sua fase histrica de crise estrutural aprofundada.
Aceitar tal horizonte, de modo consciente ou no, pode trazer
consigo apenas postulados metodolgicos persistentemente evasivos,
e mais ou menos efmeros, como o caminho para a soluo, com
fnalidades ilusrias, dos antiquados problemas flosfcos obstinada-
mente recorrentes caracterizando-os com frequncia como confuses
metafsicas, conceituais ou lingusticas. As representaes de tais
postulados metodolgicos vo desde a fenomenologia e o estruturalismo at os
analticos tal e qual (melhor dizendo, no apenas a anlise flosfca
da linguagem, que pretendeu, em algum ponto no tempo que expirou
rapidamente, ter realizado a revoluo na flosofa, mas tambm o mar-
xismo analtico que, de modo ridculo, contempla o prprio umbigo e de
maneira ainda mais rpida foi implodido), assim como aos montonos
rtulos ps, do ps-estruturalismo e do ps-modernismo ao extremamente
vazio ps-marxismo. De modo compreensvel, o refreamento farisaico
das questes substantivas que demandam comprometimento com seus
valores correspondentes leva busca de uma metateoria orientada de
forma metatica. Do mesmo modo, e mais uma vez de maneira alguma
surpreendentemente, o ilusrio engajamento supraideolgico ou
ps-ideolgico na anlise pela anlise culmina na prtica da metodologia
pela metodologia.
Desse modo uma das mais importantes fguras da anlise flosfca
da linguagem, o pensador ingls J. L. Austin, de Oxford, defende a pana-
ceia metodolgica universalmente vlida para a produo do consenso
flosfco geral para alm de quaisquer confuses lingusticas, me-
tafsicas e conceituais conhecidas e possveis do confnamento da
discusso por todos interessados ao que poderia ser racionalmente
respondido em termos da questo: O que diramos quando...?. Ele
louva esse princpio metodolgico orientado em termos lingusticos na
inteno de livrar-se de questes substantivas abrangentes, para que no
nos seja requerido fazer qualquer inferncia conclusiva. assim que
Austin argumenta a seu favor: Tornamo-nos obcecados com a verdade
254
Istvn Mszros
quando discutimos as declaraes, assim como nos tornamos obceca-
dos com a liberdade quando discutimos o comportamento. Assim,
ele defende o abandono da discusso de problemas como liberdade
e verdade, para nos concentrarmos em advrbios como acidental-
mente, involuntariamente, inadvertidamente. Porque desse modo
nenhuma inferncia conclusiva exigida. Curiosamente, no entanto,
na sentena subsequente, Austin nos diz: Como a liberdade, a verdade um
mnimo bsico ou um ideal ilusrio
16
. E nada poderia ter o carter de uma
afrmao mais conclusiva do que isso, mesmo se no artigo anteriormente
citado, Austin afrme que a verdade seja completamente desprovida
de qualquer fundamento com base na qual poderia ser considerada
uma inferncia conclusiva. Longe de ser uma inferncia, talvez seja uma
confsso inadvertida de uma posio extremamente ctica, talvez
at mesmo genuinamente pessimista, adotada pelo flsofo de Oxford.
Dessa forma, paradoxalmente, a panaceia metodolgica de Austin pode
apenas faz-lo cair em sua prpria armadilha, acabando com uma asser-
o dogmtica do tipo de proposio substantiva o qual ele frmemente
prescreveu que fosse evitada e tambm proclamou ser plenamente
evitvel com a ajuda de seu mtodo adverbiocntrico de flosofa
analtica da linguagem.
No que se refere dimenso substantiva revelada de forma inad-
vertida mas sem dvida genuna, ele convida seus leitores racionais
a se contentarem (mesmo que no estejam satisfeitos) com o mnimo
bsico e abandonarem o ideal ilusrio. Entretanto, o problema que
o conselho dado por Austin no pode ser adotado como regra geral em
um tempo de profunda crise histrica. O grave desafo de nosso tempo
deve ser confrontado de algum modo, e faz-lo requer uma interveno
prtica nos desenvolvimentos sociohistricos em andamento, com base
em alguma concepo ou ideal estratgicos apropriados situao. Tam-
pouco deveramos presumir gratuitamente que todas essas concepes
ou ideais sejam nada mais que ideais ilusrios. Difcilmente eu poderia
crer que o prprio Austin, apesar de seu pronunciado ceticismo, seria
capaz de chegar a ponto de predicar a inevitabilidade (e o absurdo)
daquele tipo de assero conclusiva fatdica. No obstante, as implicaes
16 AUSTIN, J. L. Philosophical Papers. Oxford: Clarendon, 1961, p. 98.
255
Istvn Mszros
pessimistas de sua soluo metodolgica no podem ser desconsideradas
porque o necessrio apelo ao envolvimento prtico por parte dos intelectuais
est irremediavelmente ausente da abordagem do flsofo de Oxford.
A metodologia estruturalista em prol da metodologia no vai
muito mais longe a esse respeito do que a anlise flosfca da linguagem
autorreferencialmente fechada em prol da anlise. Ela tambm compar-
tilha o isolamento frustrante de suas concepes sobre o entendimento
da necessidade de uma interveno socialmente tangvel dos intelectuais
nas transformaes sociohistricas exigidas.
Se no caso da anlise lingustica de Austin as conotaes pessi-
mistas aparecem apenas indiretamente, na concepo do mais clebre
pensador estruturalista, o antroplogo francs Claude Lvi-Strauss, somos
presenteados explicitamente com a mais sombria forma de pessimismo.
Ele pinta um quadro desolador ao extremo das perspectivas de desen-
volvimento da humanidade para o futuro ao declarar que:
Hoje o grande perigo para a humanidade no provm das
atividades de um regime, de um partido, de um grupo ou de uma clas-
se. Mas provm da prpria humanidade como um todo; uma
humanidade que se revela como sua prpria pior inimiga e (ai
de ns!) ao mesmo tempo, tambm a pior inimiga do resto da
criao. Essa a verdade da qual temos de nos convencer, caso
haja alguma esperana de que possamos salv-la.
17
Lendo essas linhas com certo espanto no podemos evitar per-
guntar:
Mas quem vai convencer e salvar a humanidade? Que ponto
de vista se deve adotar para fcar parte da humanidade e
conden-la como o pior inimigo dela mesma, isentando, ao
mesmo tempo, os regimes, partidos, grupos e classes socio-
polticos de sua responsabilidade? Quando os profetas do
Velho Testamento trovejam contra a humanidade pecadora,
declaravam ter sido enviados diretamente por Deus para fazer
isso. Mas, agora, onde encontrar o agente social altura de
realizar a tarefa proposta? Como intervir no processo real de
17 Plus loin avec Claude Lvi-Strauss, uma extensa entrevista publicada em LExpress, n. 1027, mar. 1971, p.
66.
256
Istvn Mszros
transformao contrapondo-se s tendncias de desenvol-
vimento melancolicamente denunciadas, na esperana de
atingir os objetivos almejados? Na entrevista de Lvi-Strauss
no havia nem mesmo uma insinuao velada sobre como
responder a estas questes.
18
Assim, em vez de um diagnstico apropriado das foras sociais
e histricas em operao na situao deplorada, junto a alguma indica-
o do que deveria e poderia ser feito para deter os perigos catastrfcos,
tudo que podemos receber da fgura principal do estruturalismo um
lamento desprovido de qualquer quadro de referncia. Tampouco esse
resultado poderia ser considerado muito surpreendente. Ao ter rom-
pido programaticamente a inter-relao dialtica entre estrutura e histria,
colocando de lado as questes da dinmica histrica para postular a
plausibilidade de um mtodo estruturalista contido em si mesmo, os sujeitos
histricos efetivamente existentes mediados de modo antagnico sob
o domnio do capital perdem sua realidade, assim como a viabilidade
de superar seus antagonismos de um modo historicamente sustentvel.
totalmente vo decretar, como faz Lvi-Strauss, que a grave crise estru-
tural de nosso tempo nada tem a ver com um regime, um partido, um grupo
ou uma classe. Mas a revogao das questes substantivas em sua especi-
fcidade e dinamismo sociohistricos, junto com suas determinaes
valorativas subjacentes em prol de um equidistanciamento fctcio por
parte dos pensadores em questo em relao s foras sociais rivais ca-
pazes de decidir de um modo ou de outro o resultado das confrontaes
em andamento, como alternativas hegemnicas entre si apenas podem
produzir lamentos levando a absolutamente lugar nenhum, mesmo no
caso de um pensador de destaque como Lvi-Strauss.
Lamentavelmente tambm, quando lemos o diagnstico ofe-
recido pelo importante pensador ps-estruturalista, Michel Foucault, o
quadro no de modo algum mais reconfortante. Ele escreve nas pgi-
nas conclusivas de uma de suas mais importantes obras:
[...] hoje, o fato de que a flosofa esteja sempre e ainda em
via de acabar e o fato de que nela talvez, porm mais ainda
18 MSZROS, Istvn. O poder da ideologia. So Paulo: Boitempo Editorial, 2004, p. 113.
257
Istvn Mszros
fora dela e contra ela, na literatura como na refexo formal, a
questo da linguagem se coloque, provam sem dvida que o
homem est em via de desaparecer.
19
O homem uma inveno cuja recente data a arqueologia de
nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fm prximo.
Se estas disposies viessem a desaparecer tal como aparece-
ram, [...] ento se pode apostar que o homem se desvaneceria,
como, na orla do mar, um rosto de areia.
20
Tudo isso pode soar bastante potico (para alguns), mas sobre
qual fundamento devemos levar isso a srio? Nada alm de um discurso
encerrado em si mesmo sobre flosofa e linguagem, com uma declarao
categrica de que as afrmaes do autor sobre os bastante discutveis
elementos desses discurso provam sem dvida que o homem est em via de
desaparecer, embora elas nada provem a esse respeito. Porm, mesmo que
em prol do argumento concordemos com Foucault sobre o perigo, o
que devemos fazer a respeito? Ser esse ou haver de fato algum um
campo de ao aberto pelo mtodo estruturalista de generalizao sobre
o qual possamos intervir de maneira prtica no processo declarado e deter as
foras destrutivas ao menos em alguma medida? E qual o ponto do
desolador quadro de Foucault, se um no preconcebido a resposta
a nossa questo? De que modo poderamos proceder signifcativamente
com o mandato da flosofa como uma contribuio ativa para um fu-
turo melhor, seja por meio da investigao direta dos valores h muito
apaixonadamente debatidos nos campos do conhecimento, religio, po-
ltica e esttica seja no terreno mais mediado da metodologia? Mesmo
com relao a este, a investigao crtica do mtodo, desde Descartes, sempre se
preocupara com o aprimoramento das possibilidades de uma interven-
o frutfera das pessoas referidas no processo de reproduo social em
andamento baseada em uma relao sustentvel com a natureza. Nada
poderia estar, portanto, mais distante do horizonte do grande flsofo
francs envolvido em uma tal investigao do que a metodologia pela
metodologia. Pois Descartes insistiu que o ponto da dvida metodolgi-
ca era obter uma certeza autoevidente, afrmando sem a menor ambiguidade:
19 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. 9. ed., So Paulo: Martins
Fontes, 1995, p. 534.
20 FOUCAULT, 1995, p. 536.
258
Istvn Mszros
No que imitasse, para tanto, os cticos, que duvidam s por
duvidar e fngem ser sempre indecisos: pois, ao contrrio, todo
o meu propsito propendia apenas a me certifcar e remover a
terra movedia e a areia, para encontrar a rocha ou a argila.
21
E, como vimos anteriormente, ao procurar pela certeza flo-
sfca, Descartes acentuou a importncia de fazer do conhecimento
algo prtico e til no grande empreendimento do controle humano da
natureza vislumbrando que
[...] possvel chegar a conhecimentos que sejam muito teis vida,
e que, em lugar dessa flosofa especulativa que se ensina nas
escolas, possvel encontrar-se uma outra prtica mediante a
qual [...] poderamos utiliz-los da mesma forma em todos
os usos para os quais so prprios, e assim nos tornar como
senhores e possuidores da natureza.
22
Essa tradio completamente abandonada, mesmo quando
ainda se faz referncia a ela em um modo metodologicamente trans-
fgurado, como nos escritos de Husserl. Porque no aspecto crucial da
interveno prtica da flosofa, encontramos a mais rgida oposio
entre a atitude terica e a prtica. Ele afrma que:
A atitude terica, mesmo que seja tambm uma atitude profs-
sional, totalmente antiprtica. Assim, ela baseada em uma epoch
desligada de todos os interesses prticos e, consequentemen-
te, mesmo aqueles de um nvel mais elevado, que servem a
necessidades naturais no interior do arcabouo da ocupao
de uma vida governada por tais interesses prticos.
23
Isso poderia ser tragicamente frustrante, como vimos no caso
em que Husserl tentou, numa aula dada em Praga, se contrapor ao avan-
o da barbrie nazista o qual, devido no apenas considerao de
algum perigo poltico mas, mais importante, a sua prpria metodologia
21 DESCARTES, Ren. Discurso do mtodo. As paixes da alma e Meditaes. Trad. Enrico Corvisieri. So
Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 58. [Coleo Os Pensadores]
22 DESCARTES, 1999, p. 86.
23 HUSSERL, Edmund. Philosophy and the Crisis of European Man. In: ______. Phenomenology and the
Crisis of Philosophy. Nova York: Harper & Row, 1965.
259
Istvn Mszros
proclamada de uma epoch desligada de todos os interesses prticos,
ele no poderia mencion-la por seu prprio nome com o postulado
genrico com certeza muito antiprtico do herosmo da razo.
Ningum deveria simplesmente culpar os intelectuais que se
deixaram emaranhar no labirinto de tais desenvolvimentos, oferecendo-
-nos um discurso metodolgico mais ou menos contido em si mesmo,
com mensagens e tons pessimistas, em oposio ao necessrio engaja-
mento prtico com as questes substantivas principais de nosso tempo. Pois o
programa cartesiano de assim nos tornar como senhores e possuidores
da natureza acabou por ser realizado em uma forma extremamente
perigosa decerto potencialmente catastrfca no curso do desenvol-
vimento histrico efetivo.
Sem dvida, a flosofa apenas contribuiu para isso, de modo
consciente ou no ainda que de forma cada vez mais problemtica
na fase descendente do progresso global do sistema do capital , mas,
obviamente, no foi a fora mestra na raiz de tais desenvolvimentos.
O fato inescapvel a esse respeito que o modo de reproduo socio-
metablica do capital ele prprio estruturalmente incapaz de estabelecer
e manter uma relao historicamente sustentvel dos seres humanos com a
natureza. Em seu nico modo vivel de objetivao fetichista, o capital
estrutural e totalmente incapaz de superar a alienao em qualquer uma de
suas mltiplas dimenses, ou seja, da cruel expropriao/alienao da
atividade produtiva e a insensvel negao concomitante da necessidade
humana genuna at a negao usurpadora do poder de tomada de deciso
no apenas na economia e na poltica, mas tambm no campo da cul-
tura, aos indivduos que constituem o sujeito histrico real, o trabalho,
como o possuidor e realizador potencial da energia criativa humana.
O capital, sob todas as circunstncias, deve afrmar e impor
cegamente sobre a sociedade assim como tambm de maneira irreme-
divel sobre a natureza os imperativos de seu impulso expansivo, no
importando o quo destrutivas possam ser as consequncias. por isso
que, chegado o momento atual, o que um dia foi o promissor, ou ao
menos, o ilusrio programa cartesiano de tornarmo-nos senhores e possuidores
da natureza acabe traduzido na realidade em uma forma destrutiva dema-
siado bvia, conjurando assim o espectro e a possibilidade real da total
260
Istvn Mszros
aniquilao da humanidade. Mas to somente sua possibilidade. Nada
garante a assero categrica de que hoje o homem est em vias de
desaparecer, nem tampouco o foreio retrico igualmente pessimista e
equidistanciador de Lvi-Strauss de que:
Hoje o grande perigo para a humanidade no provm das
atividades de um regime, de um partido, de um grupo ou de uma
classe. Mas provm da prpria humanidade como um todo;
uma humanidade que se revela como sendo sua prpria pior
inimiga e (ai de ns!) ao mesmo tempo, tambm a pior ini-
miga do resto da criao.
24
O perigo de destruio das condies da existncia humana
neste planeta sem dvida muito grande. Contudo, isso no causado
por uma humanidade abstrata, mas por uma fora social tangvel e
historicamente transcendvel que no presente controla nosso modo de
reproduo social.
Isso torna ainda mais importante enfatizar a necessidade de
uma interveno prtica renovada e intensamente comprometida com o
processo histrico em andamento. A fora empenhada na destruio das
condies elementares da existncia humana no uma humanidade
misteriosa vagamente oposta por Lvi-Strauss a sua lista de agentes so-
ciais ativos. Pois a humanidade real feita de regimes, partidos, grupos
e classes, assim como de indivduos efetivamente existentes incluin-
do os intelectuais fenomenlogos, estruturalistas, ps-estruturalistas,
ps-modernistas etc. que no podem se distanciar dos perigos identi-
fcados sem abdicar de sua responsabilidade.
O real culpado o controlador abrangente de nosso modo de repro-
duo sociometablica, o capital, com seu modo fetichista e reifcante
de subjugar todas as dimenses da vida humana a suas cegas determi-
naes internas e ordens externas. O capital exerce seu controle quando
comete o absurdo de transformar o produtor em propriedade do
produto e quando estruturalmente assegura sua prpria modalidade
globalmente abrangente de impulso expansivo irracional por meio de seu
sistema de mediaes antagnicas hierarquicamente consolidadas. Todos os aspec-
24 Plus loin avec Claude Lvi-Strauss, 1971.
261
Istvn Mszros
tos dessa fora produzida na histria e cada vez mais destrutiva em
nosso tempo so claramente identifcveis, incluindo o carter abran-
gente e dominante do sistema estabelecido de mediaes antagnicas,
exigindo estratgia e fora apropriadamente abrangentes para super-la
como a alternativa hegemnica historicamente vivel ao domnio do
capital. A denncia ps-moderna das grandes narrativas, a favor de
suas prprias petits rcits, por defnio arbitrrias e justifcadoras de si
mesmas, por sua natureza frustrante e mistifcadora do comeo ao fm,
porque nega com seu apriorismo perverso a ideia mesma de qualquer
estratgia abrangente signifcativa, quando sua necessidade no poderia
ser maior. Porm, no obstante todos os ardis e evases metodolgicos,
a elaborao consistente e a realizao prtica de um sistema alternativo
de mediaes no antagnicas permanece uma exigncia absolutamente ne-
cessria para um futuro historicamente vivel.
No pode haver comprometimentos acomodatrios entre a
ordem dominante do capital e o modo alternativo qualitativamente
diverso de controle sociometablico, vivel to somente por meio do
estabelecimento e da consolidao da nova forma histrica. A pro-
longada prevalncia da ordem de reproduo social do capital constitui
um sistema orgnico abrangente no obstante seus antagonismos, que se no
princpio so apenas parciais ou latentes, acabam por ser muito destru-
tivos , administrado no curso do desenvolvimento histrico efetivo na
forma de mediaes antagnicas. Consequentemente, em ambas as questes
melhor dizendo, tanto com relao a seu escopo necessariamente
amplo e abrangente, como em relao ao carter orgnico (ou seja, em suas
partes constitutivas apoiando-se e sustentando-se reciprocamente) desse
modo de reproduo sociometablica , o sistema do capital s pode
ser historicamente suplantado por uma alternativa no menos abrangente
e orgnica.
Vimos no decorrer deste estudo que as premissas prticas vitais
correspondentes s determinaes estruturais fundamentais do sistema do
capital tinham de ser, e efetivamente foram, interiorizadas com consis-
tncia inegvel em termos ideolgicos e metodolgicos, mesmo pelos
grandes pensadores da burguesia. Pois, na realidade, seria impensvel
262
Istvn Mszros
sustentar o sistema sem sequer nenhuma daquelas premissas por qual-
quer perodo de tempo.
Os grandes pensadores da burguesia subestimaram as premissas
prticas fundamentais de seu sistema em sua totalidade combinada, como um
conjunto de determinaes profundamente interconectadas. Para nomear apenas
as mais importantes de tais premissas prticas que devem permanecer
fortes enquanto a lgica do capital for capaz de prevalecer , so elas:
1. O divrcio radical dos meios e materiais de produo do trabalho
vivo;
2. A atribuio de todas as importantes funes de direo e
tomada de deciso na ordem produtiva e reprodutiva estabele-
cida s personifcaes do capital;
3. A regulao do intercmbio sociometablico entre os seres
humanos e a natureza e entre os prprios indivduos com
base nas mediaes de segunda ordem do capital;
4. A determinao e administrao de toda a estrutura poltica de
comando abrangente da sociedade na forma do Estado capitalis-
ta, sob a primazia mistifcadora da base material.
Naturalmente, em vista do fato de que tais premissas prticas
fundamentais do sistema do capital constituem um conjunto de deter-
minaes intimamente interligadas, elas no podem ser abandonadas de forma
seletiva. Tampouco podem, na prtica, ser transcendidas de modo parcial
por uma fora rival. O fracasso absoluto de todas as tentativas reformistas
no sculo XX e o humilhante abandono de qualquer ideia signifcativa
de reforma pelos partidos polticos que originalmente se defniram
como sua raison dtre a partir dessas reformas (as quais, conforme
proclamavam, conduziriam a seu tempo graas estratgia poltica do
socialismo evolucionista e de sua fctcia taxao progressiva ao tipo
de sociedade radicalmente diferente anunciada de maneira programti-
ca) tm fornecido amplas provas da total futilidade e da defnitiva m-f
de tais tentativas.
A principal razo pela qual tais reformas tinham de fra-
cassar era seu confnamento ao quadro estruturalmente condicionado das
263
Istvn Mszros
premissas prticas servientes de si mesmas e inalterveis do capi-
tal. Assim as reformas anunciadas no eram sequer reformas no
sentido de que poderiam apontar, mesmo de modo mnimo, na
direo de uma ordem social diversa. Eram, ao contrrio, os neces-
sariamente parciais e at desse modo, no devido curso lucrativamente
impraticveis dispositivos corretivos conjunturais institudos para a perpe-
tuao da ordem socioeconmica e poltica do capital. O New Deal de
Roosevelt era nesse sentido no mais que uma resposta estritamente
parcial e temporria exigida pela conjuntura de um capitalista mais
ilustrado ao debilitante rescaldo da crise econmica mundial de 1929-
1933 do capital. Do mesmo modo, a instituio do Estado de bem-estar
em um punhado de pases capitalistas privilegiados aps a Segunda
Guerra Mundial, e dessa vez sob uma forma mais mistifcadora por al-
guns partidos trabalhistas, era estritamente conjuntural, apesar de toda
a mitologia socialdemocrata afrmar o contrrio. No apenas porque tal
reforma tinha de ser confnada desde o incio (o que tambm mostrou
ser o fm) a um nmero extremamente limitado de pases na ordem
global do capital, mas tambm porque a panaceia reformista do Estado
de bem-estar enquanto tal, em vez de espraiar-se por todas as outras
partes, como propalado anteriormente de modo nada engenhoso, tinha
de ser humilhantemente abandonado em paralelo ao progresso da
crise estrutural do capital por todo o mundo mesmo naqueles poucos
pases nos quais fora institudo por algum tempo.
No tocante s necessrias premissas prticas de operao do
capital, nada ocorreu para corrigir o divrcio radical entre os meios
e materiais de produo e o trabalho vivo, radicalmente consolidado e
resguardado. As nacionalizaes posteriores Segunda Guerra na
Inglaterra, por exemplo, no puderam ir alm de uma transferncia,
ardilosamente declarada como socialista, de alguns setores essenciais
da economia capitalisticamente falidos desde a minerao de carvo
e gs, a produo de eletricidade, os vitais servios de transporte at a
tributao geral apenas para serem reprivatizados mais tarde de forma frau-
dulenta, quando voltaram a ser rentveis graas injeo de enormes
fundos pblicos. Ao mesmo tempo, a falsa conscincia com a qual o capital
falido apresentou ao pblico o desvencilhamento de seu drama, como
264
Istvn Mszros
a conquista do controle sobre os postos de comando da economia
nas notrias palavras do primeiro-ministro Harold Wilson s poderia
demonstrar o total fracasso do brao poltico do movimento traba-
lhista um dia to promissor.
O fato de que o atual governo do Novo Trabalhismo seja bastan-
te tmido quanto ao emprego do termo nacionalizao a respeito de seu
recente afanamento, com macios fundos pblicos a total falncia
bancria e hipotecria da empresa que ironicamente chamada de The
Northern Rock [A Rocha do Norte] , no deveria enganar a ningum
com relao ao real carter da operao em questo. Ou seja, a opera-
o de resgate mais ou menos fraudulenta de uma grande companhia
capitalista, no intento de esconder que sob a ponta do iceberg se oculta a
ameaadora pedra de gelo do sistema bancrio em geral. Tampouco pode
algum imaginar que esse tipo de operao se realiza porque o governo
ingls administrado por um partido que, por vezes, quando consi-
dera politicamente conveniente, ainda se denomina socialista. Pois o
mesmo tipo de operao de resgate estava ocorrendo numa escala
muito maior, com icebergs incomparavelmente maiores sob a superfcie
da gua nos prprios Estados Unidos de George W. Bush, que de forma
alguma poderia ser chamado de socialista, nem mesmo pelos mais
extremados apologistas neoliberais/neoconservadores do sistema
global do capital. O que fca absolutamente excludo que o capital seja
capaz de abdicar do poder que continua a conquistar enquanto mantm
o divrcio radical entre os meios e os materiais de produo do trabalho vivo
como uma das premissas prticas centrais de seu controle da ordem
sociometablica estabelecida.
Abdicar nesse sentido signifcaria consentir com a socializao signi-
fcativa dos meios e materiais de produo, em vez de sua nacionalizao
intil e reversvel. E isso inconcebvel, pois a socializao genuna no
pode ser alcanada como uma medida parcial, em vista de suas interco-
nexes estruturais necessrias e somente poderia ser levada a cabo como
um projeto radical de transformao sistmica fundamental, com suas
ramifcaes abrangentes em todos os domnios da atividade humana. O
modo como se maneja o capital, que ainda est distante de se encontrar
esgotado at mesmo sob o tipo da crise atual com icebergs gigantescos
265
Istvn Mszros
multiplicando-se por todo o mar, oferece a estratgia prtica de o pr-
prio Estado capitalista nacionalizar o subprime e outras instituies
hipotecrias totalmente falidas, alugar as casas de volta aos indivduos
desapropriados, no intuito de salvar, por quanto tempo ainda for vivel
desse modo, os prprios bancos quebrados. Pois, obviamente, no pode
ser rentvel aos bancos e s companhias hipotecrias ocuparem eles
prprios os vastos nmeros de casas das quais agora esto se reapropriando
de forma impiedosa numa escala com perigo crescente. E, assim, no
caso de uma extenso maior dessa crise, o Estado poderia converter-se
em empresa hipotecria defnitiva, sem abandonar a modalidade funda-
mental de extrao economicamente regulada do sobre-trabalho como
sobre-valor uma clara possibilidade sob as condies de macia ina-
dimplncia capitalista privada; e, evidentemente isso pode ser no futuro
um tipo de interveno estatal potencial que de modo algum teria de
se limitar ao domnio habitacional ento nesse caso poderamos real-
mente dar um sentido tangvel ao termo frequentemente mal utilizado
de capitalismo de Estado. Porm, mesmo isso jamais livraria o prprio
sistema do capital de sua aprofundada crise estrutural.
As outras trs premissas prticas insuperveis do sistema do
capital antes mencionadas no so menos forosamente impostas sobre
a esmagadora maioria dos seres humanos em nossa sociedade do que a
primeira. Dessa forma, o imperativo prtico que dita com exclusividade
categorial a atribuio de todas as mais importantes funes de direo e
tomada de deciso s personifcaes do capital na ordem produtiva e reprodutiva
estabelecida deve prevalecer mesmo sob circunstncias histricas sur-
preendentemente modifcadas. isso que tivemos de assistir no sistema
do capital ps-capitalista depois do cerco e isolamento bem-sucedidos
da Revoluo Russa em 1917 pelo capitalismo ocidental e a subsequente
estabilizao do tipo de ordem reprodutiva de tipo sovitico sob Stalin.
Naturalmente, Marx no poderia sequer sonhar a respeito da inquietan-
te nova variedade de personifcaes do capital que tiveram xito em se
impor como o controlador abrangente amplamente burocratizado do
sistema ps-revolucionrio sovitico por sete dcadas de emergncia
real ou declarada. De fato, seria extremamente prematuro e temerrio
concluir, mesmo hoje, que as personifcaes do capital de tipo sovitico
266
Istvn Mszros
constituam a ltima variedade possvel do modo antagnico de contro-
le do metabolismo social herdado do sistema reprodutivo do capital h
muito estabelecido mesmo na eventualidade de algumas circunstncias
histricas signifcativamente cambiantes. Tudo depende da profundidade
da crise em andamento e da natureza se abrangente ou parcial das
estratgias levadas a cabo para superar historicamente a ordem sociome-
tablica estabelecida na qual o capital exerce suas funes de controle
por meio de suas personifcaes necessrias, como um sujeito usurpador.
O mesmo vale para a regulao do intercmbio sociometablico
entre os seres humanos e a natureza e dos indivduos entre si com base
nas mediaes de segunda ordem antagnicas e alienantes do capital. Estas
constituem um sistema perversamente interbloqueado por reifcaes
materiais e institucionais a converso incontrolvel das relaes so-
ciais em coisas e das prprias coisas alienadas/objetifcadas em relaes
sociais veladamente opressivas o qual em suas implicaes defniti-
vas prefgura a destruio da natureza (e obviamente dos indivduos
humanos com ela) no interesse da dominao fetichista da quantidade
expansionista sobre a qualidade que poderia signifcativamente emergir da
necessidade humana genuna. Vimos antes, no captulo 4, que mesmo a maior
sntese da flosofa burguesa, o sistema hegeliano, no pde escapar da
fora gravitacional dessas determinaes fetichistas. Ao invs disso, Hegel
acabou glorifcando a objetividade alienante e a quantifcao total-
mente invasiva em sua conceituao da medida como a conveno
inexplicvel, ainda que misteriosamente emergindo da confitualidade
estritamente individual e apologeticamente indiscutvel que estava
destinada a prevalecer como universalidade livre de problemas na ordem
estabelecida. De maneira reveladora, essa perspectiva poderia ser comple-
mentada na viso hegeliana somente pela funo reconciliadora de seu
princpio de negatividade como contradio autotranscendente que
foi postulado de forma especulativa pelo flsofo alemo para preservar
eternamente a ordem dominante em sua declarada efetividade racio-
nal. Assim, as mediaes de segunda ordem antagnicas do sistema do
capital poderiam continuar a se impor por meio de suas determinaes
impulsionadoras de si prprias e seus imperativos alienados sobre as
mediaes primrias entre os seres humanos e a natureza que devem
267
Istvn Mszros
ocorrer na atividade produtiva essencial. Naturalmente, quando no cur-
so do desenvolvimento esse modo fetichista de regulao do processo
de reproduo social torna-se historicamente anacrnico, devido ao perigoso
avano da produo destrutiva em lugar da destruio produtiva, a nica
reposta corretiva compatvel com as determinaes sistmicas e as
premissas prticas inalterveis do capital a intensifcao de suas prticas
expansionistas alienantes, e desse modo a acelerao da destruio. O
conjunto interligado de mediaes antagnicas de segunda ordem o
qual deve prevalecer a todo custo, como a fundao estrutural hierar-
quicamente consolidada e resguardada de todo o sistema no oferece
verdadeiramente nenhuma alternativa s personifcaes do capital.
No que tange determinao e administrao da estrutura de
comando poltico abrangente da sociedade na forma do Estado capi-
talista, sob a primazia mistifcadora da base material, sua importncia
enorme. Este o caso, apesar das concepes errneas formuladas
sobre um campo de motivaes to diversas. Elas vo da sugesto muito
ingnua de Adam Smith sobre o envolvimento mnimo do Estado, em
um tempo de expanso colonial agressiva, at chegarem ideologia
neoliberal cnica e hipcrita de retroceder as fronteiras do Estado.
E esta inventada, evidentemente, contra o pano de fundo do maior
apoio jamais dado pelo Estado ao capitalismo privado no apenas na
forma de todo tipo de subsdios materiais, incluindo imensos fundos de
pesquisa, assim como as gritantes operaes de resgate que benefciam
diretamente algumas enormes empresas falidas no mundo da fnanas
e da indstria, mas tambm as somas quase astronmicas fraudulentas
transferidas ao complexo industrial-militar de modo contnuo segundo
os propsitos de suas operaes economicamente destrutivas e mesmo
de suas guerras genocidas. Ademais, a primazia mistifcadora da base
material na ordem reprodutiva do capital sobre suas formaes estatais
criadas na histria torna muito difcil analisar de modo apropriado nos
termos das vises sintetizadoras dos pensadores particulares concebidas
geralmente de forma muito exagerada e mesmo idealizada o que o
Estado, como a estrutura de comando poltico abrangente do capital,
efetivamente capaz de conquistar, ou no, conforme o caso. Isso ocorre
nas teorias dos grandes pensadores burgueses, como Hegel. Nada ilustra
268
Istvn Mszros
melhor isso do que sua crtica do Estado liberal que desafortunadamen-
te erra seu alvo, como vimos antes. Pois Hegel no poderia submeter
a formao do Estado liberal ao escrutnio crtico exigido pela simples
razo que sua prpria concepo compartilhava com a abordagem liberal o
mesmo campo substantivo.
Como o benefcirio explorador da ordem estruturalmente
antagnica do capital, o liberalismo no poderia ter coisa alguma a
ver com as exigncias substantivas (empricas) de fazer a vontade geral
prevalecer de modo efciente em todos os domnios da vida social. E
isso era verdadeiro tambm em relao ao papel que o prprio Hegel
atribui ao Estado, como indiretamente admitido at mesmo por ele.
Suas diferenas eram secundrias e bastante superfciais com respeito
ao governo dos muitos no liberalismo contra a qual Hegel protestou,
pois o que a formao do Estado liberal perpetrou, como claramen-
te demonstrado por nossas crnicas histricas, foi apenas o domnio
contnuo da pluralidade de capitais substituindo intermitentemente algumas
de suas personifcaes autorizadas por outras contra a classe estru-
turalmente subordinada do trabalho. O liberalismo jamais poderia ter
intencionado de modo concebvel a corporifcao dos princpios ideais
da vontade geral de Rousseau em sua estrutura legislativa estatal. Seu
apelo ideia de governar na forma dos muitos serviu a propsitos
eleitorais muito limitados. Nunca tiveram a orientao, nem em teoria,
muito menos na prtica poltica do liberalismo, para se dirigirem no
sentido de alterar o Estado liberal de maneira tangvel, incluindo suas
verses socialdemocratas. Se falavam de pluralismo, obtiveram xito
apenas em privar totalmente de seus direitos as classes trabalhadoras por meio
da rotineira mudana enganosamente consensual de uma pseudoalternativa
a outra
25
. Um outro aspecto, bem mais importante, de suas implicaes
positivas, da primazia mistifcadora da base material sobre a dimenso
poltica do domnio do capital na sociedade diretamente relevante
25 Para consumar plenamente a total desautorizao das classes trabalhadoras, a lgica defnitiva do
sistema bipartidrio parlamentar (ou seja, o agora existente sistema unipartidrio de duas alas
direita) a formao de governos de coalizo nacional automaticamente justifcadores do capital na
eventualidade de um pleito apertado. A Alemanha j produziu um bom exemplo disso aps a derrota do
chanceler social-democrata Schreder. O maior aprofundamento da crise sistmica do capital poderia
transformar essa forma de democracia parlamentar na conjunturalmente prevalente regra geral.
269
Istvn Mszros
para a formulao das estratgias socialistas viveis que no devemos
esperar muito at do que a interveno poltica mais radical, na forma
poltica e no na revoluo social multidimensional advogada por Marx,
possa conquistar por seus prprios mritos no interior do domnio das
prticas legislativas do Estado. O controle do domnio jurdico obvia-
mente o primeiro passo necessrio na trilha para uma transformao
social duradoura qualitativa. Mas no deve permitir que se converta, como
convm s personifcaes herdadas ou novas do capital
26
, em uma va-
riante nova de iluso jurdica adotada de maneira esperanosa. Tambm
seria trgico a esse respeito no sermos capazes de aprender algo da
dolorosa experincia do passado.
Evidentemente, o carter de todas as premissas prticas fun-
damentais aqui investigadas substantivo e abrangente, tanto se por elas
mesmas tomadas uma a uma como em sua totalidade combinada de
determinaes reciprocamente sustentadas e reforadas do sistema orgnico
do capital. Por conseguinte, devem ser contrapostas por um conjunto
de princpios e determinaes operativos no menos substantivos e abran-
26 importante lembrar aqui que, durante maro e abril de 1917, Lenin ainda defendia um Estado
sem exrcito permanente, sem uma polcia oposta ao povo, sem um funcionalismo colocado acima do
povo (V.I.U. Lenin, Cartas sobre tctica, em Obras escolhidas em seis tomos, trad. Jos Oliveira, Lisboa, Avan-
te, 1985, tomo 3, p. 127), e props organizar e armar todos os setores mais pobres e explorados da popu-
lao para que eles prprios tomem diretamente nas suas mos os rgos do poder de Estado (idem, Carta
3 Sobre a milcia proletria, em Slavoj iek, s portas da revoluo: escritos de Lenin de 1917, trad. Daniela
Jinkings, So Paulo, Boitempo Editorial, 2005, p. 50). Posteriormente, no entanto, essas opinies muda-
ram de modo signifcativo sob as condies de um grave estado de emergncia, a ponto em que os r-
gos estatais recm-criados foram estruturalmente condicionados pelo velho Estado e foram claramente
reconhecidos por Lenin com as seguintes palavras: Assumimos o controle do antigo maquinrio do Es-
tado e esse foi nosso infortnio. Muito frequentemente esse maquinrio opera contra ns mesmos. Em 1917,
aps tomarmos o poder, os funcionrios do governo sabotaram-nos. Isso nos aterrorizou e imploramos
Por favor, voltem. Todos eles voltaram, mas esse foi nosso infortnio. Agora temos um vasto exrcito
de empregados governamentais, mas nos faltam foras sufcientemente educadas para exercer controle
real sobre eles. Na prtica, frequente ocorrer que, aqui no topo, onde exercemos o poder poltico, a
mquina de alguma maneira funcione; mas bem abaixo os funcionrios do governo possuem controle
arbitrrio e eles com frequncia o exercem de modo a contrariar nossas medidas. No topo, temos, no
sei bem quantos, mas de qualquer forma penso, no mais que alguns milhares, do lado de fora, muitas
dezenas de milhares de nosso prprio povo. Abaixo, no entanto, h centenas de milhares de velhos fun-
cionrios que recebemos do czar e da sociedade burguesa e os quais, em parte deliberadamente e em
parte involuntariamente, trabalham contra ns. (idem, Cartas sobre tctica, cit., pp. 418-419) Como
todos sabemos, a situao tornou-se muito pior conforme o tempo passou, em paralelo extenso do
controle arbitrrio tambm no topo do Estado por meio da consolidao do poder de Stalin, cujo peri-
go fora percebido por Lenin e at mesmo declarado em seu famoso Testamento, mas sem resultado.
270
Istvn Mszros
gentes, mas dessa vez na nica forma vivel das deliberaes autnomas
e conscientes, crticas e tambm autocrticas, dos indivduos orientados
para a elaborao estratgica das mediaes no antagnicas exigidas pela
nova forma histrica. Este o nico modo vivel de suplantar numa
base duradoura a ordem sociometablica cada vez mais destrutiva do
capital pela alternativa hegemnica positivamente sustentvel do sistema orgnico
socialista. Pois apenas ao afrmar de maneira bem-sucedida seus princ-
pios enquanto reproduo social em constante autorrenovao pode a
alternativa hegemnica socialista adquirir e manter sua profunda
legitimidade histrica.
A questo da transio historicamente sustentvel para uma for-
ma radicalmente diversa de controle sociometablico no um postulado
terico abstrato. Pelo contrrio, est determinada historicamente, clamando pela
elaborao e pela instituio prtica de um sistema vivel de media-
es no antagnicas. Decerto a questo das mediaes no antagnicas
emerge do contexto global internacional efetivamente existente com urgn-
cia pela primeira vez na histria nessa forma no mais protelvel, sob o
peso das graves contradies da ordem reprodutiva dominante.
A esse respeito sufciente pensar no crculo vicioso incurvel
do capital entre desperdcio e escassez melhor dizendo: a constante repro-
duo da escassez em uma escala crescente por meio da multiplicao
do desperdcio enquanto nega a satisfao at das mais elementares
necessidades humanas a bilhes de pessoas como nosso ponto inicial
deveras bvio. Vislumbrar a superao desse crculo vicioso no futuro
prximo no um postulado ilusrio, mas uma necessidade vital. Entretan-
to, absolutamente impossvel introduzir as mudanas exigidas para isso
no interior das limitaes necessrias da ordem estabelecida. Devido
inseparabilidade de seu modo de objetivao do imperativo alienante de
sua expanso cancerosa, imposta sociedade por meio da multiplicao
reifcada do valor de troca, custa do valor de uso humanamente signifcativo,
o sistema do capital estruturalmente incapaz de economizar com base nas
consideraes qualitativas enraizadas nos poderes produtivos da sociedade
de maneira simultnea ao controle racional do desperdcio, para, desse
modo, consignar ao passado nossa reproduo fetichista da escassez. Por
conseguinte, apenas a busca de um modo econmico coerentemente planejado
271
Istvn Mszros
de produo pode ser considerado vivel no futuro: uma condio im-
possvel de se realizar enquanto as mediaes antagnicas de segunda
ordem do sistema do capital continuarem a regular nosso modo de
reproduo sociometablica.
Quando comparamos as caractersticas defnidoras da ordem
histrica estabelecida com a nova forma histrica vislumbrada, somos
confrontados com as insuperveis incompatibilidades radicais entre
ambos. A negao de tais incompatibilidades a servio da acomoda-
o reformista desprovida de princpios s pode frustrar-se, como j
sabemos do passado. Reconhecer a necessidade vital da criao de um
sistema de mediaes no antagnicas no deveria signifcar de modo
algum a diluio do conceito de mediaes no sentido costumeiro de
equilbrio. Pois no caso de tentar o equilbrio reconciliador vislum-
brado de ambos, isso teria de ser alcanado entre duas ordens histricas
e sociais radicalmente distintas: uma gritante contradio em termos. Assim,
nosso ponto de partida vital e necessrio pode ser apenas a negao radical
por princpio da ordem de reproduo social destrutiva do capital. Mas,
precisamente porque estamos preocupados com uma negao por prin-
cpio das caractersticas substantivas defnidoras da ordem existente, a
nova forma histrica no pode ser satisfeita somente com a negao da
negao. Sua legitimidade histrica depende da instituio bem-sucedida
de uma alternativa reprodutiva vivel no longo prazo em seus prprios
termos substantivos positivos, no lugar da agora prevalente modalidade
de mediaes antagnicas de segunda ordem.
Sem dvida, politicamente muito mais fcil advogar em prol da
linha de menor resistncia, visando alguns ganhos almejados, do que
defender a alternativa radical exigida sob a relao de foras, em termos
organizacionais, ainda esmagadoramente em favor do capital, especial-
mente luz do arrasador fracasso da experincia histrica ps-capitalista
de tipo sovitico. Contudo, os ganhos a serem obtidos no momento so,
no melhor dos casos, parciais e temporrios, seno totalmente ilus-
rios, tendo em vista a crise estrutural aprofundada do sistema. Isso
demonstrado no apenas pela erupo de grande turbulncia industrial
e fnanceira, assim como por meio das condies ecolgicas gravemente
deteriorantes de nosso planeta, mas at mesmo por meio do constante
272
Istvn Mszros
envolvimento do imperialismo hegemnico global dos Estados Unidos
e de seus aliados subservientes em aventuras militares grotescamente
racionalizadas. Por conseguinte, no pode haver melhora signifcativa na
sorte do movimento socialista at que a necessidade de envolvimento
em uma negao por princpio substantivamente orientada do sistema
do capital, como um modo de controle sociometablico abarcador, seja
conscientemente adotada em uma escala apropriada como a estratgia
necessria para o futuro.
A esse respeito, a negao por princpio do sistema do capital
carrega consigo tambm a rejeio da descarrilada concepo errnea
de que a elaborao do modo de mediao no antagnico signifca
uma mediao entre o sistema de reproduo social ainda dominante,
no obstante seus antagonismos destrutivos, e a nova forma histrica
advogada. Isso s poderia levar a um beco sem sada.
A real mediao em questo no se refere ao que vivel entre as
duas ordens histricas qualitativamente opostas, mas no interior do dom-
nio da alternativa hegemnica necessria dominao no mais sustentvel
historicamente sobre a relao da humanidade com a natureza e sobre
os prprios indivduos sociais particulares. E esse tipo de mediao
crucialmente importante no se refere a algum futuro mais ou menos
remoto, mas ao processo histrico agora em curso. diretamente relevante
constituio prtica das modalidades e pr-requisitos organizacionais
de ao, nas quais as condies objetivas e subjetivas para a realizao
dos valores substantivos necessrios, assim como das formas corres-
pondentes de intercmbios reprodutivos historicamente sustentveis
entre os seres humanos, que elas possam ser institudas e consolidadas
como a alternativa hegemnica historicamente vivel s mediaes antagnicas de
segunda ordem do capital. Em outras palavras, concentra-se em articu-
lar conscientemente os intercmbios reprodutivos no antagnicos de
uma ordem societal qualitativamente diversa tanto como o objetivo e destino
claramente identifcados a ser alcanados e a bssola da jornada emancipa-
tria levada a cabo j em e atravs do processo histrico em progresso.
Nesse sentido, a tarefa radical por princpio buscada de modo consciente para
superar os antagonismos da ordem existente inseparavelmente negativa
e positiva ao mesmo tempo. E esse o nico signifcado apropriado que
273
Istvn Mszros
podemos dar ao termo radical, que no pode se permitir continuar ata-
do a uma defnitivamente insustentvel postura puramente negativa.
Sobretudo quando o que est em jogo a questo de uma alternativa
hegemnica historicamente vivel. Portanto, no de forma alguma
surpreendente que Marx tenha defnido o socialismo como conscincia de
si positiva do homem
27
Nas relaes interpessoais dos indivduos sociais, mediao
no antagnica signifca seu envolvimento cooperativo genuno na ati-
vidade com o propsito conscientemente escolhido de resolver alguns
problemas, ou de fato resolver algumas disputas que possam surgir de
suas relaes. O que torna o contraste desse tipo de intercmbio cons-
cientemente regulado muito claro, em comparao com a modalidade
de mediaes antagnicas agora dominantes, que a soluo projetada
para os prprios problemas que devem ser encarados no interior da
estrutura de um sistema de mediaes no antagnicas no pode se
solidifcar e perpetuar na forma de interesses parciais estruturalmente consolidados.
No curso histrico em andamento, de constituio da nova modalidade
de mediaes no antagnicas, os interesses parciais herdados devem
ser radicalmente suplantados por meio da ao cooperativa sustentada,
assegurando ao mesmo tempo as condies objetivas e subjetivas para
impedir sua reconstituio.
A prevalncia dos interesses parciais a modalidade dominante
de nossas relaes existentes de reproduo social sob o jugo do capital.
Interesses e determinaes de classe hierarquicamente assegurada e
resguardada necessariamente pr-julgam essas matrias de maneira
inevitvel em favor da parte mais forte bem antes que a questo da
mediao ou do equilbrio possam sequer surgir, transformando-
-as com frequncia em uma completa piada (ou em um vo ritual) do
procedimento de resoluo de problemas levado a cabo. Com relao
a todas as matrias verdadeiramente imperativas desde a perspectiva
privilegiada da ordem sociometablica ora dominante, relacionadas ao
imperativo estrutural de reafrmar as relaes de poder estabelecidas sobre
as quais se baseia o processo de reproduo social estabelecido, tudo
converge para o fortalecimento, por quaisquer meios, das relaes de poder obje-
27 MARX. Karl. Manuscritos econmico-flosfcos. So Paulo: Boitempo Editorial, 2004, p. 114.
274
Istvn Mszros
tivas exigidas pelo funcionamento contnuo do sistema. Isso quer dizer,
fortalec-las com o auxlio de dispositivos culturais/ideolgicos, com a
condio de que operem sob as circunstncias prevalentes em sintonia
com as exigncias sistmicas de suma importncia, ou por meio do
exerccio da fora pura (e at mesmo a imposio da extrema violncia re-
pressiva), quando as condies assim o requerem. Estas variam de acordo
com a necessidade de decretar alguns, mais ou menos duradouros, estados
de emergncia no interior de um pas particular, na ocorrncia de uma crise
maior, at arriscar mesmo guerras mundiais de propores genocidas
contra outros Estados. por esse motivo que a normalidade do sistema
do capital inconcebvel sem seu conjunto de mediaes antagnicas
de segunda ordem formalmente variadas mas em termos substantivos
sempre impostas forosamente.
Aqui tambm podemos notar que a questo da mediao no
matria de postulados flosfcos ou projees especulativas. Est pro-
fundamente relacionada a determinaes objetivas assim como a foras
e agncias correspondentes da ao de reproduo social, seja quando
tivermos em mente as mediaes antagnicas envolvidas nos proce-
dimentos sociometablicos do capital, seja aqueles de sua alternativa
hegemnica no processo de sua articulao principiada por meio do
processo histrico em curso. A questo crucial com relao instituio
de uma ordem sociometablica historicamente vivel a substituio
das mediaes antagnicas de segunda ordem do capital entre a hu-
manidade e a natureza e dos indivduos entre si por uma alternativa
qualitativamente diversa das relaes de troca fetichisticamente quanti-
fcadoras da sociedade mercantil ao poder essencialmente alienado de
tomada de deciso geral pelo Estado. Em concordncia com as condi-
es histricas e conquistas produtivas mais desenvolvidas efetiva ou
potencialmente disponveis para as pessoas envolvidas, isso s possvel
ao se redefnir e reconstituir na prtica as modalidades primrias de
intercmbio criativo entre a humanidade e a natureza: removendo assim
as camadas encrostadas e antagonicamente perpetuadas das mediaes de
segunda ordem do capital sobre as necessrias mediaes primrias do corpo social.
Naturalmente, isso exige tambm o retorno do sujeito real da
histria a seu posto de direito no controle do processo de reproduo
275
Istvn Mszros
social no lugar do sujeito usurpador. Pois, na medida em que o modo
agora estabelecido de controle sociometablico inconcebvel sem os
interesses parciais mencionados anteriormente e sem o sujeito usurpa-
dor da histria (a personifcao do capital, em qualquer uma de suas
variedades plausveis no apenas enquanto benefcirio consciente de
tais interesses parciais, mas, acima de tudo, na qualidade de controlador
privilegiado dos meios e materiais de produo e o aplicador voluntrio
do imperativo objetivo de acumulao expansiva e expanso acumulativa),
somente o sujeito real da histria pode realizar suas funes produtivas
e criativas sem se apropriar dos interesses parciais estruturalmente pre-
valentes e enormemente discriminatrios com os quais estamos todos
muito familiarizados. De fato, apenas um sujeito social constitudo com
base na igualdade substantiva defnida de modo consciente, articulada com
coerncia, e sempre mantida daquele modo, apenas esse tipo de sujeito
capaz de afrmar seu mandato histrico pela instituio das formas
alternativas exigidas de mediao societal no antagnica.
Como mencionado antes
28
, a mediao historicamente susten-
tvel algo vivel apenas como a mediao de si prpria por parte de um
sujeito social ativo, capaz de intervir autonomamente no processo de
transformao em andamento de modo concordante com seu prprio
desgnio coerente. por isso que se enfatizou que os conceitos semi-
nalmente importantes de controle e mediao de si prprios, alm da autonomia
genuna do real sujeito histrico agindo conscientemente, devem marchar
juntos a fm de serem capazes de dar um signifcado tangvel ideia da
mediao sustentvel a longo prazo exigida por nosso destino histrico.
Tambm se ressaltou no decorrer deste estudo que no s a igualdade,
mas todos os valores exigidos para sustentar essa concepo precisam
ser defnidos em termos substantivos. Isso deve ser feito em agudo con-
traste com a orientao caracterstica do sistema do capital em sua fase
descendente de desenvolvimento. Pois aquela orientao regressiva do
sistema do capital esvaziou completamente seu contedo de todos os
valores positivos um dia defendidos da liberdade fraternidade e da
democracia igualdade , no intento de fazer o contravalor prevalecer
28 MSZROS, Istvn. Estrutura Social e Formas de Conscincia: a determinao social no mtodo. So Paulo:
Boitempo Editorial, 2009, p. 275.
276
Istvn Mszros
de maneira efetiva, como tivemos a oportunidade de ver previamente.
Ao mesmo tempo a ideologia dominante pregava o oposto daquilo que
era praticado (e continua sendo), ao idealizar de modo nada ingnuo a
ordem dominante com vagas virtudes institucionais da universalidade
formal enquanto refora ardilosamente e de todas as maneiras poss-
veis a destrutiva parcialidade expansionista das mediaes antagnicas de segunda
ordem do capital.
Um exemplo paradigmtico dessa mistifcao a operao do
Estado liberal para nomear apenas a variedade mais progressista de
controle poltico global vivel sob o jugo do capital. A exigncia sist-
mica insupervel a esse respeito a excluso radical das massas do processo
substantivo de tomada de deciso. Nas atividades de reproduo mate-
rial direta isso perfeitamente alcanado pela compulso econmica qual
os trabalhadores esto sujeitos, e ao lado da propriedade exclusiva dos
meios e materiais de produo legalmente resguardada pelas personi-
fcaes do capital, permitindo-lhes exercer a tirania da fbrica de
acordo com seus interesses parciais. No domnio poltico, no entanto,
no h equivalente forosamente preestabelecido e de fato institudo
do modo mais brutal pelo infame processo histrico de acumulao
primitiva das relaes de poder hierrquicas estruturalmente assegu-
radas de dominao e subordinao de classe permanentes mediante as
quais o sistema do capital, em sua modalidade reprodutiva econmica
primria, se defne a si mesmo. Pelo contrrio, o mito de democracia
e liberdade deliberadamente cultivado, em conjuno com o meca-
nismo facilmente manipulvel das eleies livres, parece apontar na
direo oposta, estipulando o governo de muitos pelo qual at um g-
nio flosfco como Hegel pde ser to pateticamente enganado, mesmo
que de forma alguma independentemente de seus prprios interesses
ideolgicos, como vimos anteriormente.
Naturalmente, o Estado feudal absolutista tinha de ser remetido
ao passado ao longo da fase ascendente do desenvolvimento do capital,
pois era claramente incompatvel com as novas relaes de dominao
e subordinao de classe muito embora, signifcativamente, as formas
mais extremas de aplicao de poder autoritrio e ditatorial tenham sido
preservadas pelo capital, tendo em vista seus estados intermitentes de
277
Istvn Mszros
emergncia. Mas, independentemente disso, mesmo as variedades nor-
mais das formaes de Estado do capital permaneceram sempre muito
problemticas com relao alienao estruturalmente consolidada do
poder de tomada de deciso substantiva da esmagadora maioria do povo.
As grandes massas da populao receberam apenas direitos formais (como
colocar um pedao de papel dentro de uma urna a cada quatro ou cinco
anos), cujo impacto esperado poderia ser anulado sem qualquer difcul-
dade pelo funcionamento estatal efetivo, mesmo sem a instituio de
seus estados de emergncia. Dessa forma, o Estado liberal, ao restringir
democraticamente o processo de tomada de deciso aos poucos escolhi-
dos, apesar de denomin-los muitos (no interesse da mistifcao), na
realidade, exclui as massas por defnio do processo efetivo de tomada
de deciso. Ao mesmo tempo, converte em virtude o procedimento ado-
tado de excluso institucionalizada conferindo-lhe, em tom solene, mas
extremamente dbio, o ttulo de governo representativo o qual se
presume combinar plenamente os ideais declarados de liberdade e
democracia na determinao real subjacente da tomada de deciso.
Naturalmente, a verdade nua e crua disso que nem os muitos ou nem
mesmo os poucos obedientes, mas sim so os imperativos estruturais do capital
que determinam o resultado da tomada de deciso global. Pois, na qua-
lidade de fora extraparlamentar par excellence, o capital domina totalmente do
exterior graas ao reconhecimento realista das convincentes premissas
prticas do prprio sistema poltico pelos participantes consensualmente ate-
morizados com o poder societal do capital corporifcado nas incontveis
unidades reprodutivas materiais do metabolismo social. Consequente-
mente, o capital domina, no menos do interior, a tomada de deciso
estritamente institucionalizada, costumeiramente formal/carimbada,
tambm em sua variedade liberal parlamentar, o que obviamente inclui os
Estados socialdemocratas.
por esse motivo que a transio intermitente da democracia
liberal para as formas autoritrias de domnio poltico no apresenta
problema algum para as personifcaes do capital. Max Weber, graas
a sua espria mitologia da neutralidade axiolgica [Wertfreiheit], um
dolo do liberalismo, e a sua democracia serviente a si prpria um
caso exemplar. Lukcs nos lembra do fato de que:
278
Istvn Mszros
Como os ingleses ou os franceses, pensava Weber, os alemes
poderiam tornar-se uma raa mestra somente em uma
democracia. Da que, em prol da obteno dos objetivos im-
periais da Alemanha, uma democratizao tinha de ocorrer
internamente e chegar to longe quanto fosse necessrio para
a realizao de tais objetivos.
29
No que se refere ao que Weber realmente quis dizer com de-
mocratizao interna, em plena sintonia com suas credenciais liberais
a servio dos interesses de uma raa mestra alem imperialista, Lukcs
tambm cita uma conversa travada que aconteceu aps a Primeira Guerra
Mundial entre Weber e a fgura da extrema direita, general Ludendorff,
chefe de gabinete de Hindenburg e um dos mais antigos paladinos de
Hitler. Estas foram as palavras de Weber, conforme relatadas no por um
crtico hostil, mas por sua viva, Marianne Weber:
Na democracia o povo elege como seu lder um homem em
quem confa. Ento o homem eleito diz Agora segurem suas
lnguas e obedeam!. Nem o povo ou tampouco os partidos
podem contradiz-lo [...] Depois, cabe ao povo julgar se o
lder cometeu erros, ento s favas com ele.
30
E Lukcs corretamente adicionou: No surpreendente que
Ludendorff tenha dito a esse respeito: Me agrada o som de tal demo-
cracia!. Assim, a idia de democracia de Weber precipitou-se em um
cesarismo bonapartista.
31
Estas no so aberraes corrigveis a serem reparadas por ar-
gumentos razoveis melhor dizendo, pela poltica do entendimento
que, de modo mtico, Merleau-Ponty, em As aventuras da dialtica, ops
Marx ao marxismo, em nome do liberalismo heroico de Max We-
ber. Corretivos desse tipo podem apenas ocupar-se com consideraes
parciais atadas a circunstncias, e no com os interesses e orientao
centrais da formao do Estado liberal. Nesse sentido parcial, a defesa
29 LUKCS, Georg. The Destruction of Reason. Londres: Merlin, 1980, p. 609.
30 WEBER, Marianne. Max Weber: uma biografa. Niteri: Casa Jorge, 2003. Citado por Georg Lukcs em
The Destruction of Reason, 1980, p. 610.
31 Idem.
279
Istvn Mszros
de Weber de uma democracia interna como a senda para o sucesso
almejado da concorrente raa mestra alem imperialista, no modelo
dos imperialismos ingls e francs poca muito bem-sucedidos
32
, no
faz mais que assinalar as diferenas nas circunstncias histricas cuja
retifcao tentada posteriormente por Hitler pioneira e revelado-
ramente admirada por Ludendorff tomou a forma da Segunda Guerra
Mundial e no da poltica do entendimento. O ponto importante
que a excluso radical das massas do poder de tomada de deciso subs-
tantiva a ser exercido, se possvel, sem gerar muito confito uma
exigncia absoluta do sistema do capital. Ela instituda do melhor modo
praticvel precisamente pela formao do Estado liberal, que reserva as
formas muito mais instveis de seu domnio poltico autoritrio direto
uma expectativa sempre presente em seu horizonte fnal para seus
estados de emergncia mais ou menos duradouros, mas transitrios em
princpio. Essa exigncia absoluta de excluso radical teve de ser sempre
mantida em todos os nveis do sistema hierrquico de tomada de deci-
so estruturalmente consolidado do capital, das unidades de reproduo
material direta aos mais altos nveis da legislatura do Estado, porque as
mediaes antagnicas de segunda ordem do capital no poderiam possivelmente
prevalecer sem ela. A ideia de administrar as unidades reprodutivas do
sistema com base na tirania da fbrica, como o modo de controle
sociometablico estabelecido do capital sempre deve fazer e, ao mesmo
tempo, operar a estrutura de comando global de tomada de deciso no
mais agudo contraste com isto, em plena concordncia com os princ-
pios substantivos da democracia genuna pelo povo e para o povo, s
poderia ser considerada um absurdo fagrante.
O grande desafo para o futuro reparar tudo isso no intento
de realizar o nico modo vivel de tomada de deciso substantiva pelo
corpo social em sua totalidade. Pois, obviamente, a instituio de um
modo de mediao no antagnico inconcebvel enquanto as gran-
des massas do povo forem radicalmente excludas de toda tomada de
deciso signifcativa o que, nesse contexto, iguala-se a substantiva. A
32 E agora, claro, tambm o imperialismo norte-americano, que retm a democracia interna e a
liberdade como seus pontos de referncia longe de serem negligenciveis, no obstante todas as suas
violaes tentadas, at o momento ainda parciais, enquanto pratica sem hesitao princpios muito
diversos no exterior.
280
Istvn Mszros
prtica de envolvimento estritamente formal do povo em rituais eleitorais
no esquecendo o fato de que tambm esse tipo de envolvimento
categoricamente negado a ele nos quatro ou cinco anos seguintes,
mesmo com a franqueza cnica de Max Weber: Agora segurem suas
lnguas e obedeam! um substituto muito pobre para as exigncias
de tomada de deciso substantiva.
Sem dvida, a nova forma histrica impensvel sem o
exerccio da tomada de deciso substantiva pelos produtores livremente
associados como um corpo social cooperativo de verdade. E de modo
contrrio s fantasias reformistas, igualmente impensvel que as gran-
des massas da populao obtenham tal poder de tomada de deciso
substantivas como uma concesso generosamente conferida a elas pelas
solcitas personifcaes do capital. As massas devem conquist-la por e
para si mesmas com o auxlio do desenvolvimento das formas organiza-
cionais necessrias mediante as quais se torna possvel sua interveno
mais radical sobre o processo histrico em andamento. por isso que,
desde o incio, Marx insistiu que sem o desenvolvimento da criao em
massa dessa conscincia comunista no se poderia enfrentar o grande
desafo histrico que afeta diretamente as perspectivas de sobrevivncia
da humanidade
33
. Foi assim que ele julgou a importncia da conscincia
comunista em uma escala de massas:
O comunismo no para ns um estado de coisas [Zustand] que
deve ser instaurado, um Ideal para o qual a realidade dever se
direcionar. Chamamos de comunismo o movimento real que
supera o estado de coisas atual.
34
Tanto para a criao em massa dessa conscincia comunista
quanto para o xito da prpria causa faz-se necessria uma transforma-
o massiva dos homens, o que s se pode realizar por um movimento
prtico, por uma revoluo; que a revoluo, portanto, necessria no
apenas porque a classe dominante no pode ser derrubada de nenhuma
33 Ver a passagem citada na nota 7, na qual Marx acentua que, em vista da destrutividade crescente do
capital, nada menos que simplesmente [...] assegurar a sua existncia o que est agora em jogo para
os indivduos. Karl Marx e Friedrich Engels. A Ideologia Alem, cit., p. 42.
34 Ibidem, p. 38, nota a. Grifos de Marx e Engels.
281
Istvn Mszros
outra forma, mas tambm porque somente com uma revoluo a classe
que derruba detm o poder de desembaraar-se de toda a antiga imundcie
e de se tornar capaz de uma nova fundao da sociedade.
35
Como sabemos, por conta de circunstncias histricas de um
regime extremamente autoritrio que governava a Rssia czarista nos
tempos que antecederam a Revoluo de Outubro de 1917, o partido
de Lenin teve de ser constitudo como um tipo vanguardista de orga-
nizao poltica capaz de sobreviver e estender sua infuncia sob as
mais severas condies de clandestinidade. E tambm depois, quando
Gramsci teve de redefnir sua concepo do partido, tal como detalha
em sua obra O prncipe moderno, escrita em uma das prises de Mussolini, a
relao de foras prevalente na Itlia fascista e depois tambm na Ale-
manha nazista tornou mais uma vez extremamente difcil vislumbrar
a formao de uma organizao poltica revolucionria orientada na
direo da perspectiva estratgica marxiana de desenvolver uma cons-
cincia comunista de massa. Alm disso, pensando no que ocorreu no
passado mais recente com o partido leninista na Rssia e o partido de
Gramsci na Itlia, difcil deixar de concluir que o programa marxiano
para a criao em massa dessa conscincia comunista permanece um
grande desafo para o futuro. De fato, para piorar ainda mais a situao
a esse respeito, entre muitos dos pequenos grupos radicais que tentam
permanecer fis ideia de uma transformao revolucionria, apesar
das amargas decepes do passado, h uma tendncia a descartar, com
sectrio subjetivismo, o programa de constituio de um movimento so-
cialista de massas como populismo e espontanesmo. Desse modo,
muito resta a ser esclarecido e reparado tambm nesse mbito. Pois seria
muito ingnuo imaginar que o sistema exigido de mediaes no anta-
gnicas poderia ser institudo e mantido de forma bem-sucedida como
a alternativa hegemnica da nova forma histrica destrutividade da
ordem estabelecida sem o mais ativo envolvimento das grandes massas
da populao. A esse respeito, dever-se-ia manter constantemente na
memria que o moderno intercmbio universal no pode ser subsu-
mido aos indivduos seno na condio de ser subsumido a todos
36
.
35 Ibidem, p. 42.
36 Ibidem, p. 73.
282
Istvn Mszros
O ponto fnal a ser discutido que, quando pensamos nos valores
substantivos vitais exigidos para o sistema qualitativamente diverso de me-
diaes no antagnicas, em conjuno com a igualdade real, a importncia
da solidariedade vem tona. Inevitavelmente, tendo em vista os srios pe-
rigos de nossas condies presentes, a forma de solidariedade internacional
deve ser assumida como o princpio orientador e a estrutura operativa
necessrios para o intercmbio positivo dos indivduos livremente
associados em uma ordem reprodutiva globalmente entrelaada. Os
Estados-nao sempre foram uma parte integrante do sistema de media-
es antagnicas do capital, colidindo uns com os outros regularmente
da maneira mais destrutiva, com particular gravidade nas duas guerras
mundiais do sculo XX. E um dos grandes fracassos histricos do capital
como um sistema de controle sociometablico que, no plano poltico
em contradio direta com seu inexorvel impulso em direo inte-
grao econmica global , no tenha conseguido produzir um Estado
do sistema do capital como totalidade, podendo oferecer to somente
um impiedoso substituto para tal na forma da supremacia imperialista moderna do
ltimo tero do sculo XIX. E esta teve de resultar na dominao mais
instvel, sempre custa de uma devastao monumental, prefgurando
a total destruio da humanidade na eventualidade de outra confa-
grao global. O to propalado processo de globalizao em nosso
tempo no resolveu e no poderia resolver nenhum dos fatdicos
antagonismos subjacentes do sistema inquo de Estados-nao h muito
estabelecido. A globalizao capitalista agora promovida agressivamente
sob a hegemonia dos Estados Unidos apenas outra tentativa defniti-
vamente condenada de sobrepor o Estado do sistema do capital enquanto tal
ao resto do mundo
37
, sem qualquer empenho para resolver as graves
iniquidades e sofrimentos nacionais historicamente gerados e persis-
tentes. Somente a instituio e manuteno bem-sucedidas do sistema
de mediaes no antagnicas como a alternativa hegemnica da nova
forma histrica ordem do capital agora dominante pode mostrar uma
sada desses perigosos antagonismos. Pois estes no podem ser superados
sem a inter-relao plenamente equitativa de solidariedade substantiva
entre os indivduos sociais livremente associados, assim como de seus
37 Jamais devemos desconsiderar a afrmao do presidente democrata Bill Clinton, citada anterior-
mente, de que existe apenas uma nao necessria, os Estados Unidos da Amrica.
283
Istvn Mszros
pases, na forma de sua solidariedade internacional genuna capaz de
confrontar positivamente as falhas do passado. Essa a nica perspectiva
historicamente sustentvel para o futuro.
Prof. Dra. Maria Vieira Silva: Professor, como o Sr. tem analisado as polticas curriculares
na atual fase da globalizao em termos do contexto multicultural e das novas tendncias
relativas ao conhecimento?
Michael Apple: Eu comeo pensando a relao da escola e da sociedade de
maneira relacional, ou seja, s possvel falar da(s) relao(es) entre
escolas e sociedade se pensarmos as relaes de subordinao e domina-
o que existem em nossa sociedade. Mas isto est focando apenas uma
O ESTADO E AS POLTICAS
EDUCACIONAIS NO TEMPO
PRESENTE
Entrevista de Michael Apple
1
1 A entrevista com Michael Apple, professor da University of Wisconsin-Madison (EUA), foi realizada
por ocasio do desenvolvimento do V Simpsio Internacional O Estado e as Polticas Educacionais no Tempo
Presente ocorrido na Faculdade de Educao da Universidade Federal de Uberlndia, no perodo de 6 a 8
de dezembro de 2009. A entrevista foi realizada pelas Profas. Dras. Maria Vieira Silva e Mara Rbia Alves
Marques, ambas da Universidade Federal de Uberlndia, contando com a traduo simultnea do Prof.
Dr. Lus Armando Gandin da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A entrevista foi transcrita por
Paulo Vinicius Lamana Diniz, da Universidade Federal de Uberlndia.
Michael Apple o principal precursor de uma pedagogia crtica que recupera os processos repressivos
e a discriminao racial na sociedade. Autor de vrios livros, merecendo destaque Ideologia e Currculo e
Poltica Cultural e Educao. referncia internacional dentro das concepes epistemolgicas crticas ao
capitalismo e seus desdobramentos sociais.
285
Michael Apple
das partes de uma mais ampla dialtica. Ns tambm precisamos focar
nas resistncias, na vida e luta cotidiana das pessoas. E isso provoca, em
meu pensamento (e no de outras pessoas), duas questes principais.
Primeiro como entendemos o poder em toda sua complexidade, uma
vez que a educao uma relao de poder o conhecimento de al-
guns grupos declarado ofcial, e o de outros declarado apenas como
popular, no importante; as polticas de alguns grupos so colocadas
em prtica e a de outros nunca nem comentada; alguns grupos recebem
respeito se tem dinheiro e poder e o que vemos hoje so os professores
perderem o respeito e serem atacados em todo mundo. Ento a primeira
questo quem tem poder e como esse poder usado? uma questo
de entendimento. A segunda to importante quanto primeira. No
apenas como entendemos o poder e como ele funciona na sociedade,
mas tambm como interrompemos os seus efeitos? E como ns no
apenas conhecemos o poder e seus efeitos e o interrompemos no Brasil,
mas tambm como fazemos esse processo de interrupo dos efeitos do
poder em todo mundo? Uma vez que eu espero que seja um entendi-
mento claro a todos que para que o Norte tenha poder o Sul precisa ter
menos poder, precisamos entender a economia, entender quem tem po-
der dentro do Estado e entender aquilo que tenho chamado de poltica
cultural. Precisamos entender como esses vrios aspectos interagem uns
com os outros. A tarefa que me coloquei vislumbrar e entender essas
relaes, mas no apenas para olhar para elas de uma forma crtica, mas
tambm para atuar como uma espcie de secretrio dos povos que tem
lutado contra esses poderes em todo mundo. Parte da tarefa de qualquer
educador crtico no apenas fazer a anlise crtica, mas atuar como a
voz das pessoas que foram silenciadas.
Prof. Dra. Maria Vieira Silva: Nesse sentido de realar essas vozes, contrapor-se aos me-
canismos que silenciam essas vozes, como o Sr. tem percebido a relao entre o universo
acadmico e os movimentos sociais?
Michael Apple: Deixe-me antes fazer uma observao acerca da palavra
voz. Todos tm voz. Os subalternos sempre falam. O que acontece
que os grupos dominantes no ouvem. Agora outro ponto crucial, do
meu ponto de vista, que ns muitas vezes infantilizamos os movimen-
286
Michael Apple
tos sociais como se eles no falassem, entretanto qualquer pessoa que
conhea, mesmo que seja pouco, sobre o MST do Brasil, ou o movimen-
to em torno dos direitos e lutas dos afro-brasileiros ou os movimentos
nas favelas, qualquer pessoa que entende esses movimentos, sabe que
neles no existe o silncio. Eles falam. Ento, grande parte da nossa tarefa
fazer com que os grupos dominantes ouam a voz dos que esto falan-
do. Precisamos estudar como os grupos poderosos procedem de modo
que faamos com que apenas sua prpria voz seja ouvida. Por exemplo,
nos meus livros, no apenas busco entender o que acontece em termos
pedaggicos nas escolas e salas de aula, apesar disso ser profundamen-
te importante, mas tambm quem controla a mdia. Se a realidade
parcialmente formada pelos discursos que circulam na sociedade e,
por exemplo, se tivermos em mente que as pessoas fcam a ouvindo
centenas de estaes de rdio, mas se de 100 delas, 99 falam o tempo
todo de neoliberalismo e neoconservadorismo, e apenas uma fala de
questes contra-hegemnicas precisamos entender como a direita
tem controlado o discurso social.
Um dos argumentos que eu trago, pode parecer estranho, quase
um paradoxo, que ns temos que estudar como a direita conseguiu
defnir nas nossas sociedades quais so as vozes que tm poder, ou seja,
precisamos trabalhar com a mdia de modo que as vozes dos movimentos
sociais fquem mais visveis. Da mesma forma como a direita brilhante
no uso da mdia, brilhante na forma de trazer seus conhecimentos para
dentro da escola, e aqui vem o aparente paradoxo, ns estudamos a
direita de modo que encontremos formas de combat-la, interromp-la.
A extrema direita historicamente no esteve frente de grande parte das
naes, mas as teorias mais radicais dessa direita esto, hoje, no centro
das discusses de grande parte dos nossos pases. Como isso aconteceu?
Ns precisamos estudar a direita de modo que se possa entender como
ela faz seu discurso se tornar popular. No vamos manipular a realidade
da forma cnica como a direita faz, mas ela extremamente inteligen-
te no modo como faz. Eles entendem Gramsci muito melhor do que
a esquerda. Entendem que para vencer, ganhar o Estado, voc precisa
ganhar primeiro a Sociedade Civil; eles entendem que a luta em torno
da conscincia das pessoas e do conhecimento absolutamente crucial.
287
Michael Apple
Pode parecer estranho mas eu passo grande parte do meu tempo, em
minhas pesquisas, tentando entender as brilhantes estratgias da direita
nas polticas culturais atuais. Na verdade me enoja um tanto quanto. Mas
a gente nunca deve imaginar que nossos inimigos so estpidos. A partir
desse argumento geral agora eu abordo a questo da universidade.
Na verdade so os movimentos sociais que transformam a so-
ciedade. E h movimentos sociais que so mobilizados em torno da
universidade: movimentos antirracistas, das mulheres, dos portadores
de necessidades especiais, os que provm das populaes mais empo-
brecidas, que demandam que a universidade se abra a todos. Precisamos
nos solidarizar com todos eles, porque todos so cruciais. Mas a direita
entendeu muito bem como voc desmobiliza os movimentos sociais.
Por exemplo, na minha universidade o custo de estar matriculado subiu
muito nos ltimos cinco anos: uma pessoa paga 10 mil dlares por
semestre, e estamos falando de universidade pblica. Isto signifca que
muitos alunos pobres, mes solteiras, negros no podero frequentar a
universidade. O que tem acontecido que a universidade tem se tornado
uma mercadoria e os estudantes so os consumidores. A universidade
virou algo como uma garrafa de vinho argentino, um luxo, no um
direito de todos. Em funo disto novas identidades vo sendo formadas
pelos alunos e professores. Os estudantes so consumidores, esta identi-
dade acaba no traduzindo a questo racial, de gnero, de classe, ou seja,
no corao da universidade muito mais difcil formar movimentos
sociais. Os movimentos sociais frequentemente no esto mais l uma
vez que as pessoas foram marginalizadas da universidade. Pessoas mais
ricas acabam frequentando-a e essas tambm se tornam consumidores.
A doena do individualismo domina a universidade e essa doena tam-
bm infecta os professores. A relao bastante complexa, por isso
que precisamos entender, por exemplo, que algumas pessoas que so
muito progressistas acabam se tornando menos progressistas dentro das
nossas instituies, mas da mesma forma mostra a importncia que as
universidades tm.
288
Michael Apple
Profa. Dra. Mara Rbia Alves Marques: Professor, tradicionalmente o currculo primeiro
foi pensado enquanto temticas e metodologias centralizadas nas questes poltico-admi-
nistrativas, numa histria mais tradicional, enfm, em uma trajetria do Estado com seus
heris e seus discursos ofciais. Posteriormente, particularmente no Brasil nos anos de 1980,
incorporaram-se temticas relacionadas questo do trabalho, da classe, da luta dos traba-
lhadores como temas importantes dentro do currculo. De uns anos para c, ltimos 20 anos,
os currculos tiveram que incorporar, ou tm que incorporar, pois talvez no tenham incor-
porado, temticas relacionadas aos novos movimentos sociais. Como um currculo pensado
na perspectiva da teorizao crtica pode contribuir com os professores em termos de ensino,
metodologia e formao docente, para entender e trabalhar com as novas dinmicas sociais,
no s as de classe, como as de gnero, gerao e etnia?
Michael Apple: Vou comear de uma forma bastante pessoal. Eu nasci
na terceira cidade mais pobre dos EUA e frequentei escolas muito mal
fnanciadas, caindo aos pedaos. Eu me tornei professor e passei a dar
aulas nessas mesmas escolas. Como estudante nessas escolas eu estava
muito bravo o tempo todo venho de uma famlia que tem um gran-
de ativismo na classe trabalhadora. Eu era completamente invisvel no
currculo dessa escola. Toda minha tradio de vida era absolutamente
invisvel neste currculo. Meu irmo e eu ramos os nicos brancos na
escola, e todos os outros alunos, negros, tambm eram invisveis. Na es-
cola os professores continuavam dando aula, mesmo os alunos estando
muito zangados e atrapalhando as aulas. Eu comeo dizendo isto porque
h certo perigo imaginarmos que essa discusso deve partir apenas da
teoria crtica. A teoria est conectada com centenas de anos de luta e ela
intil se no se conectar com a vida de todas as crianas que esto ali
na escola, e com as lutas dos movimentos sociais para transformar as
vidas dos pais e alunos (flhos). H trs formas que poderamos defnir
em que esse currculo, de alguma forma, espelha a raiva que aparecia
em mim e muitas outras crianas.
A primeira o contedo dele e ns j tivemos algumas vitrias
em relao a isto. Essas vitrias no so presentes que nos deram os
grupos dominantes porque so bonzinhos, toda mudana exige sacri-
fcio e luta. Por exemplo, novamente de forma pessoal, quando recebi
meu treinamento (formao) para dar aula nessas escolas e regies
pobres de minha cidade, todas as disciplinas que eu tomei tinham um
289
Michael Apple
sufxo para professores: matemtica para professores, histria para
professores etc. Ns como alunos de formao de professores ramos
vistos como se no tivssemos um crebro educados para seguir
risca os livros didticos. ramos ensinados a transmitir educao, ou
como Paulo Freire dizia, reproduzir uma educao bancria. Ns como
professores lutvamos em torno do contedo do currculo porqu de
outra forma no poderamos sobreviver como professores, e ns tnha-
mos crebro.
Tambm h outras lutas em torno de outro elemento do cur-
rculo que muitas vezes esquecemos: a organizao deste currculo.
muito possvel que tenhamos muitas vitrias em torno do contedo
do currculo mas que tenhamos uma organizao curricular que im-
pea com que os alunos estabeleam uma relao entre o contedo do
currculo e sua vida cotidiana. Por exemplo, se preciso entender a his-
tria do empobrecimento e da vida das pessoas nas favelas, ou se quero
entender a contribuio das populaes negras na histria brasileira,
ou a importncia do trabalho domstico na economia, a forma como
temos organizado o currculo nos impede de enxergar essas relaes.
O currculo organizado de tal forma que parece haver muros entre as
vrias matrias escolares: damos aula de histria por 50 minutos, de-
pois de matemtica, depois de cincia, ou no damos aulas muitas vezes
(risos). Mas de modo a entender a realidade precisamos derrubar essas
paredes. Ou seja, precisamos entender as relaes entre as vrias reas
disciplinares e o modo como elas nos permitiriam enxergar a realidade.
E o terceiro elemento, e que se fala muito no Brasil, o cur-
rculo oculto. Sob qualquer ao que realizamos atrs de cada ao
nossa como professor cada ao tem mltiplas mensagens. Algumas
so bastante progressistas. Algumas se importam com as crianas que
ali esto numa sociedade que na verdade destri as pessoas. O fato de
trabalhar como professor preocupando-se com a criana que est a mi-
nha frente envia a mensagem de que as instituies podem ser formadas
em torno de uma tica do cuidado. Quero ser romntico a respeito
disto... As crianas precisam entender que a escola a sua instituio
tambm. Da mesma forma que os professores precisam entender que
essa a sua instituio, e tambm pais e ativistas polticos daquelas co-
290
Michael Apple
munidades. Mas o currculo oculto pode ter uma srie de danos como
todos sabemos. Deixe-me contar uma histria: a melhor professora que
j conheci (trabalhava com matemtica), me convidou para participar
da sala de aula dela para fazer um flme com os estudantes talvez vocs
saibam, eu menciono em um livro, eu tambm fao flme nas escolas.
Estava no fundo da sala de aula observando a aula da minha professora
favorita de matemtica, o contedo daquela aula era bastante igualitrio,
queria aplaudi-la, era extremamente interdisciplinar, as crianas gosta-
vam muito daquela professora.
Agora preciso contar o lado no to bom da histria: na aula
que ela ministrava, pedia que as crianas trouxessem problemas mate-
mticos de suas vidas/vivncias, e pedia que essas crianas colocassem
no quadro os problemas de modo que as outras pudessem resolver. Uma
das crianas que nunca falavam nada em sala de aula levantou a mo
timidamente, era uma criana negra um tanto quanto mal vestida. Esta
criana levantou-se foi at o quadro e respondeu corretamente ao pro-
blema, e a minha professora favorita de matemtica olhou com surpresa
para essa criana. O prximo problema foi apresentado. Uma criana
de classe mdia muito bem vestida levantou a mo, se dirigiu ao qua-
dro e acertou o problema. A professora simplesmente deu um sorriso
e disse: Muito bem! Muito bem!. Quero usar este exemplo simples,
mas muito concreto, para examinar as relaes entre classe, raa, gnero
e corpo. Isto Foucault e Marx juntos em uma prtica pedaggica
progressista. Ns no entendemos isto se no olharmos para as questes
de dominao e subordinao, se estivermos apenas direcionando nosso
olhar para o contedo ou forma do currculo, se no nos dssemos con-
ta de que mesmo os professores mais progressistas, por vezes, acabam
incorporando a noo, o conceito de branquidade, vivenciando a sua
posio de classe na vida cotidiana. Aprendemos tudo isto a partir da
anlise/teoria crtica. Isto requer um conhecimento terico do mundo,
uma anlise das contradies entre as relaes de poder e todos ns, e
mesmo os melhores professores, incluindo eu mesmo, precisamos dar
um passo atrs e olhar para nossas prprias aes.
291
Michael Apple
Profa. Dra. Maria Vieira Silva: Professor, Apple, nas ltimas duas dcadas temos presencia-
do a intensifcao de fuxos migratrios em escala global, isto por consequncia tem tambm
provocado a acentuao de prticas xenofbicas, racistas etc. Quais so os desafos para as
teorizaes crticas, sobretudo aquelas com referncia ao multiculturalismo, para lidar com
tal realidade posta?
Michael Apple: Em primeiro lugar, em praticamente todo o mundo o Im-
prio acabou voltando para casa. Uma das minhas citaes preferidas
de um autor chamado Salman Rushdie, e ele diz: O problema com
os ingleses que eles no entendem que sua histria foi construda
fora de suas fronteiras (podemos pensar hoje nos estadunidenses e
outras naes imperialistas). O que estamos observando no mundo hoje
este retorno de uma srie de pessoas ao centro do Imprio. Porm,
mesmo que esse entendimento de Rushdie seja bastante inteligente,
acaba tendo como pressuposto a ideia de que a raa algo que se pode
trazer a um pas. O pressuposto seria mais ou menos assim: agora que
temos imigrao, precisamos de uma educao multicultural, mas,
como sabemos, a base de sustentao da democracia liberal, tem como
fundamento a ideia de um indivduo racional, e que para que exista esse
indivduo racional preciso haver outro irracional dessa forma vemos
que at mesmo nossas teorias de Estado revolvem em torno de raa e
gnero.
Este cidado racional que merece as polticas de Estado de
bem-estar, benefcios do Estado, na verdade se parece muito comigo
(branco, de traos europeus). Quem o irracional? O imigrante, as mu-
lheres, os mulatos, os negros, os indgenas... Ou seja, para que possamos
entender esses problemas temos que nos dar conta de que essas polti-
cas esto todas baseadas em questes raciais e isto tambm me parece
crucial para as polticas culturais porque a agenda neoliberal atual est
baseada neste agente racional individual que na verdade se fundamenta
na questo da raa. Mostro no meu livro Educando direita que
grande parte da poltica educacional atual est baseada em alguns desses
princpios inconscientes. Com tudo isto, quero dizer que a soluo
para esses problemas no passa apenas pela introduo de um currculo
que seja mais multicultural obviamente esse um elemento crucial da
ao mas pelo centro de nossas prprias conscincias. Focam a ideia
292
Michael Apple
de que o outro o problema, mas na verdade o problema est dentro
de ns. Eu quase gostaria de eliminar, jogar fora, a palavra multicultu-
ralismo, porque na verdade ela se tornou uma palavra muito segura,
boazinha, e mesmo os melhores tericos sobre esses temas no Norte
e no Brasil, acabam tendendo a pensar que isto apenas um problema
terico e no percebem que a base de sua prpria identidade e a razo
pela qual eles so ouvidos exatamente porque eles ocupam/repre-
sentam essa identidade do intelectual racional que provm do centro
imperial. Claro que quero que as pessoas escutem o que tenho a dizer,
mas na verdade nada do que estou dizendo novo, por exemplo, no
Brasil por mais de cem anos as mulheres vem dizendo voc no pode
me tratar desse jeito. Os afro-brasileiros tm sua prpria teoria a res-
peito dessas questes e o grande desafo que no podemos ser apenas
os professores, precisamos ser tambm os aprendizes. por isso que
considero que a experincia da Escola cidad e do Oramento parti-
cipativo acabaram se tornando to importantes no somente no Brasil
mas no mundo, pois o multicultural algo que formado em conjunto
e no vindo exclusivamente do Estado. Por isto considero um dos papis
do educador crtico ser uma espcie de secretrio dos sem voz h in-
meros exemplos de multiculturalismo crtico, que so profundamente
poderosos em sua potencialidade, e o Brasil est no centro disto.
Num dos livros, que j foi traduzido para o portugus, no
mencionado aqui, Escolas democrticas, foi parte de nossa tentativa,
no Norte, de dizer que nossa tarefa no apenas falar de maneira abstrata
da necessidade do multiculturalismo (e diversas questes), mas tambm
prover/oferecer exemplos concretos de como essas experincias apare-
cem na prtica, porque uma das razes pela qual a direita tem vencido
a batalha do multiculturalismo o fato de terem a capacidade de dizer:
faam desse jeito. E essas podem ser prticas racistas, podem nem
funcionar etc, mas quando os prdios educacionais esto pegando fogo,
e eu como professor preciso escapar dele, e me so oferecidas duas ja-
nelas, em que a da direita diz aqui est um currculo multicultural para
voc professor; e na da esquerda so oferecidos textos e livros escritos
numa linguagem que os professores no conhecem/dominam/usam,
com o fogo chegando mais perto, muitos professores acabam pulando
293
Michael Apple
na janela da direita. Isto tem implicaes tambm para ns na universi-
dade, porque precisamos redefnir o que conta como bom trabalho, que
o multiculturalismo no seja apenas um slogan; que possamos ser capazes
de mostrar concretamente como uma experincia multicultural seria na
prtica. Precisamos nos reconstruir.
Profa. Dra. Mara Rbia Alves Marques: A propsito Professor Apple, o Sr. mencionou
experincias, particularmente a de Porto Alegre. Ns temos outras muito interessantes em
alguns municpios brasileiros, mas ainda h uma ingerncia muito forte do Estado nas
realidades educacionais locais, uma centralizao da gesto educacional. S pra exemplifcar, o
Brasil no Governo de Luiz Incio Lula da Silva, est implementando um projeto de acelerao
do crescimento chamado de PAC e h subprojetos em todas as reas sociais (PAC da sade,
PAC da educao etc.). Ento, como o Sr. v essa relao entre projetos de modernizao
econmica conduzidos pelo Estado e reformas sucessivas na educao?
Michael Apple: H uma palavra que ns deveremos usar sempre que
falamos sobre trabalho educacional, trabalho social: a palavra no re-
produo, e sim contradio. Os grupos dominantes se formam criando
alianas hegemnicas e a tarefa que eles se colocam trazer boas ideias
e torn-las seguras, no ameaadoras, e trazer as pessoas para que elas
estejam sob a liderana desses grupos. Isto quer dizer que todas as po-
lticas na verdade tem elementos de bom e mau senso. Todo campo
de poder social como, por exemplo, as polticas governamentais, a ques-
to que devemos nos fazer : essas polticas so usadas para promover
ideias incuas ou boas polticas sociais? So espcies de acordos que, na
verdade, criam espaos para o bom senso em contraposio a uma ideia
no positiva/mau senso? Eu no me oponho, em princpio, ideia de
avaliao nas escolas, mas o que acontece que na realidade na maior
parte das naes, ela tem sido usada para produzir uma espcie de fbrica
dentro das escolas. Tem sido usada para de alguma forma fltrar alguns
estudantes e manter os outros parte dos processos econmicos. Saber
o que realmente estamos conquistando importante. Um exemplo: nas
comunidades mais empobrecidas, onde no h dinheiro para sade, para
escolas e os salrios dos professores so uma desgraa, precisamos achar
formas de trazer os recursos que esto centralizados para esses locais
mais descentralizados. A questo quem vai controlar esses recursos?
294
Michael Apple
Essas decises podem ser tomadas de formas participativas, como no
Oramento Participativo. H uma relao dialtica entre o centro e a
periferia, mas tambm seria muito perigoso romantizar a ideia do local.
Eu cresci numa famlia muito pobre e muitas das ideias que eu tinha
precisaram ser reconstrudas. Por exemplo, nas famlias mais pobres da
regio sul dos EUA, onde h imensa quantidade de racismo, precisou-se
de uma ao prolongada por muitos anos pelo governo federal para
revert-las. O governo federal disse de uma forma muito incisiva a essas
comunidades locais que no iria permitir que continuassem segre-
gando as crianas negras. Ento, em algumas instncias, o Federal, a
Unio, pode ser um pouco mais progressista do que algumas prticas
locais. Mas esta ao obviamente precisa ser temporria porque o que
pode acontecer, se isto no for temporrio, so os movimentos sociais
serem desmobilizados, os professores perderem suas habilidades. Minha
opinio que depende das questes que esto em jogo.
Profa. Dra. Maria Vieira Silva: Para fnalizar Professor, mais duas indagaes: Qual o
potencial que o referencial marxista tem atualmente para os movimentos sociais e a intelec-
tualidade de esquerda na resistncia contra as polticas da direita radical? Como o Sr. v a
interveno do Estado, o papel dele, aps a crise mundial instaurada a partir de 2008?
Michael Apple: Essas so questes complexas porque eu tenho duas per-
nas, e uma e meia est imersa nas tradies marxistas. O que ns temos
visto nos ltimos anos um retorno parcial de algumas tendncias em
educao a um marxismo um tanto mecanicista. Mas tambm vivencia-
mos um ataque bastante forte da direita a essas tradies marxistas. Por
exemplo, nas universidades os professores mais radicais tm sido ataca-
dos pela direita. Estou tentando ser o mais cuidadoso possvel em minha
resposta. Eu defenderei as tradies mais humanistas do marxismo at
a minha morte mas somente se essas tradies reconhecerem a autono-
mia das questes de gnero e raa. As dinmicas de classe no explicam
raa, ajudam muito. As questes de classe ocorrem em corpos que tm
gnero e raa. muito possvel, por exemplo, que voc seja uma mulher
que tenha mais recursos fnanceiros mas no seja capaz de caminhar a
noite em certas partes da cidade, sujeita a ser violentada/assassinada. Es-
tou de propsito usando uma linguagem mais emocional porque quero
295
Michael Apple
que as pessoas entendam o que signifca concretamente expandir essa
compreenso. Raa no um discurso, raa est imiscuda, colocada
no centro de todas as nossas sociedades e no pode ser reduzida a uma
questo da economia poltica. Eu no perteno a uma igreja, portanto,
no tenho nenhum medo de heresia, acredito que h vrios elementos
das tradies marxistas que so absolutamente cruciais para entender
nossa sociedade, mas so todos insufcientes. Por outro lado, tambm
temos uma tendncia atual de imaginar que o mundo apenas discursi-
vo, e muito das tradies ps-modernas e ps-estruturalistas esquecem
da materialidade mais concreta do mundo. No meu prprio trabalho
tenho tentado incorporar tanto as tradies marxistas quanto algumas
tradies ps-estruturalistas. Entender quando essas duas tradies esto
em contato umas com as outras e captar as fascas que comeam a sair
do processo, neste momento que fazemos progresso. Eu no tenho
nenhum interesse em defender uma tradio se partes dessa tradio
no me ajudam a entender a realidade que estou enxergando/anali-
sando elas precisam ser reconstrudas. Porm, preciso ser dito, no
vamos dar como pressuposto que as novas teorias que tratam da questo
do discurso vo substituir os ensaios do marxismo e de suas tradies...
Foucault nunca disse que Marx era estpido. Esta a minha posio.
Agora a questo do Estado. Eu repito, a palavra-chave aqui
contradio. Os nicos verdadeiros leninistas hoje so os neoliberais o
nico bom Estado o Estado morto. Se pudssemos reduzir o Estado a
um pequeno grupo de contadores, ento teramos uma sociedade justa,
isto o que dizem Milton Friedman e todos Chicago boys no Chile, al-
guns dos intelectuais que cercaram FHC [Fernando Henrique Cardoso]
(risos) etc. O meu argumento de que precisa haver elementos nesse
Estado que de fato so progressistas. A questo quais aspectos? O que
conduz/guia essas prticas progressistas? Deixe-me dar um exemplo
dos EUA sobre as polticas neoliberais. Eles tm tentado privatizar todas
as escolas, coloc-las sob o domnio de empresas privadas e inseri-las
no mercado de modo que compitam umas com as outras. Mesmo que
eu e outros tenhamos criticado de forma muito contundente as prticas
das escolas pblicas, a alternativa no a privatizao. O Estado um
local de luta.
296
Michael Apple
No momento, por exemplo, em que o Estado diz que o acesso
escola deve ser garantido a pessoas portadoras de necessidades especiais,
nesse momento ele muito progressista. Mas, por outro lado, prticas
do Estado que diminuem o poder e a autonomia dos professores univer-
sitrios dentro das universidades, que roubam a linguagem das classes
populares etc., esses tipos de polticas do Estado so simplesmente
profundamente conservadoras e regressivas. Ns precisamos entender
quem est na liderana de cada uma dessas polticas que o Estado im-
plementa, e me parece que seria errado imaginar que em todas as aes
do Estado ele tem polticas no progressistas e conservadoras. Mas, mais
uma vez insisto, no sejamos romnticos, pois h grandes tendncias no
Estado que favorecem os grupos dominantes, e h concesses, acordos
etc., que o presidente Lula [Luiz Incio Lula da Silva], Obama [Barack
Obama], ou qualquer outro, tero que fazer na conduo do Estado.
por isto que os movimentos sociais so to cruciais nesse cabo de
fora que formam as polticas do Estado. A direita vai sempre puxar
essa corda o mais possvel para o seu lado, para suas prprias polticas,
e a maior quantidade dos movimentos sociais que pudemos mobilizar
para o outro lado, mais esta corda ir na direo de polticas mais pro-
gressistas. Nenhuma poltica estatal um presente, e no esqueamos
que a mobilizao que garante a conduo das polticas estatais que
atendem aos interesses dos grupos dominados. crucial lembrar disto,
principalmente na rea de educao.
ADRIANA OMENA
Doutora em Cincias da Comunicao (Comunicao e Tec-
nologia) pela Escola de Comunicaes e Artes da Universidade de So
Paulo (ECA/USP). Coordenadora do Programa de Ps-Graduao em
Comunicao e Sociedade (Mestrado Profssional Interdisciplinar em
Tecnologias, Comunicao e Educao). Faz parte do quadro de docen-
tes do Programa de Ps-Graduao em Educao (PPGED). Consultora
ad hoc da Fundao de Amparo Pesquisa e Inovao Tecnolgica do
Estado do Sergipe (Fapitec) e do Fundo Mackenzie de Pesquisa (Mack
Pesquisa).
ANTNIO BOSCO DE LIMA
Doutorado em Educao pela Pontifcia Universidade Catlica
de So Paulo e ps-doutorado pela UNICAMP na rea de concentrao
Histria, Filosofa e Educao. Professor Adjunto IV da Universidade
Federal de Uberlndia.
SOBRE OS AUTORES
298
Sobre os autores
CARLOS LUCENA
Doutor em Filosofa e Histria da Educao pela Unicamp.
Ps-doutorado em Educao pela UFSCar. Bolsista de Produtividade em
Pesquisa 2 do CNPq. Pesquisador do Histedbr. Professor Associado II na
Faculdade de Educao da Universidade Federal de Uberlndia. Coorde-
nador do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educao e Formao Humana.
FABIANE SANTANA PREVITALI
Doutorado em Cincias Sociais pela Universidade Estadual de
Campinas. Professor Associado I na Universidade Federal de Uberlndia.
Membro do Ncleo de Pesquisas em Cincias Sociais (Nupecs/UFU)
e do Laboratrio de Ensino de Sociologia (Lesoc/UFU). Coordena o
Grupo de Pesquisa Trabalho, Educao e Sociedade (GPTES/UFU). In-
vestigadora no Instituto de Histria Contempornea da Universidade
Nova de Lisboa (IHC/UNL), junto ao Grupo de Pesquisa Trabalho e
Confitos Sociais em nvel de ps-doutoramento. Pesquisadora PPM/
Fapemig e CNPq.
GABRIEL HUMBERTO MUOZ PALAFOX
Doutor em Educao e Currculo pela Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo. Docente Associado II da Universidade Federal de
Uberlndia (UFU), lotado na Faculdade de Educao Fsica (FAEFI). Pro-
fessor colaborador, membro da linha de Polticas e Gesto da Educao
do Programa de Ps-graduao em Educao da Faculdade de Educao
da UFU.
ISTVN MSZROS
Filsofo. Professor Emrito de Filosofa na Universidade de
Sussex, Inglaterra.
299
Sobre os autores
JOO DOS REIS SILVA JNIOR
Doutorado em Educao: Histria, Poltica, Sociedade pela
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo. Ps-doutorado em Socio-
logia Poltica pela Unicamp e ps-doutoramento em Economia Poltica
da Educao no Departamento de Economia da FEA-USP, com a fase
internacional na University of London. Livre-docente em Educao
pela Faculdade de Educao da USP. Lder do Grupo de Pesquisa em
Economia Poltica da Educao e Formao Humana (GEPEFH/UFSCar/
CNPq). Professor da Universidade Federal de So Carlos e Senior
Research Fellow na Mercer University (GA-US).
JOS CLAUDINEI LOMBARDI
Doutorado em Educao, rea de Concentrao: Filosofa
e Histria da Educao, pela Universidade Estadual de Campinas.
Livre-docncia em Histria da Educao na Faculdade de Educao da
Unicamp. Professor livre-docente na Universidade Estadual de Campi-
nas. Coordenador executivo do Grupo de Estudos e Pesquisas Histria,
Sociedade e Educao no Brasil (Histedbr). Atual Secretrio Municipal
de Educao no municpio de Limeira, estado de So Paulo.
LZARA CRISTINA DA SILVA
Doutorado em Educao pela Universidade Federal de Uber-
lndia. Professor assistente da Universidade Federal de Uberlndia.
Coordenadora do Centro de Ensino, Pesquisa, Extenso e Atendimento
em Educao Especial (Cepae/Faced/UFU). Coordenadora do curso de
Pedagogia (UFU). Professora da Linha de Pesquisa Estado, Poltica e Ges-
to da Educao do Programa de PsGraduao em Educao (UFU).
300
Sobre os autores
LCIA MARIA WANDERLEY NEVES
Doutorado em Educao pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Professor aposentado da UFPE, pesquisador visitante do Pro-
grama de Ps-Graduao em Educao da UFF. pesquisadorbolsista
da Fundao Oswaldo Cruz. Coordena o grupo de pesquisa CNPq/
Fiocruz-EPSJV denominado Coletivo de Estudos de Poltica Educacional.
LURDES LUCENA
Doutora em Educao pela Universidade Federal de Uberlndia.
Membro do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educao e Formao Humana.
Professora da ESAMC/Uberlndia e da Unipac. Integrante do Histedbr.
MARA RBIA ALVES MARQUES
Doutora em Educao pela Universidade Metodista de Pira-
cicaba. Professora pesquisadora do Ncleo de Polticas e Gesto em
Educao da Faculdade de Educao e da Linha homnima dos Cursos
de Mestrado e Doutorado do Programa de Ps-Graduao em Educao
da Faculdade de Educao da Universidade Federal de Uberlndia.
MARCELA ALEJANDRA PRONKO
Doutora em Histria pela Universidade Federal Fluminense.
Professora-pesquisadora da Escola Politcnica de Sade Joaquim Venn-
cio da Fundao Oswaldo Cruz e professora colaboradora do Mestrado
em Poltica e Gesto da Educao da Universidad Nacional de Lujn
(Argentina).
301
Sobre os autores
MARIA VIEIRA SILVA
Doutorado em Educao pela Universidade Estadual de Cam-
pinas e ps-doutorado em Educao pela Universit Paris X, como
bolsista snior do CNPq. Pesquisadora associada ao Centre de Recher-
ches Sociologiques et Politiques de Paris (Cresppa) e Coordenadora do
Grupo de Pesquisa Polis - Polticas, Educao e Cidadania (UFU), com
fnanciamento pela Fapemig. Coordena o Programa de Ps-Graduao
em Educao (Mestrado e Doutorado) da UFU e editora da Revista
Educao e Polticas em Debate.
MICHAEL APPLE
Doctor of Humane Letters (McGill University/Canada). Pro-
fessor Departments of Curriculum and Instructions and Educations
Policy Studies, School of Education, University of Wisconsin. Visiting
Professorship (June 2012 present) in School of Education, University
of Manchester, England.
OLINDA MARIA NORONHA
Doutora em Educao: Filosofa e Histria da Educao pela
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo. Livre Docente em His-
tria da Educao pela Unicamp. Professora adjunta da Faculdade de
Educao da Unicamp.
PIERRE HENRI TRINQUET
Doutor em Sociologia, Erglogo da Universidade de Provena e
do Mediterrneo, Frana, profssional da construo civil e pesquisador
das situaes de trabalho para sade e segurana do trabalhador.
302
Sobre os autores
ROBSON LUIZ DE FRANA
Ps-Doutor em Poltica Educacional pela Universidade Federal
da Paraba. Doutor em Educao na Linha de Polticas Pblicas pela
Universidade Jlio Mesquita Filho (Unesp/Araraquara). Especialista em
Direito Educacional. Especialista em Superviso e Administrao Esco-
lar. Membro do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Educao e Formao
Humana. Pesquisador do Centro de Investigao em Educao (CIE)
da Universidade da Madeira (Funchal/Portugal). Desenvolve estudos e
pesquisas sobre Currculo e Formao Profssional, Trabalho e Educao,
Cidadania e Precarizao do Trabalho.
SARITA MEDINA SILVA
Doutor em Educao pela Universidade Estadual de Campinas.
Professora do curso de pedagogia e licenciaturas e do programa de Ps-
-Graduao em Educao da Faculdade de Educao da Universidade
Federal de Uberlndia, com nfase em Poltica e Gesto da Educao.
You might also like
- Professores em Atividade de Ensino THC - Moretti e MouraDocument16 pagesProfessores em Atividade de Ensino THC - Moretti e MouraHelenaNo ratings yet
- Texto9GilsonLudmer PDFDocument24 pagesTexto9GilsonLudmer PDFsmithangelo2No ratings yet
- O Uso Do Portfolio Reflexivo Na Perspectiva Histórico CulturalDocument18 pagesO Uso Do Portfolio Reflexivo Na Perspectiva Histórico Culturalsmithangelo2No ratings yet
- ANGELO, A. G. S. Considerações sobre um campo conceitual comum entre a formação básica escolar, projeto e as tecnologias digitais de modelagem e fabricação. 2015. Dissertação (Mestrado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.Document250 pagesANGELO, A. G. S. Considerações sobre um campo conceitual comum entre a formação básica escolar, projeto e as tecnologias digitais de modelagem e fabricação. 2015. Dissertação (Mestrado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.smithangelo2No ratings yet
- Formação básica, projeto e tecnologias digitaisDocument250 pagesFormação básica, projeto e tecnologias digitaissmithangelo2No ratings yet
- Professores em Atividade de Ensino THC - Moretti e MouraDocument16 pagesProfessores em Atividade de Ensino THC - Moretti e MouraHelenaNo ratings yet
- 2009 - O Ensino Do Projecto de ArquitecturaDocument442 pages2009 - O Ensino Do Projecto de Arquitecturasmithangelo2No ratings yet
- Marx e A TécnicaDocument11 pagesMarx e A Técnicasmithangelo2No ratings yet
- Estudo Mediacao TeoriaDocument416 pagesEstudo Mediacao Teoriasmithangelo2No ratings yet
- História Da Percepção Na Acção Projectual Mestre, Arquitecto, Luís Miguel de Barros Moreira Pinto 2007Document246 pagesHistória Da Percepção Na Acção Projectual Mestre, Arquitecto, Luís Miguel de Barros Moreira Pinto 2007smithangelo2No ratings yet
- Vigotski Ensino Desenvolvimental Zoia PrestesDocument19 pagesVigotski Ensino Desenvolvimental Zoia Prestessmithangelo2No ratings yet
- Martins L M Desenvolvimento DoPsiquismo Capitulo I P. 17 49Document17 pagesMartins L M Desenvolvimento DoPsiquismo Capitulo I P. 17 49smithangelo2No ratings yet
- Martins L M Desenvolvimento DoPsiquismo Capitulo I P. 17 49Document17 pagesMartins L M Desenvolvimento DoPsiquismo Capitulo I P. 17 49smithangelo2No ratings yet
- A Ideologia Da Nova Educacao Profissional No Contexto Da Reestruturacao ProdutivaDocument360 pagesA Ideologia Da Nova Educacao Profissional No Contexto Da Reestruturacao ProdutivaDaniela de CamposNo ratings yet
- Brinquedos, Modelos: Uma Atividade Lúdica Se Transforma em Curricular Com Apoio Das Novas Tecnologias de Fabricação DigitalDocument4 pagesBrinquedos, Modelos: Uma Atividade Lúdica Se Transforma em Curricular Com Apoio Das Novas Tecnologias de Fabricação DigitalcanellaeNo ratings yet
- Anais ALICE 2013Document135 pagesAnais ALICE 2013flalvessNo ratings yet
- Novos Caminhos Da Inclusao Digital Livro+Telecentros-FINALDocument320 pagesNovos Caminhos Da Inclusao Digital Livro+Telecentros-FINALsmithangelo2No ratings yet
- A teoria da curvatura da vara e a democracia na escolaDocument11 pagesA teoria da curvatura da vara e a democracia na escolasmithangelo2No ratings yet
- Entrevista SavianiDocument5 pagesEntrevista Savianismithangelo2No ratings yet
- 105 o Crescimento Como Metafora Da EducacaoDocument11 pages105 o Crescimento Como Metafora Da Educacaosmithangelo2No ratings yet
- Educação Infantil Nos Paise Do MercoSulDocument121 pagesEducação Infantil Nos Paise Do MercoSulMarcelino Pinheiro Dos SantosNo ratings yet
- Pequeno Dicionário Das Utopias PDFDocument80 pagesPequeno Dicionário Das Utopias PDFInes Cozzo75% (4)
- Concepção Histórico-Crítica Da Educação: Duas LeiturasDocument14 pagesConcepção Histórico-Crítica Da Educação: Duas Leiturassmithangelo2No ratings yet
- Tese SegniniDocument244 pagesTese SegniniGloria Rodriguez CorreiaNo ratings yet
- Pedagogia das competênciasDocument8 pagesPedagogia das competênciasBruno ConteNo ratings yet
- TESE JAIR DINIZ MIGUEL Historia Construtivismo RussoDocument404 pagesTESE JAIR DINIZ MIGUEL Historia Construtivismo Russosmithangelo2No ratings yet
- Arquitetura orgânica de Wright na obra de Carvalho e SilvaDocument179 pagesArquitetura orgânica de Wright na obra de Carvalho e Silvasmithangelo2No ratings yet
- CatalogoWerkbund FINAL 27.02Document64 pagesCatalogoWerkbund FINAL 27.02smithangelo2No ratings yet
- Fab Lab Kids - Sigradi 2012 - FinalDocument4 pagesFab Lab Kids - Sigradi 2012 - Finalsmithangelo2No ratings yet
- Barros tpdrprudENTEDocument412 pagesBarros tpdrprudENTETATIANA THOMENo ratings yet
- Tendências pedagógicas e pressupostos de aprendizagemDocument11 pagesTendências pedagógicas e pressupostos de aprendizagemraimundo joseNo ratings yet
- Elite Resolve Fuvest 2019 PortuguesDocument7 pagesElite Resolve Fuvest 2019 PortuguesOswaldo StanziolaNo ratings yet
- Consciência e relações sociais no capitalismoDocument4 pagesConsciência e relações sociais no capitalismoAlexandre de AlmeidaNo ratings yet
- O Bugre - Um João-NinguémDocument8 pagesO Bugre - Um João-Ninguémivan talonNo ratings yet
- Pedro Fiori Arantes Ceve UsinaDocument20 pagesPedro Fiori Arantes Ceve Usinatlee0No ratings yet
- A crise estrutural do capital e as relações trabalho-educaçãoDocument10 pagesA crise estrutural do capital e as relações trabalho-educaçãoAUR10No ratings yet
- Escolas de pensamento econômicoDocument4 pagesEscolas de pensamento econômicoCarol MenezesNo ratings yet
- Onde o Comunismo Deu Certo - Blog Da MillyDocument5 pagesOnde o Comunismo Deu Certo - Blog Da MillyMestre CascavelNo ratings yet
- Dossie Revista PDFDocument426 pagesDossie Revista PDFPother DilceleNo ratings yet
- Paes de Paula (2005)Document134 pagesPaes de Paula (2005)the autosNo ratings yet
- Avaliação 9º Ano LDDocument3 pagesAvaliação 9º Ano LDLucas Araujo MatosNo ratings yet
- Anacarolina Xavier - Roteiro de Estudos 3 Série GeografiaDocument10 pagesAnacarolina Xavier - Roteiro de Estudos 3 Série Geografiaアナ カロリナNo ratings yet
- Apostilas de ECOPOL - Manuel MoraisDocument42 pagesApostilas de ECOPOL - Manuel MoraisJaime MoraisNo ratings yet
- Lista de exercícios sobre globalização e economia do BrasilDocument7 pagesLista de exercícios sobre globalização e economia do BrasilGabriel BentesNo ratings yet
- JULIAO, Helena Vicentini. DIB, Aline Michelle. Desigualdade de Genero No Mercado e As Formas de Enfrentamento Alicerçadas Na OIT.Document18 pagesJULIAO, Helena Vicentini. DIB, Aline Michelle. Desigualdade de Genero No Mercado e As Formas de Enfrentamento Alicerçadas Na OIT.Vanessa CarneiroNo ratings yet
- Geopolítica Da CafetinagemDocument9 pagesGeopolítica Da CafetinagemRenato Müller PintoNo ratings yet
- Os Impactos Do Neoliberalismo Na Educação Brasileira Uma AnáliseDocument9 pagesOs Impactos Do Neoliberalismo Na Educação Brasileira Uma AnáliseRaimundo Marcos Furtado XimenesNo ratings yet
- KI-ZERBO, Joseph - para Quando A AfricaDocument86 pagesKI-ZERBO, Joseph - para Quando A AfricaVinicius Moretti67% (3)
- A Revolução Cultural e Os Aparelhos de Hegemonia - O Papel Da Indústria Cultural Na Subversão Do Ethos Ocidental. Luiz Henrique PDFDocument66 pagesA Revolução Cultural e Os Aparelhos de Hegemonia - O Papel Da Indústria Cultural Na Subversão Do Ethos Ocidental. Luiz Henrique PDFRodrigo RobertoNo ratings yet
- Seminário Temático em Saúde, Educação e HabitaçãoDocument195 pagesSeminário Temático em Saúde, Educação e Habitaçãoalexandre nascimentoNo ratings yet
- CADERNO DE ATIVIDADES Teorias Da AdministraçãoDocument88 pagesCADERNO DE ATIVIDADES Teorias Da AdministraçãoMarcelo Neco100% (1)
- Educação e Democracia de SavianiDocument3 pagesEducação e Democracia de SavianiAmanda FagundesNo ratings yet
- Evolução das relações sociais e produção ao longo da história humanaDocument3 pagesEvolução das relações sociais e produção ao longo da história humanaSuelen FernandesNo ratings yet
- Educação Básica e Gestão Da Escola PublicaDocument243 pagesEducação Básica e Gestão Da Escola PublicaAnakezia LimaNo ratings yet
- Resenha - A Lógica Territorial Do Capitalismo Histórico. Adam Smith em Pequim. Giovanni ArrighiDocument2 pagesResenha - A Lógica Territorial Do Capitalismo Histórico. Adam Smith em Pequim. Giovanni ArrighiVerônicaSakaraguiNo ratings yet
- Redação - BoechatDocument3 pagesRedação - Boechatmuramoto_deboraNo ratings yet
- FIORI, José Luís. Os Moedeiros Falsos. Folha de S. Paulo - 3 de Julho de 1994.Document9 pagesFIORI, José Luís. Os Moedeiros Falsos. Folha de S. Paulo - 3 de Julho de 1994.Edmilson SoaresNo ratings yet
- Angelo Martins JR 7Document23 pagesAngelo Martins JR 7Milton JúlioNo ratings yet
- Tecnologia democrática e experiência: Uma introdução à teoria crítica da tecnologiaDocument233 pagesTecnologia democrática e experiência: Uma introdução à teoria crítica da tecnologiaMonisa Lopes Monteiro100% (1)