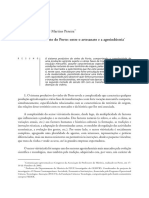Professional Documents
Culture Documents
1 PB
1 PB
Uploaded by
Caio Melo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views14 pagesCrítica
Original Title
36774-43312-1-PB
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCrítica
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views14 pages1 PB
1 PB
Uploaded by
Caio MeloCrítica
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
ACRITICA ANTROPOLOGICA __
POS-MODERNA E A CONSTRUCAO
TEXTUAL DA ETNOGRAFIA
RELIGIOSA AFRO-BRASILEIRA
‘Vagner Gongalves da Silva
RESUMO.
(© texto retoma alguns aspectes da critica antropolgica pés-modera.como 0 papel 40 autor eat condighes de produgto 60
{exo etnoprificeeacionando-os com as elnografias dos principassestudiene doe cultossfro-rasileios.
UNITERMOS
POS.MODERNISMO - RELIGIOES AFRO-BRASILEIRAS . TRADICAO ORAL EESCRITA - ANALISE DE DISCUR-
50 - ETNOGRAFIA
INTRODUCAO"
O ps modernismo na Antropotosa,segun
do bibliografia recentemente produzida nos Es-
tados Unidos, tem como caracteristica principal
formular uma critica ao texto etnogréfico
classico, considerando questées como suas
“Seria diferente se os sociblogos
das ciéncias levassem em conta a
economia dos discursos, em lugar
de consideré-los apenas como
suporte de informacoes. "
Dominique Maingueneau
‘condigoes de produgio, o papel do autor, os
recursos ret6ricos utilizados e a auséncia, no
texto, de uma perspectiva critica mediando a
‘cultura descrita (do informante) em funco da
cultura para qual se escreve (do autor).
jpresentado no curso “Teoris Antropoléices Moderna” miistrado pela Profs.Dra. Maria Manuela Carneiro
1989; eno Nicleo de Antropologia Urbana da USP diigo pelo Prof Dr. Joeé Guilherme Cantor Magnani.
‘Agradeco a todos pelas sugesites © oportunidade de discuts at idéias aqui expeeas,e=pecalmente & Rita de Céssia 40
‘Amaral, Ao Omar Ribeiro e& Cristina Red devo incentivo& publicagtoe a Crise Cristiane o trabalho de digitacto do
© contato com uma parcela dessa
bibliografia da reflexio p6s-moderna,
apresentada em linhas gerais na primeira parte
desse trabalho, sugeriv-me, entao, a
possibilidade de sua aplicagao para alguns dos
textos etnogréficos da bibliografia religiosa
afro-brasileira, com os quais venho trabalhando
ultimamente na realizagao de projeto de
dissertagdo de mestrado, que trata das
transformacées rituais ¢ simbélicas no culto
urbano 20s orixés, na cidade de Séo Paulo.
Alguns desses textos, como aqueles produzidos
por Roger Bastide, Pierre Verger ¢ Juana
Elbein, entre outros. tém sido recentemente
criticados em funcio dos modelos por demais
idealizados que propdem para andlise do
material religioso afro-brasileiro, Além da
presenca ambigua do autor. que aparece como
pesquisador para legitimar a sistematizagéo
Proposta no texto, ¢ como “iniciado ” para
garantir uma perspectiva “desde dentro ”.
Contudo.essas criticas frequentemente néo
focalizam os artificios da construcdo textual, os
quais, conforme tentarei demonstrar na segunda
parte desse trabalho, sio elementos importantes
(e elucidativos) do fazer etnografico desses
autores.
Um outro aspecto a ser explicado, ¢ para ©
qual a anilise do discurso pode contribuir, ¢
aquele referente ao fato de que alguns textos da
etnografia religiosa afro-brasileira vém se
transformando, recentemente, em verdadeiras
fontes de consulta para um némero crescente de
leitores religiosos, que passam a tratar as
informagbes etnograficas como verdadeiros
estatutos de regras rituais vélidas para todas as
comunidades religiosas.
Essa transformagio da obra etnogréfica em
uum potencial texto (litirgico e doutringrio) de
uma religiéo acostumada & transmissao oral dos
‘conhecimentos rituais, € 0 que trata a conclusio
deste trabalho.
OS POS-MODERNOS
A chamada geracéo pos-moderna de
antropologia norte-americana. representeda
ra
por autores como J.Clifford, G.Marcus, James
Boon, Paul Rabinow, entre outros, tem recebido
forte inspiracio tebrica de pensadores curopeus
como M.Bakhtin, M.Foucault, R.Barthes,
PBourdicu, 0 que nos leva primeiramente a
considerar alguns dos argumentos destes
pensadores, principalmente aqueles
relacionados com a filosofia da linguagem e com
acpistemologia das ciéncias.
Tnicialmente foi M.Bakhtin quem chamou
atengao alguns determinantes da
linguagem; dizia ele que,
“assim como, para observar 0 processo de
combustdo. convém colocar 0 corpo no meio
armosférico. da mesma forma, para observar 0
fendmeno da linguagem, é preciso sitwar os
suujeitos — emissor e receptor do som — bem
como 0 préprio som. no meio social. ”
(BAKHTIN.1988:70)
Para Bakhtin a enunciagéo resulta da
interagao de individuos. socialmente
‘organizados ¢ a palavra fungéo das pessoas as
quais e dirige, pois, segundo ele, ndo pode haver
Tinguagem com um interlocutor abstrato.
‘O contexto social ndo se reduz, entretanto, a
sobredeterminar a estrutura da enunciagao
(forme ¢ estilo, por exemplo) enquanto sua
causa externa (a situagao extraverbal),
configurando, antes, um elemento necessério
constituinte da propria estrutura seméntica
gerada no ¢ através do enunciado,
Colocando-se nessa perspectiva, a filosofia
da linguagem de Bakhtin, em que pese a
influéncia marxista em suas formulagées, pode
desenvolver abordagens mais abrangentes
considcrando, além do conjunto das regras
estruturais que presidem as relagies dos termos
de uma lingua, questdes como a natureza dos
fendmenos linguisticos, 0 problema da
significagio, as bases sociais da enunciacao, os
géncros do discurso (direto,indircto,livre etc), ¢
as regras sociol6gicas que os regem.
AAs idéias desenvolvidas pela linguistica de
Bakhtin, principalmente aquelas referentes 8
andlise de discurso, anunciaram de uma certa
maneiraa pertinéncia de temasreferidos na obra
de Michel Foucault e Pierre Bourdieu que
trataram, sobretudo, das questdes relatives 20
discurso cientifico,
Cademot de Campo -n® 1 - 1991
Para Foucault, o queem Bakhtin foi definido
como condigées de produgio do discurso,
resvalou para a andlise das instituiges
discursivas (privilegiando seus aparethos), Para
Bourdieu 0 discurso cientifico deveria
referendar suas condigées sociais de produgao
através da nogéo de campo cientfico enquanto
locus de disputa pelo monopélio da autoridade
cientifica
* 0 campo cientifica, enquanto sistema de
relacaes objetivas entre posicoes adquiridas (em
Jutas anteriores), é 0 lugar, o espaco de jogo de
uma huta concomrencial. O que esié em jogo
especificamente nessa luta é 0 monopélio da
‘autoridade cientifica definida , de maneira
insepardvel como capacidade técnica e poder«
social: ou, se quisermos, 0 monopélio da
competéncia cientifica, compreendida enquanto
capacidade de falar e de agi legtimamente (isto
é de maneira autorizada ¢ com autoridade), que
é socialmente outorgada a um agente
determinado. ”
(BOURDIEU.1983:123)
Assim, a reflexio crescente sobre estes
aspectos relacionados com as condigies de
produgio da discursividade cientifica serviu de
inspiracdo para delinear, no interior da
Antropologia, um conjunto de criticas
relacionadas principalmente ao modo de
construcéo textual ¢ ao tipo de interlocugéo
cultural estabelecidos pelas etnografias clissicas
© contempordneas.
Os autores dessas eriticas, antropélogos
norte-americanos designados de pis-modernos,
sofreram também grande influéncia da vertente
interpretativa da antropologia americana.
E bom lembrar que a antropologia
interpretativa desenvolvida principalmente por
Clifford Geertz, surge em décadas recentes no
contexto da desconfianga dos antropélogos com
relacdo & capacidade explicativa dos modelos
cléssicos de representagées culturais holisticase
fechadas do Outro. Introduzindo questoes
telativas & hermenéutica € ao Vertehen alemio,
Geertz procurou ver a cultura como um texto,
uma tessitura de significados elaborados
socialmente pelos homens ¢ sua exegese 0 oficio
dda Antropologia. A interpretacao antropologica
configurava, assim. uma leitura de segunda ou
Acrtica entropolépica o6s-moderna
tereeira mao feita “por sobre os ombros do
rnativo” que faz aleitura de primeira mao de sua
cultura, A anélise cultural interpretativa
afirmava explicitamente no texto etnografico
seus limites ou mesmo © caréter particular ¢
muitas vezes provisorio dos resultados da
andlise
Mas foi somente a partir do final dos anos 70
que 0s horizontes dessa critica antropol6gica
foram redirecionados possibiliando a reflexio
dos antropSlogos pés-modernos, os quais,
acostumados a ver as culturas como texto © @
Antropologia como sua interpretacdo, passaram
tomar o proprio texto etnografico como objeto
de interpretagio, Assim, observando os
observadores e seus escritos (antropélogos em
sua pratica de pesquisa). as preocupagies destes
etndgrafos (ov “meta-emdgrafos”) recairam
sobre questées relativas ao proprio processo de
produgio do conhecimento antropologico
sobre @ autoria dos textos resultantes desse
processo.
Para esses autores no foram ainda
exploradas todas as consequéncias da dentincia
ddos constrangimentos que presidem a atuagao
do antropélogo em campo. iniciada a partir do
contexto de descolonizagao dos povos
tradicionalmente estudados pela Antropologia.
James Clifford (1983) tem mostrado, por
exemplo, como o estilo textual da etnografia
alassica estabeleceu, entre outros aspectos, 0
Pressuposto da autoridade do etndgrafo, cuja
presenga aparece na introducio do livro ou em
notas ao pé da pagina para valorizar sua
cexperiéncia pessoal de campo (“de anos vivendo
entre nativos”) © garantir a veracidade das
informagies, mas desaparece do texto principal
para garantir, com a impessoalidade do discurso
indireto, @legitimidade das conclusées.
Essa pratica discursiva tende a nao
‘considerar 0 conhecimento etnogréfico como
resultado de situagdes de diélogo entre
subjetividades concretas que interagem em
condigées sobredeterminadas de contato © de
negociacdo de sentido, Ou seja, 0 texto
etnografico ao privilegiar a voz do antropélogo,
tende a anular as outras vores que © compoetn,
© que somente em alguns trechos poderao ser
ouvidas em forma de. citagéo ou de
“0
representacao do didlogo assinada pelo autor.
As relagies de contato entre subjetividades de
mundos culturais diferenciados ou divididos
imternamente por critérios societais sfo assim
ingenuamente desconsideradas na confeceio da
“ficgéo persuasive” —_etnogréfica
(STRATHERN. 1987257).
Para os autores pos-modernos tanto a critica
as descrigdes culturais fechadas presentes na
cetnografia classica, como as descrigdes culturais
densas da escola interpretativa, devem ser
entendidas como subsfdio para uma avaliagéo da
propria natureza do fazer etnogrfico. da divisio
centre 0 observador e observado e da auséncia de
uma perspectiva critica entre as culturas que
centram em contato na situagao de pesquisa,
Como argumenta J.Clifford, trata-se de
trazer para o corpus descritivo do texto
etnogréfico as vérias vozes que o modclam as
condigdes sociais, pliticas e de daminacéo que
marcam as circunstancias do diélogo
estabelecido pelo encontro etnogréfico, assim
como evidenciar os interlocutores concretos 20s
‘quais 0 texto se dirige ¢ adquirc legibilidade
Enesse sentido cabe a linguagem etnogrifica
tentar recuperar a concreta concepedo
‘eterbglota do mundo.
“Um modelo discursivo da pritica emogrifica
dé preeminéncia @intersubjetividade de toda fala,
€ a0 seu contexto performativo imediato (..): as
‘palavras da escrita etnogréfica(...)ndo podent ser
construidas monologicamente, como uma
afirmacao de autoridades sobre, ou interpretagéo
de uma realidade abstrata.textualizada. A
linguagem da emografia ¢ impregnada de outras
subjetividades e de tonalidades contextualmente
especificas. Porque toda linguagem: na visdo de
Bakhtin, & uma conereta concepedo heterdglota
do mundo.”
(CLIFFORD, 1983:133.trad.Tereza
Caldeira)
E bom lembrar ainda que a critica
pOs-moderna nao se caracteriza propriamente
‘como uma avaliacéo epistemol6gica da ciéncia
antropolégica, ainda que suas fontes de
inspiragéo sejam pensadores conhecidos pelas
suas incursées no émbito da filosofia das
ciéncias,
Na verdade 0 objeto dessa critica refere-se
muito mais a pratica discursiva etnogratfica do
que aos conceitos ou Ieis utilizados pela
antropologia enquanto ciéncia teérica —
embora nem sempre seja possivel diferencia
‘com clareza esses dois dominios.
‘Além disso, a critica pés-moderna deve ser
entendida no contexto da auto-reflexéo
realizada recentemente por antropélogos do
Primeiro Mundo em relacao 20 tipo de prética
de pesquisa ¢ de escritos produzidos sobre os
povos estudados. em geral dependentes
econémica, politica ¢ culturalmente da
sociedade do pesquisador (ou mesmo no
conterto das “relacdes abjetivas entre posicdes
adguiridas” que perfazem 0 campo cientfico
antropolégico norte-americano).
Desse modo nem todos os aspectos dessa
critica podem ser diretamente aplicdveis as
outras antropologias, isto & as antropologias
praticadas por exemplo, nos paises do Terceiro
Mundo, 0 que nao significa dizer que essas
antropologias nativas, fortemente influencidas
pelos esquemas tebricos e praticas discursivas
estabelecidas nos grandes centros de discusséo
académica, no sejam passiveis de uma andlise
baseada na desconstrugdo textual etnogréfica,
nos moldes daquela proposta pelos autores
pos-modernos.
£, enfim, da verificagio de quais os
‘elementos novos que a critica pés moderna pode
oferecer na anélise da bibliografia
afro-brasileira que otrabalho tratard, Para tanto
foram selecionados os textos de 1rés autores
considerados “autoridades emogrdficas” nesse
campo: Roger Bastide. Juana Elbein ¢ Pierre
Verger.
ETNOGRAFIA RELIGIOSA
AFRO-BRASILEIRA
O estilo apurado da construgao narrativa de
Roger Bastide. talvezo mais publicado e lido dos
autores afro-brasileiros. pode ser constatado em
diversos escritos de sua vasta obra, mas em
‘Cacernos de Campo -né += 1901
rnenhum téo esmerado como em “Imagens do
Nordeste Mistico"(1945), um registro singelo ¢
encantado de uma curta viagem pela Bahia ¢
Recife, durante a qual o autor descobriu um
mundo novo aos seus olhas, constituido por
velhas igrejas barrocas, misticos candomblés €
ladicos carnavais de rua.
“Imagens”. como proprio Bastide defini
na Introdugdo.ndo ¢ “um livro de ciéncia pura.
nem tampouco (..) uma espécie de conto lirico.
Na verdade lembra mesmo um didrio de viagem
escrito no estilo proprio de surpresa €
encantamento, sentimentos pelos quais passam
0s turistas diante de lugares © pessoas que
transformam sua compreensio da vida. O titulo
do primeiro capitulo ~ “Bahia, a mistica das
pedras e da madeira esculpida” — revela em sio
efeito de arrebatamento experimentado pelo
‘Autor diante do mundo observado. Mas sendo
este principalmente um treinado observador
Gientifico, © relato assume frequentemente @
forma de um estudo sistemético. Daf porque,
diante da dificuldade de classificagéo do texto,
Geraldo de Freitas, na apresentacio do livto,
Jembra que “o leitor leigo desamparado dos
conhecimentos da matériasteré de confiar na
‘capacidade do autor do livro em ter se servido de
elementos seguros e informacoes certas”
Quando, em 1958, Bastide publica “Os
Candombiés da Bahia”. seu mais conhecido
estudo sobre 0 mundo dos candomblés, foi
possfvel perceber na obra uma continuidade do
estilodesenvolvido em “Imagens” embora agora
2 vor do cientista se fizesse ouvir mais alta,
atenuando. assim, as ressalvas lembradas por
Geraldo de Freitas. “Os Candombiés da Bahia”,
destinava-se, ademais, a leitores nada leigos da
Universidade de Paris. onde seu Autor
pretendia obter com a obra o erau de “Doctorai
a Etat”
‘Como o proprio Bastide afirma:
“Foi em 1944 que pela primeira vez tomamos
contato com os candomblés, e na reportagem
entdo reproduzida, diziamos: “A filosofia do
candomblé nao éuma filosofia bérbara, e sim um
pensamento sutil que ainda ndo foi decifrade”
‘Imagens do Nordeste Mistco, pg 134, Fo!
estudo deste “pensamento suiil™ que nos
dedicamos neste trabatho". (BASTIDE,1978:10)
‘cries antrovologies pbs: mogerne
Disposto a decifrar este pensamento sutil, 0
qual, segundo o Autor. em nada ficava a dever
para a mentalidade logica “dos ocideniais”, €
buscando ainda interpreti-lo sem os conhecidos
preconceitos ou etnocentrismos que dominaram
‘5 estudos do negro ¢ de sua religiosidade.
Bastide descreverd 0 candomblé enfatizando
positivamente aqueles aspectos que julgava
demonstrar a preservagéo de uma tradigéo
africana pura, encontravel principalmente nos
terreiros nagés da Bahia. A valorizagao positiva
destes terreiros — considerados verdadeiros
“pedacos da Africa no Brasif” — levaria também
Bastide a iniciar-se no candomblé, adotando
para si as concepgdes desse pensamento
religioso.
As interpretagies de Bastide, assim como as
de muitos outros de sua geragao, representam,
nesse sentido uma exata inversio daquclas
interpretagoes caracteristicas dos primeiros
estudos sobre a religiosidade afro-brasieira,
iniciados por Raimundo Nina Rodrigues, em
fins do século passado.
Para Nina Rodrigues o estudo € a descrigao
das praticas religiosas animistas fetichistas, tais
‘como observadas por cle principalmente nos
terreiros nag6s da Bahia, serviam para
demonstrar a incapacidade mental dos negros
africanos para as elevadas abstragées do
monotcismo. Para Bastide, ao contrério, 0
pensamento africano foi visto como um
pensamento culto, ¢ tanto as descriges de Nina
Rodrigues (devidamente despojadas de
preconceitos raciais) como aquelas realizadas a
partir de suas préprias observagbes, deveriam
demonstré-lo, Assim, em “O Candomblé da
Bahia” os mesmos terreiros descritos em Nina
‘Rodrigues como sinal de inferioridade religiosa
foram vistos agora como sobrevivéncia pura de
concepgées ricas ¢ complexas da filosofia do
hhomem negro ¢ do seu universo mitico.
‘Sem davida que as diferentes interpretagbes
propostas por N. Rodrigues ¢ R., Bastide sobre
os mesmos dados ctnogréficos. cstéo
relacionadas com o quadro de referencia te6rica
do qual essas interpretagdes fazem parte € no
interior do qual tornam-se comprecasiveis. A
etnografia pioneira de bdibliografia
afro-brasileira (“O animismo feichisia dos
st
negros bahianos”. Nina Rodrigues, 1990) surge
em referéncia explicita a0 evolucionismo
europeu. A geragao dos anos 40 e 50 (de Bastide)
buscaria influéncia em graus variados do
culturalismo americano e da antropologia
simbélica francesa — principalmente aquela
interessada nas instituiges © mitologias das
socicdades tradicionais africanas. Contudo. 0
que permite entender a mudanga de perspectiva
interpretativa, conservando a mesma base de
demonstragdo etnoeréfica, € 0 pressuposto
subjacente as varias escolas de que a descrigaoe
4 interpretagéo séo dois momentos
absolutamente distintos € nio reflexivos da
pesquisa etnografica, isto € que as descrighes
aparecem no texto de forma nao contaminada
elas interpretagées para as quais elas foram
efetivamente construidas. E 0 que, por exemplo,
escreve Bastide referindo-se tanto ao trabalho
de Nina Rodrigues como a de seu seguidor
Arthur Ramos,
“Apesar de todas essas fathas (preconceitos
raciais}, as obras de Nina Rodngues, ainda agora,
do deixam de ser talvez as melhores publicadas
sobre o assunto, primeiro porque seus informantes
Pertenciam ao candomblé mais tradicional, mais
Puramente africano de sua época. 0 candomblé
do Gantois; depois suas descrigdes do culto. das
hierarquias sacerdotais, das representacdes
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Da Cultura Demassa As Interfaces Na Era DigitalDocument14 pagesDa Cultura Demassa As Interfaces Na Era DigitalCaio MeloNo ratings yet
- Vinho Do PortoDocument7 pagesVinho Do PortoCaio MeloNo ratings yet
- DJ1 2010 12 ExcertoDocument351 pagesDJ1 2010 12 ExcertoCaio MeloNo ratings yet
- Gênero e Colonialidade - em Busca de Chaves de Leitura e de Um Vocabulário Estratégico DescolonialDocument20 pagesGênero e Colonialidade - em Busca de Chaves de Leitura e de Um Vocabulário Estratégico DescolonialCaio MeloNo ratings yet
- Teorias Do Design PDFDocument2 pagesTeorias Do Design PDFCaio MeloNo ratings yet