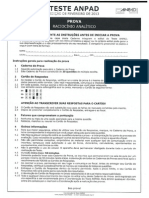Professional Documents
Culture Documents
Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF
Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF
Uploaded by
André Felipe Queiroz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views23 pagesOriginal Title
Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional_ Um Campo Historicamente Contestado.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views23 pagesHandbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF
Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF
Uploaded by
André Felipe QueirozCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 23
STEWART R. CLEGG, CYNTHIA HARDY, WALTER R. NORD
Organizadores
MIGUEL CALDAS (EAESP/FGV), ROBERTO FACHIN (UFRGS),
‘TANIA FISCHER (UFBA)
Organizadores da Edigio Brasileira
HANDBOOK DE
ESTUDOS ORGANIZACIONAIS
Volume 1
MODELOS DE ANALISE E
NOVAS QUESTOES EM
ESTUDOS ORGANIZACIONAIS
1
TEORIZAGAO ORGANIZACIONAL:
uM Campo HistorIcAMENTE
CONTESTADO
0s esudos organizacionais im origens
histvieas nos esrtos de pensadores do sé
culo XB, como Saint Simon, qe tentaram
antecpare interpretar as nascentes trans
formagies deolgicaseestraruraisgeradss
pelo capitalismo industrial (Wolin, 1961). A.
‘modemiago instigada pelo desperar do
capitaliemo troune mudangas econ6micas,
polities e soa, que ciaram um mundo
findamentelment distnto daguele em qve
imperavam as formas de producio ead
ristagio em pequena escala,tipeas da pi
rmeiras faces do desenvolimento tepitalista
do séeulo XVI e prinipio do século XIX
(Bendix 1974). Entre o fim do século XK €
0 inicio do séeulo X%, as grandes unidades
organizactonsecitnirem-e amplamente,
dominando as esferas econémica, sociale
polities, § medica que a crescente comple~
dade e intensidade da atividae coletiva
invihilizavam a coordenacio personaizada
¢ direts, assim exgiam incrementos de ca
acidadeacministeativa (Weld, 1948). De
fato, a ascensio do “estado administrative”
simbolizou um pave modo de organiza
da sociedade, em que a natureza humano
adi. duct Cant de Sou Sve Bee
Crgut ims
eviso Téciea Frederico Guarls, Marcos Cer
‘gota Line e Tania Frc,
fj transformada pela organizagéo racional
ecientifica
Organizagio como forma de poder
~ esta foi aligdo ensinada por SaintSi-
‘on. A nova orem seria regia nao mais
or homens, mas por “principos cientif-
coe” baseados na “natureza das coisas",
‘portnto absolutamente independents
davontade humans. Desa form, a pro-
essa da sociedade organizacional era
‘o predominio das leis centificas sobre 2
subjedvidade humana, © que levaria #0
Gesaparecimento completo do elemento
politico...) {a organizaso) &0 “gran-
e instrumento” para etransformagio
as irracicnalidades humanas em com-
portamentos racionais (Wolin, 1961
378-383),
‘Assim, a8 ralaes histéricas dos esmudos
organizacionais esto profundamente in
setidas em um conjunto de trabathos que
ganhou expressfo a partir da segunda me
tade do século XIX, e que antecipaya de
forma confiante o triunfo da ciéncia sobre a
politica, bem como a vitdria da ordem edo
rogresso coletivos concebides raconalmen
te acima da recalcitrncia eirracionalidade
hhumanas (Reed, 1985).
© crescimento de uma “sociedade or
ganizacional” representou um avango ine
xordvel da razio, liberdade e justiga e da
possbilidade de exradicagio da ignorincia,
coergéo e pobreza. As organizagSes foram
racionalmente projetadas para resolver con-
fRitos permanentes entre as necessidades
coletivas ¢ as vontades individuals aue vi-
‘ham obsmuindo 0 progresso social desde
‘0s dias da Grécia Antiga (Wolin, 1961). As
corganizagoes garantiam a ordem social e
a Iiberdade pessoal pela combinacio en-
‘xe processos decisérios coletivos e interes-
ses individuais (Storing, 1962), por meio
de urn projero de bases cientificas em que
estrururas administraivas subjugassem os
interesses sectérios aos objetivos coletivos
insriucionalizados. O conflito perene entre
“sociedad” e “individuo” seria permanente
mente superado. Enquanto Hegel fez uso da
dialética historia para erradicar 0 conflto
social (Plant, 1973), 0s te6ricos organiza
‘ionais depositavam sua fé na organizacio
moderna como a solugéo universal para 0
problema da ordem social.
0s organisaconisas vam a socie-
dade como um srranj de fangbes, uma
‘construgio uslitéria de atvidades inte.
‘radas, ox um meio defocalizar as ener.
{pias huranas em um exforg combinado.
Enquanto o simbelo de cormunidade era
«a fateriade, o simbolo de organizagio
1a 0 poder. organizago significa um
‘nérodo de contele socal, un meio de
impor ordem, escrurara eunifocmizarao
‘a soeiedade Qvelin, 1961 343-348).
No entanto, com a compreenséo con-
{erida pela perspectiva historia do final do
século XX, 0 estudo ¢ a prética de organi-
_zagbes jd Sdo muito diferentes de antes. As
primeiras metanarrativas que tratavam da
‘ordem coletiva e liberdade individual por
meio da organizacfo racional e do progresso
-material foram fragmentadas e dispersas em
‘uma grande diversidade de “discursos” sem
nena forca moral ou coeréncia analitica
(Reed, 1992). A prometida garantia de pro-
sgresso material e social por meio do incre
mento tecnolégico continuo, da organizacio
moderna e da administragio cientiica hoje
fem dia parece cada vex mais distante. Tanto
a efetividede téenica quanto a virtude moral
das organizagbes “formais” ou “complexas”
so questionadas por transformagSes inte-
Jectuaise institucionais que esto levando-
nos 8 fragmentacdo social, 8 desintegracio
politica e ao relativismo ético. Quem entre
és pode dar-se ao luxo de ignorar aquilo
que Bauman chama de “padres de aso
teenol6gico-burocréticos modemnos ea men-
talidade que estes instucionalizam, geram,
sustentain e reproduzem’ (1989 : 75), ¢
‘que eonsistiram nos aicerces psicosso
nas precondigées organizacionais para 0
Holocansto?
[Em suma, os estudiosos de organizagio
contemporineos encontram-se mum posi-
(io historia e num contexto social em que
as “certezas” ideol6gicas ¢ os “remendos”
‘éenicas que outzora eram.0 suporte de sua
“disciplina’ esto sendo questionados e apa-
renterente jd comecam a recuar no debate
sobre 2 natureza da organizacdo © quais os
rmeids intelectuais mais adequados a0 seu
cesrudo (Reed e Hughes, 1992). Fundamen-
tar-se em pressupostos de que qualidades ra
Cionais e éricas so inerentes 4 organizagé
moderna é algo cada vez mais contestado
por vores alternativas que crticam radix
mente a objerividade e bondade “natural
das organizagbes (Cooper e Burrell, 1988).
Se textos publicados nos anos 50 ¢ principio
dos 60 esbanjavam autoconfianca na “ident
tidade intelectual e racionalismo” de sua
“disciptina” (CE Haire, 1960; Argyris, 1964;
Blau e Scout, 1963), nos rabalhios dos anos
£80 €90, prediominain expectativas incerta,
complexas ¢ confusas sobre a natureza e 0
mérito dos estudos organizacionais.
Em termos kubnianos,vivemos em uma
fase de ciéncia “revoluciondtia", nao mais
emuma fase de ciéneia “normal” (Kubn,
3970). A ciéncia normal é dominada pela
‘atividade de resolver problemas e por pro-
_gramas de pesquisa incremental, realizados
‘com base em modelos tedricos amplamen-
te aceitos © fortemente institucionalizados
(Lakatos e Musgrave, 1970). Jé a ciéacia
revolucionétia ocorre quando os “pressu-
ppostos comuns” sobre o objeto de estudo,
‘08 modelos de interpretagio e o préprio
“conhecimento esto expostos a critica e rea
valiagéo continuas (Gouldner, 1971). pes-
4quisa e & anilise so moldadas pela busca
de anomalias ¢ contradigSes dentro de um
‘modelo tedrico prevalecente, gerando uma
dinémiea intelectual interna de confitos
‘eéricos. Significa que tal disciplina & avas-
salada por confltos interes ¢ desacordos
sobre fundamentagées ideol6gicas ¢ episte-
rmol6gicas; seus varios defensores habitam
e representam “mundos” paradigmaticos
diferentes, entre os quais a comunicagio, €
vito menos a mediacéo, tomam-se impos-
siveis (Kuhn, 1970; Hassard, 1990). A frag-
mentacio e a descontinuidade tornam-te as
caracteristicas predominantes da identidade
edarationale do campo de estudos, a0 inves
daestabilidade e coesdo que caracterizam a
*citncia normal” (Willmott, 1993).
‘Uma forte estratégia de reagio so im
pacto divisor resultante da quebra com a
ortodaxia fancionalista/positivisra é a bus-
ca nostilgica das certezas do passado e do
conforzo consensual que elas garantiar (Do
naldson, 1985). Essa "reagHo conservadora”
pode também requerer um consenso politico
igidamente imposto e vigiado dentro do
campo, com o fim de reparer o tecido in-
telectual danificado por décadas de luras
intemas e restabelecer a hegemonia tebr
ca de determinado paradigma de pesquisa
(Pieffer, 1993). Tanto a forma “nostalgica”
‘quanto a “politica” de conservadorismao téra
or objetivo resistir as tendéncias centri-
petas desencadeadas pela luta intelectual
© promover o retome ortodexia ceérica
© ideolégica, Uma combinagéo robusta de
“volta as raizes" e “imposico paradigm
tica” pode ser uma opgio bastante atrativa
ara aqueles que se sentiram perturbados
Pela fermentacio intelecrual que ocorre nos
estudos organizacionzis.
‘Ao invés da “imposigao paradigmatica",
utzoe académicos buscam a “proliferagio
paradigmética” por meio do desenvolvi-
‘mento intelectual separado e do estimulo
2 abordagens distintas dentro de dominios
diferentes, que néo foram contaminados
pelo contato com as perspectivas competiti-
‘vas (Morgan, 1986; Jackson e Carter, 1991).
ssa reagéo & mudanca social e sublevacio
intelectual forece sustentagao teérica para
“experimentagdes idicas sérias” em estu-
dos organizacionais, nos quais a ironia e
hhumildade do pés-modemismo substiruem
as obviedades sagradas que caracterizam 0
‘modemnismo racional, incapaz de perceber
«que'“a verdade objetiva nfo € 0 nico cami-
‘no possivel” (Gergen, 1992)
Se nem o conservadorismo, nem 0 re-
Iativismo agradarem, uma terceira opgio ¢
recontar a histéria da teoria organizacional
de forma a redescobrir as narrativas ara
cas € 08 discursos éticos que moldaram seu
desenvolvimento e Iegitimaram sua essénacia
(Reed, 1992; Willmotr, 1993). Tais aborda-
sens questionam tanto o retorno as origens
quanto a celebragéo irrestrita da descon-
tinuidade e diversidade: nem a adesdo 2
onda relativista nem o recuo aos pordes da
ortodoxia parecem futuros atraentes para
© estudo das organizagbes. O primeiro pro
mete iberdade intelectual imitads, mas a0
custo do isolacionismo e de fragmentacao; 0
segundo recai em um consenso antiquado,
sustentado por constante vigilancia e con-
trole inteleetuaie,
Exe capitulo adota a terceira via, Seu
objetivo éreconstrir a histéria do desenvol-
vvimento intelectual da teovia organizacional
de forma a balancear contexto social com
idéiasteérias, bem como condigées estrutu
rais com inovagdo conceltual. Essa forma de
pensar oferece a possibilidade de redesco-
brire renovar um senso de viséo histrica e
de sensiblidade contextual que dio crédito
tanto 2 “sociedade” quanto as “idéias". A
historia dos estudos organizacionais © a ma~
neira como essa histéria contada nio 680
representagSes neutras do que se conseguit,
1 passado. De fato, qualquer processo de
reconstrugio histérica que pretenda servir
‘de base &s visbes do presente do fururo 6,
nna verdade, uma interpretacio controversa
e contestada que sempre poder ser reft-
tada. Portanto, 0 objetiva deste capitulo é
mapear a teoria da organizagéo como um
‘campo de conflitos histéricas em que dife-
rentes linguas, abordagens e filosofias Iutarm
por reconhecimente e aceitacéo.
A préxima segdo examina a criagio e
© desenvolvimento da teoria em estudos
organizacionais como uma atividade inte-
lectual que esta necessariamente envolvida
‘com © contexto social € histérico em que
ela ¢ criada e recriada. O capitulo ento
‘examinard seis modelos interpretatives que
estruturaram 0 desenvolvimento do eam
po a0 longo do tiktimo século, bem como
‘of contextos histérico-sociais em que eles
atingiram certo grau de predomingncia in-
telectual (sempre sujeita a contestagao}. A
pemiltima secdo considera as exclusbes ou
Dmiss6es mais significativas que se eviden-
‘iam nessas principais tradigdes narrativas.
© capitulo & concluido com uma avaliagio
de desenvolvimentos intelectuais fururos,
contextualizados dentro das formas narra:
tivas previamente esbogadas.
A Oxcanizacio a Troma
Essa concepedo de teorizagio organiza-
ional é baseada na visio de Gouldner de
{que tanto © processo quanto o produto da
teoria devem ser vistos como um “processo
de apo e criaco realizado por pessoas num
periodo historico especifico" (1980 : 9). A.
andlise ¢ 0 debate sobre organizacbes ¢ 0
organtzar com base em informagées tesricas
s20 resultados de uma combinacao precézia
de visdo individual com produgéo técnica
situada dentro de um contexto histbrico-
social dinamico. Como ta, a eriagao te6rica
tem a responsabilidade de subverter con-
vengSes institucionalizadas e petrificadas
fem ortodoxias aceitas sem reflexdo e que
portanto nunca poderio caber inteiramente
‘em modelos cognitivos ¢ pardmetros con-
cceituais estabelecidos. Concudo, a probabi-
lidade de que iniciativas teérieas espectficas
sejam convertidas em “mudancas de para-
ddigmas conceituais” mais significativas de-
pende muito de seu impacto cumulative nas
comunidades e tradigbes intelectuais que
as medeiam ¢ recebém (Willmott, 1993).
Dessa forma, ao passo em que a criagao
teériea é sempre potencialmente subver-
siva do status quo intelectual, seu impacto
€ sempre atenuado por meio das relagées
conhecimento/poder existentes e pela "re-
ceptividade contextual", que é conferida a
desenvolvimentos intelectuais especificos
sob condigges histérico-socias particulares
ouimin, 1972).
Em suma, a criaglo de uma teoria &
‘uma prética intelectual situads em dado
contexto historico e que esté voltada para
a construgdo e mobilizacdo de recursos
ideais, materiaise instieacionais para legi-
tmar certos conhecimentos e os projetos
politicos que deles derivam. O debate te6
rico estd inserido em contextos intelecruais
socials que tém um efeito crucial na forma
‘eno conteido das inovacSes conceituais es-
pecificas, a medida que estas lutam com 0
objetivo de obteraceitago dentro da comu-
nidade em geral (Clegg, 1994; Thompson ©
‘Mectiugh, 1990). Como afimma Bendix, “um
cestudo das is como armas para a gestdo
de organizagées poderia proporcionar um
melhor entendimento das relagées entre
idéias © agies” (1974 : 309,
Isto no significa, contudo, que nao
existam bases coletivas reconhecidas que
possam ser utilizadas para a avaliagio de
‘conhecimentos contraditérios. Em qualquer
‘mamento histérico, os estudos organizacio
nais sempre foram constituidos por linhas
comuns de debate «diélogo, que estabelece-
ram os limites intelectuais ¢ oportunidades
‘para julgamento de novas contribuicdes,
0 julgamento coletiva de novos e velhos
trabalhos & feito com base em regras e nor-
mas negociadas, das quais emergem um
vvocabulrio e uma gramética da andlise or-
ganizacional. Essa “racionalidade funda:
mencada” (Reed, 1993) pode pecar pela
falta de universalidacle que normalmente se
associa, ainda que etroneamente (CE Put-
nam, 1978), &s chamadas cigncias hard,
ras mesmo assim cla estabelece um mode:
lo identificével de procedimentos e praticas
“gue geram seu dscurso proprio sobre prova
cientifica” (Thompson, 1978 : 205-206)
Assim, a teoria organizacional é sujeica a
‘procedimentos metodalégicos cemuns, mas
‘que podem ser revisados, por intermédio
dos quais modelos e teorias explicativas
so negociados e debatidos. A interacéo e
comestagao de tadigSes intelectuais rivais
implica a existéncia de entendimentos n
Tabela 1 Narrativas analitcas em andlise organizacional
Modelo de | Problemitica Perspectivas ‘Transigbes
‘metanarrativa| principal usteativas/exemplos contextuals
interpretativa
Racionalidade [Ordem Teotia das Organizagies cissica, [de Estado
Jadminstrapio clentiica, teoria da | guarda-notarmo
cist, Taylor Fayol, simon a Estado
induserat
Inegragdo | Gonsenso | RelagSes Humanas, neo- de epitelismo
RU, funcional, ceoria da empresa,
contingéncia/sintmiea, cura
eorparauia, Durkheim, Barnard,
Mayo, Parsons
[Teoria da rma, economia
a capiclistno do =
bemestar
Nato (brine peerreny
» |fniacocal cutee ansarto, [geen
feore dean depetincae |Scapialane
Teeuses cots popanonal”_|acoerd
fore Criecondineed | i
Rae oninazts | Weeranes ovale, manismo” ec clewano
fotcccoranaa peeswode (ibert
[aba tconetectcona bez, locopratvisno
(ios ests
Gracineno [Gok (iondiola iabsaraian ae
Jeeganacnasporeseuuntsa, —{tnasvinisna/
\pibndaenaise,pieforasa’ " |poderaade
[Redro,rveni Gaile ona lai
\domorrae |igiareaiszer
po modem)
ae Paridpasio | Bic dc npicon novidades ‘(de denoaoce
Babermas
| £08, democracn ndstrish,
‘eon perueipea,reora ses,
gociados ¢ relacionados a dado contexto &
Situagdo histériea, que tomam-a argumen-
tagdo racional possivel Reed, 1993).
(0s modelos intexpretativos da ‘Tebela
1 formam o campo intelectual de confitos
histéricos em que a andlise organizacional
se desenvolveu ~ um campo que deve ser
‘mapeado e atravessado levando-se em con-
sideraglo as inter-relagdes entxe os fatores,
processuais econtextuais em tomo dos quais
tessa érea do conhecimento emergiu (Mor
yan = Stanley, 1993). Eeces modelos con
formatam o desenvolvimento dos estudos
‘organizacionais por pelo menos um século,
a medida que forneceram: a gramatica por
teio da qual narzativas coerentemente es.
‘mucuradas podem ser construidas e difun-
didas, 05 recursos simbélicns ¢ tecnicos por
‘meio dos quais a natureza da organizacéo
pode ser discutida; ¢ um conjunto de tex-
tos e discursos comparihados que podem
ser usados para mediar debates entre au
itneias leigas ou especialistas. Tais mo-
delos desenvoivem uma relacao dialética
‘com processos histéricos e sociais, como
formas contestadas ¢ pouco estruturadas de
conceitualizar ¢ debater aspectos chaves da
‘organizagao, Cada um deles €definido com
vistas & problematica central em tomo da
qual cles se desenvolveram e 20 contexto
hist6rico-social em que foram articulados.
ssa discussdo, portanto, fornece uma apre-
ciagio fundamentada de narrativas anakit
‘cas estratégicas por meio das quais 0 campo
de estudos organizacionais ¢ constiruido
enquanto prética intelectual dindmica, per-
meada de controvérsias tedricas e conflites
ideolégicos em tomo da questao de como a
“organizagao” pode ¢ deve ser
Trrunro po Racionarismo
Como defende Stretton, “bebemos
racionalidade desde as primeiras gotas de
leite materno” (1969 : 406). Tal erenga na
naturalidade do raciocinio caleulado tem
ralzeshistércase ideoldgioas bem definidas
Ha una tendéncia a consideras Saint-Simoa
(1958) o primeiro "te6rico organizacional’,
supondo-se ter sido ele, “provavelmente, 2
rimeizo a observa 0 surgimento dos pe-
res organizacionais modernos, identif-
cando alguns de seus aspectos distintives
e insistindo na importancia que eles trian
para a sociedade que se formava... perce
‘eu ele que as regras bisices da soviedade
moderna haviam sido profundamente ale-
radas, de modn que organizacées delibers-
‘damente concebidas e planejadas viriam &
desempenhar um novo papel no mundo”
(Gouldner, 1959 : 400-401). A crenga ce
que a soriedade moderna ¢ dominada por
tama “logica da organizacdo” € recorrene
‘20 longo de toda a histéria dos estudos ar
ganizacionals, promovendo o principio de
rganivacio social em que a fungao técnica
racionalmente atribuida a cada individwo,
grupo ou classe define sua localizagéo so-
Cloeconémice, eu grau de autoridade tio
de comportamento. De acordo com Saint's
‘mon, tal légiea fornece uma poderosa defesa
canta 0 confito social a incerteza politica,
Amadida que estabelece uma nova estrunura
de poder baseada em capacidade técnice e
na sua contribuigéo para o funcionamento
adequatio da sociedad, e nao desivada de
fatores aleatérios ou de mercado, ov mesmo
de privilégios de bereo.
A organizagéo construida racionalmen-
1 forma de um instrumente dirigido
para a solugo de problemas coletivos, de
cordem social ou de gesto esta refletida 10s
eseritos de Taylor (1912), Payol (1949),
Urwiek o Brech (1947) e Brech (1948). Es
ses tabalhos sustentam que a teoria cas
‘organizagées
seem que ver com ert de com
ene porn sbve a ides de
Sito Go unbabo ema empres. 8
iva do taba ¢o sheer don
Sieg dua para gueea
tao (Gace Ue 1387"3),
(Os autores citados legitimam a idéia de
que'a sociedade e as unidades organizacio-
iis que a constitaem sero regidas por leis
centficas de administrago excluindo total-
‘mente valores e emogées humanas (Waldo,
1948). Principios epistemolégicos ¢ téené-
cas administrativas transformam preceitos
normativos altamente questiondveis em leis
cientficas universais, objetivas, imutdveis
portanto incontestaveis. O "individuo ra-
ional é, e deve ses, organizado ¢ institu-
cionalizado” (Simon, 1987 : 101-102). 0:
seres humanos tornam-se “matérie-prim:
- transformada pelas teenologias da sociedade
‘moderna em membros bem comportados ©
rodutivos da sociedade, pouco propensos
a interferir nos planos de longo prazo das,
‘lasses dominantese elites. Portanto, 0s pro.
Dlemas sociais, politicos e morais podem ser
‘tansformados em problemas de engenha
ra passiveis de solugio técnica (Gouldner,
1971). As organizagGes modernas anuncia-
vam o triunfo do conhecimento racional e
da téenica sobre a emogio € 0 preconceito
‘bumano, aparentemente intratdveis.
Esse modelo impregnou o micleo ideo-
ligicoe te6rico dos estudos organizacionais
Ge forma téo abrangente ¢ aatural, que sua
Jdentidade e influbneia foram vircualmente
lmpossiveis de ser detectadas ou questiona-
‘des. Como Gouldner (1959) afirma, 0 mo
ddelo prescreve o “mapa” de uma estratara
autoritéria em que os individuos e grupos
‘io obcigados a seguir certas leis. Princi-
los de funcionamento ficient e eisz
ram promulgados como um axioma para
icigic todas as formas de prética e andlise
‘rganizacional. Tal modelo fornece, assim,
uma caracterizagio universal da "realidade”
de uma organizagio formal, independen-
femente de tempo, lugar e situagao. Uma
‘ez aceito esse “mapa”, legitimot-se uma
‘Visio de organizagées como unidades so.
“elas independentes e autGnomas, acima de
‘Gualquer avaliagio moral ou debate politico
‘Gouldnes, 1971),
Embora a “era da organizacio" neces-
sitasse de uma nova hierarquia profissional
para atender as necessidades da sociedade
Industrial em desenvolvimento, sobrepon-
do-se aos clamores da aristocracia moribun-
da ¢ dos empresérios conservadores, essa
visio era profundamente antidemoerdtica e
antiigualitria, Uma concepefo determinada
Por critérios técnicos e adminiserativos de
hierarquia, de subordinacio e autoridade
pperdia espaco em um contexte sociopalitco
de agitacdo inspirada em ideais de sufrégio
‘universal, tanto no ambiente de trabalho
quanto na pélis (Wolin, 1961; Mouzelis,
1967; Clegg e Dunkerley, 1980). A orga
nizagéo racional burocritica era social ©
moralmemt legitimada como uma forma
‘ndispensével de poder organizado, baseado
em fungGes téenieas objetivas e necesséria
para o funcionamento efetive e eficiente de
uma ordem social fundamentada em auto:
ridade racional-legal (Frug, 1964; Presthus,
1975).
Esses princ(pios esto profundamente
‘embutidos nos fundamentos epistemolégi-
os ¢tedricos das perspectivas analiticas que
constituem o cere conceitual dos estudos
organizacionais. A “administragao cientifi
ca” de Taylor € direcionada 20 permanente
‘monopélio do conhecimento organizacional
por intermédio da racionalicagio do desem-
penlto do trabalho e lo design funcional.
Como coments Merile:
‘ultrapassando suas origens nacionais
e téenieas, 0 taylorismo tornouse um
!mporeante componente da perspectiva
‘losica da exizagdo industrial mo:
dems, definindo vitwde como eficée
a, estabelecendo um nove papel para
‘0s expecialstas em produgio, «cris
4o parmets para novos padres de
‘ismbuigo social” (1980 = 623. Como
Sdeoiogia ou como prates, 0 aylrismo
‘eraextremamente hast ateorias empre-
‘aiais das organizagbes que enfocassem
necestidades téenicase de legitimagto
de uma pequena elite (Bendix, 1974;
ote gamma me
ose, 1975: Clegg ¢ Dunkerley, 1980),
Como ressalta Bend,
“as ideclogine gorenciais de hoje sto dic
tintas das deologias exapresarais do par-
sailo, b medida que as primeicas supose
‘aente ajudain o emprezador ov seus
agentes @ controlar digs as atividades
os empregades” (1974: 9)
0s principios organizacionais de Fayol,
ainda que modificados pela crescente cons-
cientizagéo de que ha uma necessidade de
adaptacio contextual e de conciliagao de
forgas, foram orientados pela necessidade
de construir uma arquiterura de coorde-
‘nago e controle que contivesse a descon-
tinuidade © 0 confito inevitéveis causados
pelo comportamento “informal”. A teoria
organizacional “classica” fandaments-se
na crenga de que a organizacio fornece 0
principio do projeto estrutural e valoriza
uma pratica de controle operacional, que
podem ser determinades racionalmente ©
formalizados antes de qualquer operacao.
De fato, a teoria assume que a operaciona~
lizaglo decorréncia automética da légica
do projeto e funciona como instrument de
‘controle embutido na estrurura formal da
orgenizacio (Massie, 1965).
Ainda que 0 conceito de Simon (1945)
de “racionalidade limitada” e sua teoria de
“comportamenzo administrativo” se baseiem
‘em uma erftica mordaz 20 racionalismo €
formalismo excessivos presentes na teoria
organizacional e gerencial, suas idéias tam-
>ém fandamentarm-se em uma abordagem
que entende2 escolha racional entre pees,
claramente delineadas como base da 2qa0
social (March, 1988). Essa visao reduz 0
“trabalho interprerativo”, vital para o bom
Gesempenho de atores individuais e organi-
zacionais, a um mero processo de cognicso
dominado por regras e programas operacio- “
nals padronizadas. § notivel a exclusdo de
vvarveis importantes como polities, cultura,
moral e histéria do modelo da “racionall-
Gade limitada’, Essas variaveis tornam-se
EEE RTS
analiticamente marginelizadas, se forem
omitidas dos parametros conceituais do
‘modelo preferido de Simon, & medida que
forem tratadas como elementos aleatérios,
‘excemos e portanto nfo sujetos &influéncia
dos processes cognitves, ds procedimen-
tos organizacionais, e muito menos de seu
controle.
© racionalismo exerceu profunda in-
Aiuéncia no desenvolvimento historico ©
‘oneeitual da andlise organizacional. Bsta-
beleceu um modelo cognitive « uma pauta
de pesquisas que nao puderam ser igno-
radas, mesmo por aqueles que quiseram
adotar uma linha radicalmente diferente
(Perro, 1986). Além disso, tal corrente
repercutiu ideologicamente no desenvolvi-
‘mento politico de insticuicdes ¢ estruturas
fecondmieas durante o principio e meados
do século XX, tornando as corporacies
© estado politico “alcancSveis pelo conhe-
cimento”, 0 racionalismo forneceu uma
representagio de formas organizacionais
emergentes que legitimaram seu crescente
poderio e sua influéneia como caracteristi-
cas inevitiveis em uma trajetdria historica
de longo prazo, por meio de discursos acer
ca da administracto e geréncia tecnocriti-
ca racional (Ellul, 1964; Gowdner, 1976)
‘Ademais, cle “clevou” a teoria prétice da
administragdo organizacional de uma arte
intutiva para um corpo de conhecimentos
codificados e analisdveis, tornande poss!-
vel, inclusive, transagsies com 0 poderosis-
simo capital cltural e com o simbolismo da
“cifacia".
‘Considerade nesses termos, oracionalis-
‘mo estabeleceu uma concepeéo de teorla ©
andlise organizacionais come uma tecnologia
‘intelectual em condigGes de oferecer um
“mecansmo capaz de tornar a realidade
passivel de manipulagio por certes pos
{e agio (..); 0 racionalisme envolve 0
processo de cleunscraver a realidade
os cdleuos gavernamentas, por meio
tbe tenicas materia rlaivamente mum
danas” (Rose e Milles, 1990 : 7)
“TeORAGKO ORGARZACONAL: Uk CAMPO HISTORICANERNTE CONTESIIDO
A “organizagio” torna-se ferramenta
fou instrumento para autorizar e realizar
objetivos coletivos por meio do desenho e
do gerenciamento de estruturas voltadas &
ladministragao ¢ manipulagio de compor-
tamentos organizacionais. A tomada de
decisbes organizacionais apéie-se em uma
ance racional das opgbes disponfvels, com
base em conhecimento qualificado e deli
beradamente orientado pelo aparato legal
estabelecido. Essa “iégica das organizacoes”
toma-se garantia de avango material, pro-
_gresso social e ordem politica nas sociedades
industriais modernas, 2 medida que elas
convergem para um padrio de desenvolvi-
‘mento institucional e capacidade adminis-
‘rativa em que a "mao invisivel do mercado”
foi sendo gradualmente substituida pela
“née visivel da organizacio”.
A despeito do fato de estar presen-
te nos primérdios do desenvolvimento da
teoria orgenizacional, o modelo racional
nunca teve dominio ideolégico e intelectual
completo, Sempre foj contestado por linhas
alternativas. Os contestadores fregiiente-
‘mente comparilhavam 0 projeto politico
© ideolégico do modelo racional, que con-
siste em descobrir uma novg,fonte de aur
toridade e contaole dentro dos processos #
estruturas da organizagio modema, porém
usavam discursos e pratioas diferentes para
aleancé-las. Em particular, muitos viam a
inabilidade de lidar com o dinamismo e ins-
tabilidade de organizacoes complexes como
uma das maiores falhas do modelo racional,
Esse senao erescente de limitagbes priticas €
conceituais e a natureza ut6pica do projeto
politico que o modelo racional sustentava
ram espago para que 0 pensamento orga~
nicisca prosperasse onde antes as formas de
discurso mecaniista predominavam.
REpESCOBRINDO A ComUNIDADE
‘As questBes que mais deixavam os cxi-
ticos perplexos, a partir dos anos 20 e 40,
CAA
cram a incapacidade da organizaco raco-
nalstica em resolver problemas de integra
io socal eas implicagSes deseo fato pare a
‘manutene2o da orem social em usn mando
sais instivel eincerto. Essa forma de abor
ddagem permaneceu coga as critieas de que
‘a autoridade nao ¢eficaa sem “cooperacéo
espontinea ou intencional’ (Bendix, 1974).
Os extioos, apreensivos com o alto grau de
racionalismo, enfatizavam a necessidade
pritica e tedrica de uma base alternative
parao poder e autoridadeinvestides 20 ge-
rencialismo pelo projeto organizacional
© pensamento organiista preocupava-se
também com a manera como as organiza-
bes modernas combinam autordade com
lum sentiments de comunidade entre seus
membros
A missho da rganizagio én ape
nas prover bens services, mas tambem
(nat 0 companheirismo. A confianca do
ur maderno no poder da organizagto
Seriva de uma crenca mais ampla, ¢
(gue a organizagio é 0 camiaho pata
FedeneSo humane frente a sua propria
‘mormalidade,. Na comunidads e dentro
des organizagées, o homer moderno
tlaborou objetos politicos em substi
(80 aos objeos de amor, A busca pela
Comunidade buscou refi na noo
{66 homem como um anima politico; a
lsderaggo da orgonieagso fo) parcialmen
te inspirada na esparanca de enconcrar
suma nova forma de civiidade (Welin,
1961 368).
Esta € uma questdo central na emer-
sgéncia da perspectiva da escola de relagies,
bumanas na andlise orgenizacional, que
embora trate dos mesmos problemas do
modelo racional, fornece para estes solu
Ges distintas
‘A monografia Administragdo eo trabe-
thador (Roethlisberger e Dickson, 1939) ©
‘06 eseritor de Mayo (1933; 1945), portan
to, acusam a tradigao racional de tgnorar
as qualidades naturais ¢ evolucionarias das
nova formas socials geradas pela industria
lizagio. Toda a forga da escola de relagées
hhumanas vem da dentifieacio doisolamen-
to social e dos confitos como sintomas de
tua patologie socal. A “boa” sociedadec a
organizagao eficaz so aquelas capazes de
facilitar © sustentar a realidade sociopsico-
16gica de cooperacio espontinea e estab
‘dade Social etm face de mudangas econémi-
«as, pokiticas eteenologicas que ameagam a
integragio do individuo e do grupo dentro
de uma comunidade mais ampla.
fa longo de wirios anna, essa concen:
(lo de organizacéies como unidades sociais
inermedirias que integram os individuos
8 civlizagio industrial modema, sob a tu
tela de uma aéministragio benevelente ¢
socialmente habil,institucionalizou-se de
tal modo que comecou a desbancar a posi-
fo predominance mantida por exponentes
eo modelo racional (Child, 1959: Nichols,
1969; Bartell, 1976; Thompson e McHugh,
11990), Essa concepgio convergiaem teorias
organizacionais com caracteristicas social6-
gicaseabstratas mais acentuadas, que det-
harm grande afnidade com as preferéacias
evolucianistas ¢ narualistas da escola de
relagies humanas (Parsons, 1956; Mercon,
13949; Selick, 1949; Blan, 1955).Portanto,
em suas origens o pensamento organiista
nos estuios organizacionais baseou-se na
renga de que 0 racionalismo fornecia wma
viséo exzemamente limitada ¢ frequente
tmente enganadora da realidades" da vida
organizacional (Gouldner, 1959; Mouzelis,
1967; Silverman, 1970). Ela enftizava 2
fordem eo controle impostes mecanicamente
aninvésda itegracio, da interdependéncia
«do eqilibro que devera exist nos sise-
mas sociis em desenvolvimento orgénico
(cada um com sua dindeica prdpra).“in-
terferéncias” por pate de agentes extern0s,
tais como o projeto planejado das esracuras
orgenizacionais, ameacam a sobrevivencia
do sistema,
‘Acrganizagio como um sistema social
facdlita ¢ integragio de individuos dentzo
da comunidade mais ampla, bem como @
adaptacio desta s condigbes téenico-sociais
de mudanga, que freqlentemente ocorre
de forma volétil. Essa visio € teoricamente
antecipada, ainda que de forma embrioné-
Fa, por Roethlisberger e Dickson, que falar
da organizagao industrial como um siste-
‘ma social operante que busca 0 equilibrio
‘em um ambiente dindmico (1939 : 567).
Essa concepgia é influenciada pela teoria
dos sistemas sociais equilibrados de Pareto
(2935), em que as disparidades nas taxas
de mudanga sociotécnica e 0s desequilfbrios
‘que estas trazem 20s organismos sfo com-
pensados automaticamente por respostas
internas que, ao longo do tempo, restabe-
lecem 0 equilibrio do sistema,
Entende-se que as estrucaras orgs-
nizacionais so mantides homeastatea
fe espontaneamente, As mdengas n08
padres organizacionais so entendidas
‘como consegifncia da reagdes cumuls-
tivas, nfo planejades, e adapttivas &s
ameacas2o equifbrio de todo o sisteme.
[Respostas aos problemas sio considera:
das mecanismos de defesagradatvamer-
{e desenvolvido, moldados por valores
que esti profundament internalizados
pelos membros da arganizagéo. O foro
fempirico, portant, édirecionado a ee
‘paturas que emergem esponsaneamente,
sancionadas normtivamente na organi
2agho (Gouldner, 1959: 405-406).
essa forma, processos emergentes, ©
ndo estruturas planejadas, asseguram a es-
tabilidade e scbrevivéncia de longo prazo
do sistema.
‘Ao final dos anos 40 e comago dos 50,
‘essa concepeio de organizagées como siste
‘mas sociaisvoltados para as “necessidades”
de integragio e sobrevivencia das ordens
societérias maiores, das quais elas faziam
Parte, estabeleceu-se como 0 modelo teé-
rico predominante dento da andlise orga-
nizacional. Simultaneamente e de forma
convergente, eram desenvolvidos os fun-
damentos da “teoria geral dos sistemas”,
origindria das areas da biologia e da fisica
(von Bertalantfy, 1950; 1956), 0 que for
necia inspiracio conceitual considerével
para o desenvolvimento subseqiiente da
teoria de sistemas sociotécnicos (Miller e
Rice, 1967) e das “metodologias de siste
mas soft” (Checkland, 1994). Foi, contudo,
a interpretacio estrutural-funcionalista da
abordagem sistémica que assumiu proemi
néncia dentro da “andlise organizacional”
fe que dominaria o desenvolvimento teérico
© a pesquisa empirica desse campo entre
0 anos 50 « 70 (Silverman, 1970; Clege
Dunkerley, 1980; Reed, 1985). 0 funcio-
nalismo estrutural e sua progénie, a teoria
de sistemas, forneceram urn foco “interno”
no projeto organizacional, com uma preo-
‘cupagio “externa” volrada para a incerteza
ambiental (Thompson, 1967). A primeira
visio enfarizava a necessidade de grau mi
imo de estabilidade e seguranga internas
‘alongo prazo para a sobrevivéncia do siste-
ma, a segunda expanhe as indererminacdes
inerentes & acio organizacional tendo em
‘vista as demandas ambientais e as ameagas
que eseapam ao controle da organizagzo. A
questio fundamental de pesquisa que emet-
se dessa sintese entre preocupagies estru
turais e ambientais € 0 estabelecimento da
combinagio entre configuraGes internas &
condigSes externas que facilitem a estabili-
dade e crescimento da organizagio a longo
prazo (Donaldson, 1985).
0 funcionalismo estravural a weoria
de sistemas também fizeram uma “despo
litizagao” eficaz dos processos de tomada
dde decisio por meio dos quais se estabe-
Jece uma adaptacéo funcional adequada
entre a organizacio ¢ seu ambiente, Certos
“imperativos funcionais",tais como a ne-
cessidade de equiltbrio de longo prazo do
sistema para a sobrevivencia, presumivel-
‘mente erarn impostos a todos os atores or-
ganizacionais, determinando 06 resultados
os projetos produzidos por seu processo
decisério (Child, 1972; 1973; Crozi
berg, 1980). Esse “passe de magica” tedrico
relega os processos politicos & margem da
anilise organizacional. Ao manter as ress
nncias ideol6gicas mais amplas da teoria
de sistemas, a concepeio converte confltos
de valor sobre fins e meios em questies téc-
nieas que podem ser "resolvidas" por meio
dde um projeto eficaz de sistema e de admi
nlstragio. Como indica Boguslaw (1965),
essa conversio apdia-se em uma fachada
teérica, para ndo dizer utdpica, de homo-
geneidade de valores; a realidade politica
das mudangas organizacionais, bem como
as tensbes ¢ deformacées que elas geram,
mascarada como pequenos elementos de
atrito de um sistema que em tudo o mais
funciona perfeitamente Ela também atende
snecessidades ideolbgicas e praticas de um
grupo ascendente de projetistas de sistemas
@ administradores que almejam o controle
absoluto em meio a uma sociedade cada vez
mais complexa e diferenciada
Assim, 0 entusiasmo geral com que 2
teoria de sistemas foi recebida pela comuni
dade de estudas organizacionais nos anos 50
‘260 refletia uma ampla renascenca do pen
samento usépieo, que presumia quea andli-
se funcional dos sistemas sociais fomeceria,
os fundamentos intelectuais pare a nova
cigncia social (Kumar, 1978). 0 proceso
de diferenciagéo socicorganizacional, talvez
com a ajuda de engenheiros sociais espe-
cializados, resolveria 0 problema da ordem
social por meio de estruturas que evoiuem
naturalmence, capazes de lidar com es cres
centestensées endémicas entre es interesses
individuais ¢ as demandas institucionais. A
postura de que a sociedade em si resolveria
© problema da ordem social fiava-se em
‘um “pressuposto do campo” de que “toda
a histéria da humanidade tem uma forma
caracteristica, um padréo, uma ice ou si
nado que perme divested eve
tos aparentemente desconexos” (Satompk,
1993 107). A andlise funcional de sistemas
fornecia a chave teérica para desvendat 08
ristécios desse desenvolvimento sécio-his-
t6rieo, capacitando os cientistas sociais ©
organiacionais a prover, explicar ¢ c=
£2
twolar tanto a sua dinémica interna quanto
suas consegiléncias institucionais. Apesar
de essa visto lidar com uma forma de evo
Tucionisme e funcionalismo socioorganiza-
cional cujas raizes remontam aos escritos
de Comite, Saint-Simon e Durkheim (Wiein-
berg, 1969; Clegg e Dunkerley 1980; Smart,
1992), ela 86 veio a alcancar seu spogeu
‘nos anos 50 e 60, no trabalho dos cientistas,
sociais que contribuiram para o desenvalvi-
‘mento da teoria da sociedade industrial, €
‘que demonstraram etreunspecezo histérica
sensibilidade politica muito inferiores as
de seus predecessores académicos.
Conseqiientemente, a ortodoxia funcio-
nalista/de sistemas, que veio @ dominas, ou
pelo menos estrurura, a préticainteleewual ©
o desenvolvimento das andlises organizacio-
nas entre cs anos 40 € 60, eta apenas parte
de um movimento muito mais amplo que
ressusciton os modelos evolucionistas do sé
culo XIX (Kamar, 1978: 179-190). Na teoria
organizacional, essa ortodoxia completou-
s¢ teoricamente com o desenvolvimento da
“teoria da contingéncia” entre o fim dos anos
60 e principio dos 70 (Thompson, 1967;
Lawrence e Lorsch, 1967; Woodward, 1970;
Pugh e Hickson, 1976; Donaldson, 1985)
‘Essa abordagem mostrava todas as vireudes
c vicios intelectuais da tradicio teérica de
onde buscaram sua inspiragao ideolégica
e metodolégica. Ela também reforcava a
tien gerencialista que tinha a pretenséo de
resolver, por intermédio de uma engenharia
social especializada ¢ um projeto flexivel
de organizacio (Geller, 1964; Giddens,
1984), as problemas institucionals e poll
‘cos fondamentais das sociedades indus-
‘tials modernas (Lipset, 1960; Bell, 1960;
Galbraith, 1969)
Ainda assim, & medida que os anos 60
vangavam, as virtudes do pensamento oy
ganicista eram cada vez mais sombreadas
Dor sens vieios, especialmente quando as
Tealidades sociais, econdmicas e politcas se
Teeusavam a adequar-se as teorias explicati-
‘vas promulgedas portal narrativa. Modelos
alternativos de interpretagsojé comecavam
‘ emergir para questionar o funcionalismo,
baseadas em tradigées inrelectuaise histri-
cas muito diferentes. Antes que as possamos
considerar, contado, & necessério adentrar
2s teotias de organizagéo orientadas pelo
mercado.
Enea em Cena 0 Mencapo
‘Teorias organizacionais baseadas no
mereado parecem ser uma contradicéo, em
termos: Se 8 mercados operam da forma
especificada pela teoria econémiea neoclés-
sica, ou seja, mecanismos de ajustes perfei-
tos que equilibram preco e custo, entfo no
‘ha nenhum papel conceitual ou necessidade
éenica para a existéncia de “organizacao”.
‘Como constata Coase (1937) em seu artigo
lissico, se os mercados sio perfeitos, entao
as firmas (e organizagies) deveriam desen-
‘volver transaghes de mercado perfeitamente
reguladas, baseadas no intereambio volun-
‘drio de informagoes entre agentes econd-
micas iguais. Coase foi, conrudo, forcado a
reconhecer a realidade das firmas na con
digao de agentes econdmicos coletivos, 20s
‘quais se atsibui a “soluggo” para as falhas
de mercado ou do colapso do sistema. Como
mecanismos de “internalizacao” de woces
‘econémicas recorrentes, as firmas reduzem
‘o custo das transacées individuais por meio
de padronizacSo e rotinizacdo, e aumentam
a eficiéncia da alocagso de recursos dentro
do sistema de mercado ema sua totalidad, &
‘medida que minimizam os custos de transa~
‘fo entre os agentes, os quais, por natureza,
desconfiam de seus parceizos.
Coase, inadvertidamente, faz uso do
modelo racional quando admite que o com-
portamento ¢ motivado, primariamente,
pelo objetivo de minimizar eustos de mer-
feado @ maximizar sens rerornns. Tanto a
‘radigdo racionalista quanto a economicista
a andlise organizacional so construidas
com base na “racionalidade limitada” para
|
|
|
|
-TeoR7AGho ORGAOUZACIONAL: UE caNO HNSTORICAMENTE CONTESTADO 73
SS a
explicar ¢ prever a ago social e individual;
ambas apdiem teorias que reconhecem a
lorganizagio em termos de eficgncia e efi-
cécia; ambas reverenciam intelectialmente
‘0s modelos organicos, quando enfatizeam
2 evoluggo “natural” das formas organiza-
cionais, que otimizam retornes dentro dos
ambientes em gue as pressées competitivas
restringem as opgbes estratégicas. As (eo
rias econémicas da organizacSo também
Sidam com elementos da tradicio organi-
cista, quando enfocam organizagies como
‘um produto evolucionsrio e semi-racional
de condigbes espontdneas e involuntérias
(Gayek, 1978). As organizagdes sito uma
resposta automitica e um prego razoavel 8
ser pago pela necessidade de se dispor de
agentes econémicos formalmente livres
Jguais, capazes de negociar e monitorar con-
‘watos em meio a tansagées complexas de
mercado, que néo poder ser acomodadas
em arranjos institucionais existentes.
Exsas teorias econémicas da organt-
‘acdo surgicam em resposta as limitacdes
cexplanattiias e analiticas inerentes as teo-
‘las classica e neocléssica da firma (Cyerte
March, 1963). Blas exigem que se considere
melhor o problema da alocagéo de recursos
come um determinante primério do compor
tamentoe projeto organizacional (William
son e Winter, 1991), 0 foco na “microsco-
nomia da organizacio” (Donaldson, 1990;
Williamson, 1990), assim como uma teoria
do comportamento da firma mais sensivel
{6 limitagdes insttucionals em que so con-
lucidas as transapies econdmicas, ncoraia-
ram. formulagao de uma agenda de pesqui-
‘a.com énfase nas estruturas corporativas de
‘adninistragao e em seu elo com as funcies
‘organizacionais (Williamson, 1990). Esse
modelo também se vale da concepgio de
Barnard sobre organizagio como coopera-
‘SHo, “que é consciente, deliberada © com
fins especicos” (1938 : 4). e que somente
pode ser explicada como o resultado de wma
interagao complexa entre a racionsliéade
formal e a substantiva ou entre requisitos
téenicos ¢ ordem moral (Williamson, 1990).
‘A rentativa original de Bamard de fore:
cer uma sintese de organizagio como um:
concepcao sistémica “racional” e “natural
4 0 fundamento das teorias baseadas no
mercado, que floresceram nos anos 70 ¢
80, tais como 2 andlise do custo de transa-
40 (Williamson, 1975; Francis, 1983) e 2
‘ecologia populacional (Aldrich, 1979; 19925
Hannan e Freeman, 1988).
Apesar de haver diferencas tebricas
importantes entre essas duas abordagens,
particularmente em relagéo & forma e a0
sgrau de determinismo ambiental do quat
las se valem (Morgan, 1990), ambas se
Daseiam em uma série de premissas que
‘compatibilizam formas administrativas in
reas com condigoes externas de mercado
por meio de uma Iégica evolucionéria, que
subordina a ado individual e coletiva aos
imperatives de efieiéncia e sobrevivéncia,
que vio muito além ds induéncia humana,
A teoria do custo de tansacao preocupa-se
‘com os ajustes adaptacivos que as organiza
‘ges precisam fazer para enfrentar as pres
ses de maxlmizacdo da eficiéncia em suas
transagoes internas e externas. A ecologia
populacional destaca o papel das pressées
competitivas, que selecionarn alguns tipos
de organizagao em detrimento de outros.
Ambas as perspectivas séo baseadas em um
‘modelo de organizacao em que seu proje
to, funcionamento e desenvolvimento s0
tratados como resultados diretos de forgas
uuniversais, que néo podem ser modificades
pela agao estratégica
(© que fica evidente no modelo do mer-
cado € falta de qualquer tentativa continua
de abordar a questéo do poder social e da
‘ntervengo humana. Nem a abordagem de
mercados/nierarquias, nem a de ecologia
populacional, ou mesmo a “teoria liberal das
Drganizages” de Donaldson (1990; 1994)
se interessam muito pelos meics pelos quais
‘a mudangs organizacional se estratura em
fungio de hitas de poder entre atores s0-
ciais e as formas de dominagio que eles
legitimam (Francis, 1983; Perrow, 1986;
‘Thompson e McHfugh, 1980). Essas abor-
dagens tratam a “organizagao” como sendo
constitulda de uma ordem social ¢ moral
fem que os interesses e valores individusis ¢
sgrupais so simplesmente derivados de uma
estrutura de “interesses ¢ valores do siste-
‘ma", que no se contaminam por coaflitos
setoriais e lutas de poder (Willman, 1983).
‘Uma vez que esse conceito unitario é con:
siderado inato, “aceita” coma wm aspecto
“natural” ¢ virtualmente invisvel da orga-
aizagdo, o poder, os confltes ea dominacao
podem ser seguramenteignorados,tratados
como elementos “externos” a0 campo de
visio analitica e de preocupacio empitica
do modelo.
Essa forma unitdria de conceber a or-
ganizacao é inteiramente compativel com
‘um contexto politico eidealégico mais am-
plo, dominado por teorias neoliberais de
organizagao e controle da sociedade, que
clevam as “forgas impessoais de mercado” &
categoria analitica de universalidades onto-
Iogicas determinando as chances individuais
« coletivas de sobrevivéncia (Miller ¢ Rose,
1990; Rose, 1992; Silver, 1987). Desde as
deologias neoliberais ou darwinianas do sé-
culo XIX (Bendix, 1974) até doutrinas mais
ecentes que enfatizam a “sobrevivéncia
os mais aptos”, tndas essas teorias defen-
dem a expansio progressiva do mercado,
da racionalidade econdmica e da iniciativa
rivada, em detrimento de conceitos cada
vvez mais frageis e marginaliaados de co-
unidade, servigo piblico e preocupagées
socials. Por meio da globalizacko, as nasées
empresas envolvem-se em Iutas cada vez
mais acirradas, que terdo por vencedoras as
organizagSes e economias que se adaptarem
de forma intensiva as demandas do mercado
(Du Gay e Salaman, 1992; Du Gay, 1994),
‘Assim, teorias organizacionsis baseadas no
mercado lidam com movimentos ciclicos
ral que ressurge (Alford e Friedland, 1985;
Cemy, 1990; Miller e Rose, 1990; Johnson,
1998). Tal pesquisa também questiona a co-
eréncla analtica eo aleance explanatorio de
‘um modelo teérico de poder com capacida.
de limitada de lidar com as complexidades
materials, culturais epolticas das mudangas
orgenizacionais,
Conncimenzo & Poper
(© modelo baseado em conhecimento
tem sérias prevengdes contra as tendéncias
Institucionaise estruturais que caracterizam
os modelos analitices previamente exami-
nados, Bsse modelo rejeta as varias formas
de determinismo metodalégico e reérico ©
a explanagio légica “totalizante” na qual
0s outros se inserem. Ao invés disso, esse
abordagem tata de todas as formas da 280
social institucionalizada eestruturada como
um mosaico tempordrio de interagdes €
aliangas taticas, que formam redes mutéveis
erelativainente fustéveis de pode tenden-
do & decadéncia e dissolucio internas. Ele
explica 0 desenvolvimento de “sistemas”
modernos da diseiplina organizacional ¢
controle governamentel como mecanismos
rregociados e contingentes de poder erela-
hes, cujasraeesinsrucionas estéo naca-
pacidade de exercer gerenciamento efetivo
dos meios de producto de novas formas do
poder em si (Cerny, 1990 7),
‘Assim, surgem como foco estratégico
de-andlise mecanismos téenicose cultaras,
por meio dos quais campos pariculares de
‘compartamento humane (sade, educacéo,
sriminologia, administragio) sioestabelec-
dos como revervas de mercado para certos
cespecialistas ou grupos de peritos. Esses
recanismos tém muito maior significado
do que 0s poderes econémicos e politicos
auténomos, tas com “estado” ou “classe”
© conhecimente, ¢ 0 poder que ele poten-
cialmente confer, assume o papel central
fornecendo a chave cognitiva e os recur
s0s representativos para a aplicagao de urn
conjunto de ténicas com que regimes dis
Ciplinares, ainda que tempordrios e inst
ves, podem ser construdes (Clegg, 1994).
Conihecimentosaltamente especalizados ©
aparentemente exotéricas, que podem, po-
tenciaimente, ser acessados e dominados
por qualquer individuo ou gpupo com tei
namento e hablidade necessrios Blackler,
1993), fornecem os recursos estratégicos
Para apropriacio do tempo, do espaca e da
consciénca. Assim, a produgao, codifieacko,
éstoque e uso daqueles conhecimentes, que
so televantes para a regulagao do com-
portamento social, tomam-se Uns questio
estratégica para a mobilizacéo einsttucio-
nalizagio de uma forma de poder organi-
zado que permits o “controle a disténcia”™
(Cooper, 1992).
Retrabalhada dentro dessa problem:
tic, a “organizaglo” toma-se portadora de
conhecimentos sociais, téenieos e de habi-
Uidades por meio dos quais modelos parti
Cares de selacionamerto social surgem
Seproduzem-se (Law, 1Y¥4a). Esse po de
“organizacio” nao tem caracterstica onto-
26giea inerente nem significado expianaté-
lo como entidade ou estrutusa generali-
‘eoTwzagio ORGITZAGIONAL: a CAMPO ExSTORICAMENTE CONTESTADO
77 ie
TIE
zével € monolitca. A contingéncia, ¢ nd
2 universalidade, impera tanto no tocante
{20 conhecimente localizado e restrito, que
torma possivel cxisténcia de organizacbes,
‘quanto nas relagées de poder que elas ge-
ram. 0 fovo da pesquisa encontra-se na “or
dem interacional” que produ aorganizacéo
€ 05 estoques de conhecimentos por meio
dos quais agentes se envolvem em prticas
situacionais que constrocm as estruturas
‘que reproduzem a “organizagio” (Goffman,
1983; Layder, 1994),
Varias abordagens tedricas espectfi-
‘as baseiam-se nessa orientagio geral para
desemvolver uma agenda de pesquisa para
‘anélise organizacional que tenia, como in-
teresse estrardgicn, 0s processos de prod-
‘io do conhecimento por meio dos quais a
“organizacéo” é reproduzida. A ernometo-
éologia (Boden, 1994), as abordagens pés-
todernistas para cultura esimbolismo orge-
rizacional (Calés e Smircich, 1991; Martin,
10992), a teoria da tomada de decisdo neo-
racionalista (March ¢ Olsen, 1986; Mer
ch, 1988), a teoria rede-ator (Law, 1991;
1994a) a teoria pés-estruturalisa (Kondo,
1990; Cooper, 1992; Gene e Johnson, 1993.
Clege, 1994; Ferry, 1994) contribuem, co-
Tetivamente, para uma mudanga do foco
na andlise organitacional, desloeando-o do
nivel macro de formalizagao ou institcio
nalizaeZo para um nivel micro de andlise
do ordenamento ou rotinizagao social. A
‘seus diferentes modes, essas abordagens
= mmuitas das quais so representadas nesse
livro (ver os Capitulos de Cals e Smircich,
Clegg ¢ Hardy e Alvesson e Deetz, neste
Handbook) - tentam reformular o conceit
de organizagéo como sendo uma “ordem”
socialmente constraida e sustentada, ne-
cessariamente fundamentada em reservas
localizades de conhecimento, em rosinas
préticas e em mecanismos técnicos mobili
econ por atoces soci em uc inseragdee
e discursos do dia-e-dia,
‘Tomados em sua totaidede, os estucos
contempordneos de discursos sobre conhe-
|
j
{
ineessnresseneerenneniene
elmmento/pocer concentram-se nos mecanis-
‘mos por meio dos quais 0s membros orga
nizacionais tentam impor ordem 8 organi
zasS0, gerando redes relacionals dindmicas
‘e ambiguas. Essa abordagem ratifies uma
visio de organizagées como "a condensacio
de culturas locais de valores, poder, regras,
critério ¢ paradoxo” (Clegg, 1994 : 172).
Esses estudos esto em consonancia com as
imagens e preconcsitos de um espirito ‘pés-
industrial” ou "pés-modemo”, de acordo
‘cont v qual 2 oraurizayio € desvoustiuidae
‘em termos da “tomada de decisao local
2ada, descentralizada, instanténea...” de
forma que as “transformagbes e inovagées
corganizacionais acontecem do encontzo en-
‘te informacio e interagl0” (Boden, 1994
210). sto estd, por sua ver, inteiramente de
‘acordo com as teorias da especializacio fle
xivel (Piore Sabel, 1984) edo capitalismo
desorganizado (Lash e Urry, 1987; 1994),
fem gue as formas ou estruturas insttucio:
mais, uma vez.consideradas constitutivos da
-conomia politica”, dissolvem-se em fluxos
ce redes de informacées fragmentadas.
Hé, contudo, uma diivida persistente
quanto ao que esté perdido nessa “localiza
80" da andlise organizacional e sua aparen:
te obsessiio com 0 nivel micro de processos
préticas. A divide faz essas abordagens
‘parecerem estranhamente dissociadas das
questées mais amplas sobre justica,igual-
dade, democracia e racionalidade. Pergun-
tase: e quanto & preocupasso sociol6gica
cléssica com os aspectos macroestruturais da
‘modemidade (Laydex, 1994) e suas implica-
‘gées na forma como “deveriamos” conduzit
‘nossas vidas organizacionais?
Escatas pe Jusriga
(© refiigio analitico que os estudos or-
-ganizacionais buscaram dentro de aspectos
Iocais da vida da organizagio os distancia,
tedrica e epistemologicamente, dos temas
rormativos e das questbes estruturais que
TTS
formaram seu desenvolvimento histérico ¢
sua racionalidade intelectual. Pode-se dizer,
pelo menos, que esse afastamento redefine,
radicalmente, sua “missdo intelectual”, ds
tanciando-se de universalidades éticas e de
abstragGes conceituais, a0 tempo em que
se aproxima de relatividades culturais e de
esquemas interpretativos que slo, inerente-
mente, resistentes a generalizagbes histor
cas e teéricas, Contudo, essa mudanga em
diregéo & andlise local em organizagbes © a
recuse em enfiemtar questées mais ideolé
sgicas eestruturais ndo passaram desaperce
bidas. Varios crticos tentaram redirecionar
o estudo das organizagdes para as formes
institucionaise as questées analticas enor
‘mativas que elas levantam.
Um exemplo selativamente dbvio desse
desenvolvimento é encontrado no “navo ins
titucionalismo” (Powell e DiMaggio, 1997;
Meyer ¢ Scott, 1992; Whitley, 1992, Perry
1992). Outro pode ser visto no ressurgimen-
to do interesse pela politica econémica da
organizagéo e suas implicagées para a exter
slo da vigilancia e do controle burocrétices
nna “modernidade tardia’, que se observara
na complexa cadeia de formas e priticas
institucionals (Alford e Friedland, 1985;
Giddens, 1985; 1990; Cemy, 1990; Wolin,
1988; Thompson, 1993; Silberman, 1993;
Dandeker, 1990). Por fim, debates sobre 2
perspectiva imediata e de longo prazo para
a democracta e participacio organizacional
dentro de estruturas de contre corporativo,
debates estes que se desenvolveram em eco
‘nomias politicas dominadas por deologias ¢
praticas neoliberais durante as décadas de
80 ¢ 90 (Lammers e Szell, 1989; Morgan,
1990; Fulke Steinfield, 1990; Hirst, 1993),
e despertaram o interesse por questées go
bais que devem ser objeto da andlise de
organizagGes.
Cada um desses campos da literatura
levanta questées fundamentais sobre 08 1
os de contole corporativo predominantes
‘has organizagSes contempordneas eem sua
‘bases de julgamentos morais e politicos so
bre justiga ¢ imparcialidade, em contraste
com outros interesses e valores. Essa lite
ratura também reafirma a imporcancia das
questées relativas & distibuigéo instruc:
rralizada de forgas econdmicas, politicas ¢
culturais em sociedades desenvelvidas e em
desenvolvimento, que tendem a ser margi-
nalizadas nos discursos pés-modernistas
pés-estruturalistas, centrados na prética de
interpretagées representagbes locals. Essas
sbordagens reavivam uma concepcio da or-
‘ganizagdo como uma escrucura inetinuciona-
lizada de poder e autoridade que esta acima
das micropraticaslocalizadas dos membros
organizacionals.
DiMaggio e Powell sustentam que o
“novo instirucionalismo” representa uma
“rejeigdo dos modelos de atores racio:
ais, um interes nas instituiges como
varidvelsindependentes, uma volta As
cxplicagdes cognitvas ecultarals, eam
{interes em propiedad de unidades de
nile sepa in iduais que nfo podem
ser ceduzidas a agregagées ou tatadas
como conseqincia direta de atibatce ou
smtives indviduais" (1992 8).
Eles concentram seu foco na estratura
cxganizacional e em préticas encomtradas em
Giferentes setores instrucionais, nos "mites
deracionalidade” que legitimam e rotinizam
arranjos predominantes e, fnaimente,
‘nas formas pelas quis a ago € ext
turada ea ordem é viabilizad por siste
mos cempartthadas de regras que, por
um lado, restingem a capacidade e pro-
ppenslo dos atores em otimizas recursos
©, por out, priilegiam alguns grupos
(jos ineresses eso assegurados por
‘ncentvos e punigdes” (1991: 1),
Sua énfase nas priticas que penetram
as estruturas e processos organizacionais
fais como 0 Estado, a classe social, ¢ receitas
as profissdese indstrias/sevores revela 0
Dapel estratégico desempenhado pelaslutas
de poder entre atores instirucionais com 0
objetivo de controlar “a formacio e reforma
dos sistemas de regras que guiam & ago
politica e evontmica” (2991 : 28)
Aoreconhecer que a geragao ea imple-
rmentago ce formas e préticasinstinucionais
‘so “replotas de conflitos, contradicio e am-
Digitidade” (1991 :28), 2 teoria institucional
‘tem, como preocupacio central, o processo
‘cultural e politico por meio do qual atores
« seus interesses/ valores s80 instirucional-
‘mente construidos e mobilizados no apoio
de certas“Idgicas organizacionais” em detri-
‘mento de outras. Dessa forma, explicagses
que relacionam o comportamento e desenho
corgenizacional aos contextos de nfvel macro
ganham primaaia, dado que estes sio cons-
tituldos por padres de atividades
‘supra-organizacionais que conduzern
no Fempo e no espago as vidas materais
dds sere amanos, bem como por siste-
‘mas simblieos por melo dos quais eles
categorizam suas atvidades thes con-
ferem significedo” Friedland e Alford,
1991: 232),
Na condigio de formas institucional
zadas de prética social, as organizagSes sio
‘vistas como “estruturas nas quais as pessoas
poderosas dedicar-se a algum valor ou in
teresse", © esse poder “tem mufto que ver
coma preservagio historica dos padrdes de
valores" (Stinchcombe, 1968 : 107). Portan-
'o, 0 posicionamento histérico, estrutural ©
contextual dos valores e interesses de atores
coletivos, © ndo sua (re)produgao local por
meio de praticas de nivel miero, surgem
como a prioridade analitica e explicativa
para a teoria institucional.
Esse foco no desenvolvimento histérico
ena contextualizacio estrutural de organi-
zacbes, caracteristco do “novo instituciona-
lismo”, est refletido em um trabalho recente
sobre as mudancas na capacidade de “Vigi-
llincia e controle” das orgenizages moderas
ue, como sugere Giddens, tem o tema da
*refleividade institucional” como seu objeto
de estudo estratégico. Trata-se da
insitucionalizagéo de uma posture in-
vestgadorae calculise que se inreressa
Dor condiges genéricas de reproduso
do sera; elaao mesmo tempo eat
Ise reflete um declnio nos meios tadi-
cionais de fazer a coisas. Br também
associada &geraco de poder (entendida
‘como capacidade transformative). A ex-
pansdo da reflexvidade institucional est.
por és da prolferagio de orgenizagces
‘esicontext modemes, iacluindo org
nizapbes de altance global (1999 : 6),
‘A ascensiio de formas e praticas organi-
‘acionais modernas 6 vista como intimamen-
te ligada & crescente sofisticacdo, alcance e
variedade de sistemas buzoeriticas de vigt-
ancia e controle, que podem ser adaptados
a varias circunstincias sociais e historicas
iferentes (Dandever 1990). A emergéncia
€ a sedimentacao institucional de estado-
nagio e das estruturas administrativas pro-
fissionais desempenham um papel crucial
‘no avango das condighes materiaise sociais
fos quais a vigilancia e o controle organiza
ional podem ser estendides (Cerny, 1990;
Siberman, 1993). Mudangas tecnolégicas,
colturais ¢ polticas relativamente recentes
estimularam a criacdo e a difusto de siste-
mas de vigilancia mais discretos, que #80
muito menos dependentes de supervisdo
€ do conuole diretos (Zuboff, 1988; Lyon,
1994). 0 ctescimento da sofisticagio téeni
cae da penetragao de sistemas de controle
também servern para reafirmar a relevancia
anual da preocupacio de Weber sobre a pers-
pectiva, a longo prazo, de envoivimento in.
dividual significative em uma ordera social
organizacional, que parece cada vez. mais
préxima, ainda que continue distante, das
‘vides cotidianas (Ray e Reed, 1994),
A anélise organizacional parece, en-
‘Ao, ter completado um ciclo ideol6gico ¢
‘te6rico, umna vez que a percepgio de amea-
aA liberdade represencada pelas formas
Organizacionais burocrdticas “modemes”
Go inicio do século 2% ecoam agora em de-
‘bates sobre participacio e democracia, em
mefo ao regime de vigilancia e controle,
8Bo sofisticado quanto discreto, que emer.
glu no final do séealo (Webster ¢ Robins,
19983). Amedida que a organizacto pés-mo-
ema toma-se-um mecanismo de contzele
sociocultural altamente disperso,dinmico
e descentrado (Clegg, 1990), impossivel
de ser detectado ou combatido, questies
{que relacionam responsabiidade politica e
idadania tornam se tdo importantes ago-
1 quanto cram hd cem anos. Como Wolln
961 : 434) elegantemente argumentou,
‘oria organizacional e a teoria politica
jevem novamente ser vistas como a forma
de conhecimento que trata do que ¢ gerale
Integrative para o homem [sc]; uma vida
de envoivimento eomunn”
sea aspiragio de reaver uma “visio
institucional” em andlise organizacional,
ue fale do relacionamento entre 0 cidadio,
4 organizacao, a comunidade e o Estado
has fociedades modernas (Etzioni, 1993;
‘Acne, 1994), €um rema rio. As pesquisas
sobre participacao © democraca organiza:
cional sugerem que esforgos de deseavol-
‘iment de projetos organizacionaie ais
Participstivose igualiérios tim encontrado
diffcaldades exeremas nos times 15 snes
(Lammers e Szell, 1989). Perspectivas de
longo preze para a democracia parecem
‘gualmente pesimistas em wm mundo cada
vez mais globalizado fragmentado, que
desestabiliza ou mesmo destst identide-
des sociopolitieas eeulturas estabelecidas,
MILLER, B Governing economic lif.
Economy and Society (2): 1-31, 1999,
[SAINFSIMON, 1. Socal ongaizaton, the science
of man, and ether wricings. New York: Harper
Torch, 1958.
SCARBROUGH, H., CORBETT M. J. Technology
and organiazion. Londres: Rowdedge, 1992
SELZNICK, 2 The TVA ond the grasr roots New
York: Harper and Row, 1949,
SILBERMAN, 3. 5. Cages of reason: the rise of
‘the rational ate in France, Japan, the United
States and Great Brita. Chicago: University of
Chieago Press, 199,
SIVER, J. The ideology of excellence:
‘management and nec-conservacvism. Sudles
‘m Political Economy, 24: 105-129. Avg. 1987.
STIVERMAN, D. The theory of organizations,
Londres: Heinemann, 1970.
SIMON, H. Administrarive beheviour, New York:
‘Macmillan, 1945,
The new science of management decision
New Yorke Harper, 1957
SMART, B. Modern conditions, postmodern
conaroversss. Londres: Rowleage, 1992.
SMITH, D. The evenday world os problematic.
Miron Keynes: Opea University Press, 1988,
The rise of historical sociology. Oxiord
Bally ress, 1993,
STINCECOMBE, A. L, Soci structure and
organizations In: MARCH, JG, (Ong) Handbook
of organisations. Chicago: Rand Mealy. 142-
193-1965,
_—_— Conseructing social theories. New York.
larcourt Brace, 1968,
STORING, H. The scence of administavon In:
‘STORING. H. (Org). Essays onthe scene suty
ofpolite, New York: Hot, Reinhart nd Winston,
1982.
STRETTON, B. The polite! ecencee. Londres
Routledge, 1969.
SZTOMPKA, P The sociology of sovil change
Oxford: Bas Blackoell, 1992
“TAYLOR, EW. Principiesofscientifiemanagertent
New Yorke Harper 1912
‘THOMPSON, E.P The povergy of theory and other
ccxays Londres; Meri, 1978
‘THOMPSON, J.D. Organizations action. New
‘Yorks MieGraw-Hi, 1967,
THOMPSON, 2 The Nature of Work, 2, e6
Londres: Macmillan, 1989.
Postmodernism: fatal distraction,
ASSARD, 1, PARKER, w. (Orgs,). Towards a
new theory of organization. Londses: Routledge
. 183-203, 1993,
McHUGH, D. Organisations: a critical
SpGoducton, Londres: Maclin, 1990.
TOULMIN, S. Human wnderstanding. Princeton:
Prineeton University Pres, 1972.»: 1.
UURWICK, L, BRECH, E. The making of scenic
management. Londrés: Management Publi:
cations, 1967.
WALDO, D. The administrative. Nev York: Kaopf,
1946,
WEBER, Mf. Economy and society: an outline of
inverpretalve sociology. Berkeley: University of
California Press, 1978. v1 € 2.
‘WEBSTER, F, ROBINS, X TT be watching you
corament on Sewell and Wilkinson. Sociology,
2712)! 243-259, 1993.
WEINBERG, 1. The problem of convergence of
Indusmial socieiee:# ential look’ she rete
ofa theory. Comparative Studies in Socieny andl
Hiszory, 110): 1-15, 1969.
WHITLEY, R (Org). European busines eyes
andres: Sage, 1992
WHITTINGTON, R. Sociological pluralism,
‘nottucions and managerial agency In: HASSARD,
4, PARKER, M., (Orgs.). Towards a new theory
of erganisations. Londres: Routledge, 199 p
53.74,
(WILLIAMSON, 0. K. Markers and hierarchies:
‘acalyss and anctras impliestone. New York
ree Press, 1975
ization Theory: from Chester
Bazaand to te present and beyond. New York
(Oxford University Press, 1980
WINTER, 5. 6. The Narre ofthe firm. New
‘Yorke Oxford University Press, 1992,
WILLMAN, B The organizational failures
Samework and industial sotology In: FRANCIS,
‘A, TURK, J, WILLMAN, B. (Orgs). Power,
Ficency and insceuions, Londres: Heinernann,
3985. p. 1172136.
‘WILLMOTT H. Breaking the paradigm mentality
Organization Smuies, 14(5): 681-719, 1993.
Bringing agency (bac) into organizational
‘paljis: responding tothe ens of posmoderiny
Ib HASSARD, 3, PARKER, M. (Orgs). Towards a
new theory of organbations, Londres: Rowdedge,
1994, p. 87.180.
WIT2, A, SAVAGE, M. The gender of
‘organizations. In: SAVAGE, M, WITZ, A. (Orgs)
(Gender and burecucracy. Oxford: Bas Bladevel,
198%. 364
WOLD, 5. Poles andviion Londres Allen and
Unwin, 1961
‘On the theory and practice of power
TRPARAG, J. (0rg.), After foxeault: humanistic
novledge, posumcder challenges, New
Brunswick, 1. Rurgees University Pres, 1988
p.179-20%
WOODWARD, J. Industrial organization:
beheviour and conto. Oxdord: Oxford University
Press, 1970,
WRONG, D. Power: it forms, baseo and wees,
Onion: Basi Bachwel, 1978,
‘ZUBOFE, S. in ohe age of zhe smart machine
Vonézes: Heinernann, 1988.
2
Nota Técnica: TEORIZANDO
SOBRE ORGANIZACOES — VAIDADES
ou Pontos bE Vista?
© texto de Michael Reed é, apropria
damente, o texto introdutério deste volume
que faz 0 estado-da-arte dos estudos orga
_zacionais, pois € abordagem de indole hist
‘ca sobre os diversos temas, diferentes con-
tentose distintas metodologias que cercam 0
campo de estudo. Fim verdade, juntamente
com 0 texto inttodutério de Clegg & Hardy
(Organizapses e estudos organizacionais), 0
texto de Reed abre 0 espectro de temas que
setdo mais detalhadamente tratados em ca-
pitulos posteriores.
Lidando, como material de estudo e
anilise, com as produgdes des diferentes
conentes do pensamento administrativo,
‘acentuando suas contribuigées € suas con
testag6es a teorias anteriores, o texto tra
balha com material que é, em sua maioria,
familiar ao leitor presumivel desta obra.
Particularmente digna de nota & a Tabela 1
ddo texto ~ Narrativas analtioas em andlise
organtzacional -, em que Reed relaciona as
diferentes perspectivas tesricas acopladas a
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Aula07 de GEstão Da Qualidade UnigramDocument6 pagesAula07 de GEstão Da Qualidade UnigramAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Aula08 de GEstão Da Qualidade UnigramDocument6 pagesAula08 de GEstão Da Qualidade UnigramAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- PLS-MGA: A Non-Parametric Approach To Partial Least Squares-Based Multi-Group AnalysisDocument9 pagesPLS-MGA: A Non-Parametric Approach To Partial Least Squares-Based Multi-Group AnalysisAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Prova Raciocínio Analítico 2013 ANPADDocument9 pagesProva Raciocínio Analítico 2013 ANPADMariéli Candido100% (1)
- A Concept of AgribusinessDocument40 pagesA Concept of AgribusinessAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- ABREU, W. C. (2003) Aspectos Socioeconômicos, de Saúde e Nutrição, Com Ênfase No Consumo Alimentar, de Idosos Atendidos Pelo Programa Municipal Da Terceira Idade (PMTI), de Viçosa - MG. Dario UsouDocument89 pagesABREU, W. C. (2003) Aspectos Socioeconômicos, de Saúde e Nutrição, Com Ênfase No Consumo Alimentar, de Idosos Atendidos Pelo Programa Municipal Da Terceira Idade (PMTI), de Viçosa - MG. Dario UsouAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Supermarket ValueDocument21 pagesSupermarket ValueAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Chris Argyris - Intervention Theory MethodsDocument3 pagesChris Argyris - Intervention Theory MethodsAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Kaplinsky Value Chain PDFDocument30 pagesKaplinsky Value Chain PDFAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Teoria Critica Nas Organizações - Ana Paula Paes de PaulaDocument78 pagesTeoria Critica Nas Organizações - Ana Paula Paes de PaulaAndré Felipe QueirozNo ratings yet
- Seminario Analise de Discurso e ConteúdoDocument25 pagesSeminario Analise de Discurso e ConteúdoAndré Felipe QueirozNo ratings yet