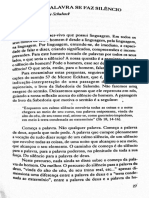Professional Documents
Culture Documents
HANSEN, J. Letras Coloniais & Historiografia Literária PDF
HANSEN, J. Letras Coloniais & Historiografia Literária PDF
Uploaded by
palba0 ratings0% found this document useful (0 votes)
161 views16 pagesOriginal Title
HANSEN, J. Letras Coloniais & Historiografia Literária.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
161 views16 pagesHANSEN, J. Letras Coloniais & Historiografia Literária PDF
HANSEN, J. Letras Coloniais & Historiografia Literária PDF
Uploaded by
palbaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
LETRAS COLONIAIS E HISTORIOGRAFIA LITERARIA
Joao Adolfo Hansen
Resumo: O texto trata da histéria das letras luso-brasileiras dos
séculos XVI, XVII e XVIII. Propde a arqueologia de suas catego-
rias retéricas e teolégico-politicas para evitar a desistoricizagao
pés-moderna e os anacronismos das histérias literdrias fundadas
no continuo temporal iluminista ¢ roméntico.
Pacaveas-chave: Histéria literdria, retérica, teologia, cédigo biblio-
grafico
O que vou lhes dizer aqui nao € novo, pois retomo coisas
que ja fiz, falei e escrevi sobre as letras luso-brasileiras dos sécu-
los XVI, XVII e XVIII € a historiografia literaria. Muitas dessas
coisas aprendi com o trabalho e a amizade generosa de Luiz Cos-
ta Lima, Leon Kossovitch e Alcir Pécora. Falando muito generi-
camente, sabemos que, desde os gregos até a segunda metade do
século XVIII, 0 discurso da historia foi um repertério de topicas
epiditicas cuja verdade de magistra vitae era reescrita intermi-
navelmente como a combinatéria de um comentario verossimil.
As apropriagées cristas dessa histéria epiditica deram-lhe sentido
providencialista, incluindo a histéria como uma figura do tempo
definido como ente criado, efeito e signo da unica Causa e Coisa
absolutamente auténtica, Deus. O esquecimento dessa historia
providencialista se tornou natural a partir da segunda metade do
século XVIII, quando o tempo se tornou apenas quantitativo ou
contingente e, perdendo sua qualidade substancial ou participativa
anterior, foi subordinado 4 histéria, como diz Kant em sua Antro-
pologia, como objeto de um célculo apenas humano que passou a
14 Jo&o AvoLFo HANSEN
orientar seu sentido como evolugiio, consciéncia e progresso.
Assim, as histérias escritas no século XIX pressupdem o conti-
nuo evolutivo e a classificagio dedutiva de épocas, periodos ¢
estilos artisticos por meio de unidades sucessivas e irreversiveis
que avancam de maneira ou cumulativa ou dialética, como acon-
tece em nossas historias da arte e historias literarias, como Idade
Média, Renascimento, Maneirismo, Barroco, Neoclassicismo etc.
Leon Kossovitch demonstrou, em um ensaio publicado recen-
temente pelo Museu do Louvre, que nessas historias a
descontinuidade tem o pape! fundamental de delimitacao dos pe-
riodos e dos estilos artisticos que se sucedem no tempo posto
kantianamente como seu a priori. A descontinuidade assegura a
positividade da existéncia das unidades estanques ¢ irreversiveis
aplicadas como taxonomia ou classificagao dedutiva. A propria
descontinuidade 6, contudo, como que transparente e nao pensa-
da, pois é aplicada como nogao simplesmente instrumental, como
se fosse exterior a propria histéria. Segundo essa concepgao do
idealismo alemao, que até agora é mantida na maioria dos estu-
dos histéricos brasileiros de artes ¢ letras, os estilos artisticos so
invariantes dedutivas que se realizam em ocorréncias positivas
ou obras particulares que os exemplificam. Assim, em sua suces-
so, eles evoluem sem que a propria descontinuidade que os deli-
mita seja pensada. Como Kossovitch demonstra, a descontinuidade
é, em todos os casos, o principio de alternancia que garante 0
retorno sucessivo de um estilo depois do outro, como ocorre exem-
plarmente na oposigaio de cléssico/barroco de Heinrich Wl fflin
ou na oposigao de vontades expressivas ligadas 4 abstragao © &
empatia de Worringer. Como demonstra Kossovitch, essa oposi-
cio dos estilos ou das vontades no considera as diferengas his-
toricas, pois é justamente a historicidade que impede o retorno
das formas estilisticas.
Esse mesmo a priori da descontinuidade aplicado nas his-
torias literdrias e da arte caudatarias da historiografia evolucionista
ou teleolégica do século XIX se encontra como neokantismo em
LETRAS COLONIAIS E HISTORIOGRAFIA LITERARIA 15,
uma historia muitissimo influente que as destréi, a historia arque-
oldgica da loucura ou a historia genealdgica da verdade de Michel
Foucault, que funda os discursos nao mais sobre o continuo, mas
sobre a propria descontinuidade. Como sabemos, Foucault elimi-
na as positividades e também as idealidades, sejam elas subjeti-
vas, factuais ou estilisticas, da historiografia do continuo e da
consciéncia. Com a eliminagao, somos remetido’s a um fundo ina-
cessivel, uma nao-origem como an-arkhé ou nao-principio, cuja
eficacia decorre justamente de que, como fundo, é suposta como
invisivel, indizivel ¢ impensavel. Com Foucault — e continuo fa-
lando com Kossovitch — a descontinuidade é estabelecida por
condigées de possibilidade formalmente puras, que sio as da lin-
guagem em sua definigdo estruturalista como estrutura que se
pensa a si mesma nos homens. Uma histdria de tipo neokantiano
como ade Foucault, demonstra Kossovitch, nao pode traduzir-se
sendo como histéria de obras arqueologicamente puras que exclui
© impuro, ou seja, os dominios contingentes das obras e de suas
praticas produtivas e consumidoras, onde uma multiplicidade
intotalizavel de escolhas taticas e vias artisticas em que cocxis-
tem temporalidades heterogéneas aparece executada sem nenhuma
consideragao por condigdes puras. Quando se trata de categorias
puras, tanto em Foucault como nas histérias teleoldgicas, a redu-
gAo classificatoria dos periodos histéricos e seus estilos artisticos
se impde a priori, como no caso da oposigao de classico €
barroco corrente nas histérias literdrias brasileiras que se ocu-
pam das letras coloniais.
Outras possibilidades de historia da arte, que pressupd6em
sua radical impureza contingente, sio propostas por Kossovitch.
Elas passam ao lado do continuo evolutivo do século XIX e tam-
bem da descontinuidade nao-explicitada de Foucault, pensando 0
tempo e 0 espago de um modo que aproxima a operagiio das ope-
ragdes de Nietzsche, Freud e Marx, que nao o pressupdem
kantianamente como a priori, nem fundam a diferenga num fun-
do impensavel, mas remetem a historicidade da historia a
materialidade contingente dos processos produtivos, cuja considerag’io
18 JoAo Avotro Hansen
Como resultado, foi possivel propor que as imagens dessa
poesia nao sao realistas, como a critica brasileira ainda afirma,
pois a sdtira € inyentada retoricamente: nao imita a empiria nem
reflete nenhuma infraestrutura, mas encontra a realidade de seu
tempo como pratica discursiva também real, que aplica tépicas,
verossimilhangas e decoros partilhados assimetricamente por su-
jeitos de enunciagao, destinatarios textuais e ptiblicos empiricos.
Para falar com Chartier, ela figura a compatibilidade entre as
interpretagdes feitas pelos personagens satiricos em ato e os
atos de interpretagaio das recepodes empiricas diferenciadas, que
conferem valor ¢ sentido a representacao!. Assim, quando cruzei
a satira com as dentincias que se seguiram 4 visita do Santo Ofi-
cio da Inquisig4o 4 Bahia no inicio do século XVII e alguns manu-
ais inquisitoriais, como o de Eymerich e Pefia, 0 Manual dos
Inquisidores, além do Malleus maleficarum e mais instrumentos
do terror catélico, foi possivel constituir modelos e preceitos
seiscentistas de uma tecnologia catdlica de controle do corpo e
producao da alma e, com eles, propor que o discurso ficcional da
satira é homélogo das praticas inquisitoriais de dentincia ¢ confis-
sio. Tanto as satiras quanto as deniincias se fundamentam no
Direito Canénico, encenando publicamente para um destinatério
textual e ptiblicos empiricos diferenciados a presenga da luz natu-
ral da Graga inata nas instituigSes portuguesas. Para isso, mobi-
lizam distingdes como legal, legitimo, eterno, natural, positivo,
puro, impuro, catélico, herege, gentio, metaforizando-as por
meio das técnicas retoricas de uma racionalidade nao-psicoldgi-
ca, a do conceito engenhoso ou agudeza, em que a defesa da
hierarquia é nuclear.
Fiz o trabalho sobre Gregorio tentando passar ao lado da
critica brasileira que define os estilos das representagdes coloni-
ais dos séculos XVI, XVII e¢ XVIII por meio das unidades crono-
légicas fechadas e irreversiveis de que falei, “Classicismo”,
“Barroco”, “Neoclassicismo”. Quando estudei as ruinas do século
XVII nos arquivos, ficou evidente pelo menos para mim que essas
unidades s%o dedutivas e aprioristicas, ou seja, idealistas. Quando
LETRAS COLONIAIS E HISTORIOGRAFIA LITERARIA 19.
fiz o trabalho, ainda usei a categoria “Barroco”, coisa que hoje
acho totalmente desnecessaria, pois s6 produz equivocos de in-
terpretagio. No caso da tradigdo colonial Gregdério de Matos,
seu uso unifica todos os estilos de poemas particulares de varios
géneros como exemplos ou ilustragdes de caracteristicas da es-
séncia classificatéria, nio considerando que, no tempo assim
etiquetado, coexistem multiplas temporalidades heterogéneas de
modelos artisticos que sao imitados diferencialmente pelo supos-
to autor dos poemas segundo preceitos, técnicas, formas, estilos
e finalidades sem correspondéncia com as categorias
evolucionistas e psicologistas pressupostas na classificagaio, Desde
o século XIX, a critica que se ocupa da poesia atribuida a Gregério
e de outros discursos coloniais — penso por exemplo em Anchieta,
Nobrega, Bento Teixeira, Vieira, Manuel Botelho de Oliveira, Clau-
dio Manuel da Costa, Basilio da Gama etc. — costuma ignorar e
eliminar sistematicamente suas categorias, substituindo-as por
outras, que universalizam valores interessados do presente dos intérpretes.
As categorias escoldsticas que compoem a pessoalidade “eu-tu”
no processo de interlocugo dos discursos sao ignoradas ¢ substi-
tuidas por categorias liberais e psicologicas da subjetividade bur-
guesa; a orientagio metafisica, religiosa e providencialista do
sentido da histéria, que é propria da politica catélica portuguesa
em luta contra a heresia maquiavélica ¢ luterana, é climinada e
substituida por concepgdes evolutivas, iluministas e liberais,
formativas, progressistas e nacionalistas; a regulagao retorica dos
preceitos artisticos e das formas, além da interpretagao teolégi-
co-politica da sua significagao e do seu sentido, sto apagadas,
propondo-se em seu lugar categorias estéticas exteriores, como a
expressio da psicologia dos autores, a oposi¢&o “forma/contet-
do”, 0 realismo documental, a antecipagao protonacionalista do
Estado nacional brasileiro. Além disso, o uso naturalizado da no-
Ao de “Barroco” para classificar essa poesia e totalizar seu tem-
po generaliza transistoricamente as definigdes liberais, 4s vezes
marxistas, das nogdcs de “autor”, “obra” ¢ “piiblico”.
20 JoAo Avotro HaNsen
LETRAS COLONIAIS E HISTORIOGRAFIA LITERARIA 21
Assim, para lhes falar do meu trabalho sobre essa ruina
arruinada, as letras coloniais dos séculos XVI, XVII e XVII pro-
duzidas no Estado do Brasil e Estado do Maranhio e Grao-Para,
repito que é um trabalho arqueolégico condicionado pelo seu
lugar institucional, a universidade neoliberal que conhecem. Ele
passa ao lado da historiografia literaria fundamentada nas cate-
gorias do continuo evolucionista do século XIX, como disse, e
tenta inventar, de modo verossimil, a estrutura, a fungao, a comu-
nicag%io e valores dessas letras em seu presente colonial. Para
isso, pressupde os condicionamentos materiais e institucionais da
sua produgao na circunstancia colonial, como 0 exclusivo metro-
politano, 0 escravismo € 0 catolicismo contra-reformista; a ago de
agéncias culturais, como a Companhia de Jesus, responsavel pela
educacao colegial e universitaria dos letrados coloniais; a situagaio
profissional e a posi¢ao hierarquica dos letrados cooptados nas
redes clientelistas locais; os esteredtipos ibéricos da “limpeza de
sangue”; as censuras do Santo Oficio da Inquisigao e da Coroa ete.
O trabalho também se ocupa de cddigos bibliogrificos, como
a manuscritura. O conceito de “publicagao” do tempo dessas le-
tras ¢ mais extenso que 0 nosso: o manuscrito, que circula sendo
copiado em versdes produtoras de variantes, também é publi-
cacao, diversamente de hoje, quando entendemos pelo termo ape-
nas 0 texto impresso. Grande parte das letras coloniais foram
inicialmente publicadas como manuscritos, tornando-se “obras”
somente quando oralizadas em circunstancias cerimoniais e polé-
micas?, Em sua tese de doutorado sobre os cédices gregorianos,
Marcello Moreira demonstrou que a oralidade produzia variantes
que novamente eram copiadas em manuscritos segundo a
movéncia discursiva de que Paul Zumthor fala em seus estudos
da poesia medieval. Baseado em evidéncias da existéncia local
de uma cultura de escribas que faziam cépias de poemas, Moreira
critica a filologia de Lachmann e Bédier, demonstrando que seus
pressupostos romAnticos acerca da autoria e da arte — originali-
dade, autenticidade, “primeira intengao autoral”, restituig&o de tex-
to etc. niio dio conta dos modes contemporaneos da invengao,
circulagao, consumo ¢ valoragao dessa poesia. Além disso, quando
os poemas passaram a ser editados na forma do livro impresso,
principalmente a partir do século XIX, a primeira ordenagao que
tém nos manuscritos quase sempre foi eliminada ou alterada.
Moreira demonstra que, nos cédices, os poemas sfio dispostos
segundo uma hierarquia dos géneros que forma um conjunto
polildgico, intertextual, com remissdes e citagdes internas que
evidenciam os modos contemporineos de produzir, consumir e
valorar a poesia. O conjunto ¢ evidentemente destruido quando
poemas sao selecionados e publicados na forma impressa das an-
tologias, como a de Varnhagen e as do século XX. Também se
destréi a pontuagao retérica deles, indicativa de pausas intensi-
vas da actio deles na oralidade, que ¢ substituida pela pontuagao
gramatical impessoal e ldgica, indicativa de fungdes sintaticas* .
Esse trabalho é complementado pelo exame dos cédigos
lingiiisticos que modelam e interpretam as representagdes. Os
codigos lingiiisticos so retérico-poéticos € teoldgico-politicos. No
caso deles, a arqueologia é dupla: diacronicamente, relaciona as
letras coloniais com sistemas de representagao anteriores que elas
imitam e transformam. Falando muito genericamente, esses
sistemas so 0 que podemos chamar “o bloco greco-latino”, as
varias retéricas gregas ¢ latinas ¢ suas diversas verses patristicas,
bizantinas, escolasticas ¢ neoescolasticas, bem como as letras an-
tigas, a poesia e a prosa de diversos géneros. Sincronicamente, a
arqueologia relaciona as letras coloniais com 0 campo semantico
geral da cultura de seu presente* e para isso também examina
documentos de n&o-ficgao, como disse, com o fim de estabelecer
homologias estruturais e funcionais que possam especificar sua
historicidade de modo plausivel.
Hoje, depois que varias genealogias ¢ arqueologias do pas-
sado demonstraram que a_ historia literaria romAntica e hegeliana
da tradigao iluminista nao é mais uma evidéncia, as redefinigdes
do estatuto da historiografia literaria se acompanham da critica a
generalizagao transistorica das categorias nacionalistas do continuo
teleolégico do século XIX e aos processos neoliberais de
22 Jodo ApoLFo HaNseN
LETRAS COLONIAIS E HISTORIOGRAFIA LITERARIA 23
desistoricizagao do presente. As redefinigdes enfrentam uma ques-
tao decisiva: a do tipo de histéria que se vai fazer com as letras
coloniais, supondo-se que ainda haja algum interesse em fazé
Como sabem, nos cursos universitarios de Letras essas represen-
tagdes nao sao mais estudadas ou tém lugar mais que secundario
de disciplina optativa, pois os modelos evolutivos, formativos e
nacionalistas de interpretagao as definem a priori como etapa
superada da histéria do pais. Segundo a opiniao de muitos colegas
de Letras, 0 estudo delas provavelmente deve usar carbono 14 ¢
quem se dedica a ele demonstra a alienacao de um antiquario que
coleciona fésseis. Mas, como provavelmente a USP nao é o mundo,
pode-se perguntar: a historia delas deve ser uma hist6ria normativa
de sua hipotética primeira legibilidade normativa cujo conheci-
mento permitiria excluir significagdes nao-previstas na invengaio
delas? No nosso caso brasileiro, essa historia nao deixa de ser perti-
nente, pois a primeira normatividade delas, que é normatividade
tcolégico-politica e retérico-poética, foi sistematicamente elimi-
nada e substituida, desde 0 século XIX, por categorias psicolé-
gicas ¢ documentalistas do continuo iluminista. Ou essa histéria
deve ser descritiva? Uma histéria descritiva, lembra Hans Ulrich
Gumbrecht, deveria ser uma hist6ria de todas as leituras possi-
veis de um texto determinado, tratando-se de reconstituir as con-
digdes técnicas, matcriais ¢ institucionais em que varias
significagdes foram geradas por leitores cujas disposigdes
receptivas possuiam diferentes mediagdes historicas ¢ sociais.
Tentando dar conta dessas questées que para mim impli-
cam principalmente a questao teérica ¢ politica dos usos do pas-
sado aqui-agora, 0 trabalho de que lhes falo pressupée a articulagio
temporal de passado/ presente como a correlagaio* proposta por
Michel de Certeau em seu estudo sobre Surin ¢ a mistica france-
sa do século XVII. A correlagao € um dispositivo de encenagaio
de duas estruturas verossimeis de ag3o discursiva, 0 presente da
enunciagio da pesquisa feita como trabalho parcial que pressupoe
a divisao intelectual do trabalho condicionada pelo lugar
institucional onde se realiza, a area de Literatura Brasileira da
USP. A outra estrutura ¢ a do passado da enunciagiio e enuncia-
dos das representagées coloniais. Por meio da correlagao, é pos-
sivel, como disse, constituir a estrutura, a fungao, a comunicagao e
valores normativos que elas tinham em seu tempo. Ou seja, cons-
tituir os modelos de seus varios géneros, estabelecendo a relagao
deles com as referéncias simbdlicas anteriores e contemporaneas
que eles transformam em situagdes de comunicagao cerimonial e
polémica, institucional e informal, segundo varios meios, como a
oralidade, evidenciada na manuscritura de folhas avulsas ou, como
Marcello Moreira demonstrou que foi costume na Bahia dos sé-
culos XVII e XVIII, encadernadas em cadernos grossos que for-
mam cédices como os que hoje est%io depositados na Biblioteca
Nacional, Simultaneamente, a correlagao possibilita examinar a
cadeia heterogénea de suas recepgées historicas desde os pri-
meiros romanticos do século XIX, como 0 cénego Januario Bar-
bosa, j4 no final dos anos 1820, 0 grupo de Gongalves de
Magathies na revista Niterdi, em 1836, ou 0 Instituto Histérico e
Geogrifico Brasileiro, a partir de 1838. Aqui, eu diria que é razoa-
velmente simples reconstituir descritivamente as cadeias dessas
apropriagdes para evidenciar a particularidade interessada das
interpretagdes romanticas, deterministas, modernistas, concretistas,
pés-utdpicas etc. que foram e sao feitas dessas letras, nos termos
de Hobsbawm, como invengio de tradigdes nacionais e naciona-
listas. Mas a reconstituigao das proprias_leituras coloniais das
letras coloniais é quase sempre lacunar. Além de serem material-
mente limitadas pelo vazio dos arquivos brasileiros, as proprias
evidéncias coloniais de leitores e de Icituras coloniais de diferen-
tes mediagées sociais sd muito raras, o que faz com que a histé-
ria descritiva delas também seja bastante rarefeita. Supondo a
rarefagio das informagées sobre as apropriagbes empiricas € os
usos provaveis dessas letras na condigao colonial, acredito que é
pertinente reconstituir a primeira legibilidade normativa que aparece
formalizada no contrato enunciativo dos discursos, lembrando que
é justamente essa normatividade que foi - ¢ continua sendo ~
eliminada nas historias literarias brasileiras e nos cursos de literatu-
ra da escola secundaria e da Universidade.
You might also like
- Wolff, Francis. Três Figuras Do Discípulo Na Filosofia Antiga PDFDocument16 pagesWolff, Francis. Três Figuras Do Discípulo Na Filosofia Antiga PDFpalbaNo ratings yet
- Alquimia Do Silêncio PDFDocument5 pagesAlquimia Do Silêncio PDFpalba100% (1)
- Emmanuel Carneiro Leão - Heidegger e A Questão Da Liberdade Real PDFDocument8 pagesEmmanuel Carneiro Leão - Heidegger e A Questão Da Liberdade Real PDFpalbaNo ratings yet
- Schuback, M - Quando Da Palavra Se Faz Silêncio 30-Jul-2017 08-02-01Document13 pagesSchuback, M - Quando Da Palavra Se Faz Silêncio 30-Jul-2017 08-02-01palbaNo ratings yet
- CAMPOS, Haroldo De. - Lance de Olhos Sobre Um Lance de Dados.Document6 pagesCAMPOS, Haroldo De. - Lance de Olhos Sobre Um Lance de Dados.palbaNo ratings yet
- Guy Van de Beuque - Quem Nos Deu A Borracha para Apagar o HorizonteDocument18 pagesGuy Van de Beuque - Quem Nos Deu A Borracha para Apagar o HorizontepalbaNo ratings yet
- Emmanuel Carneiro Leão - Heidegger e A Inflência Do Cristianismo PDFDocument7 pagesEmmanuel Carneiro Leão - Heidegger e A Inflência Do Cristianismo PDFpalbaNo ratings yet
- Emmanuel Carneiro Leão - A Fernomenologia de Husserl e HeideggerDocument13 pagesEmmanuel Carneiro Leão - A Fernomenologia de Husserl e HeideggerpalbaNo ratings yet