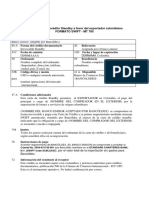Professional Documents
Culture Documents
Estudos 2005 PDF
Estudos 2005 PDF
Uploaded by
PauloHenriqueFariaNunes0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views12 pagesOriginal Title
Estudos_2005.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views12 pagesEstudos 2005 PDF
Estudos 2005 PDF
Uploaded by
PauloHenriqueFariaNunesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 12
Conselho Consultivo
Dr. Alberto da Silva Moreira
Universidade Catdlica de Goids
Dra. Clélia Aparecida Martins
‘Unesp, Campus de Maria
Dra, Clétia Botélho da Costa
Universidade de Brasilia
Dra. Elza Guedes Chaves
Associagdo Educativa Evangélica, Andpolis
Dra, Genilda D’Are Bernardes
Universidade Federal de Goiis
Dr. José Alcides Ribeiro
Universidade de Sa0 Paulo
Dr. Leopoldo Jestis Fernandez Gonzélez
Universidade Federal de Rondénia
Dr. Valdemar Munhos Rodrigues
Unesp, Campus de Sio José do Rio Preto
Estudos — Humanidades est4 indexada no {ndice Bibliografico Clase,
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Nacional Auténoma del México
Estudos: Revista da Universidade Catdlica de Goids. v. 1, n. 1 (1973) — Goiania
Ed. da UCG, 1973 ~
Mensal
ISSN 0103-0876
CDU 001(05)*540.3"
estudos
om a®
“RADES
PB estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
O VALOR DA PESQUISA
HISTORICA PARA AS
RELACOES INTERNACIONAIS
GEISA CUNHA FRANCO.
Resumo: este artigo busca identificar as contribuigées
da pesquisa historica e da historiografia para o estudo
das Relagées Internacionais com base na andlise do tra-
batho de diversos autores contempordneos que se utilizaram
dos métodos e fontes da historia para a construgdo de seus
argumentos, seja no estudo de relagées bilaterais ou em
proposigées tedricas de maior alcance, seja no estudo da
politica externa de alguns patses ou no estudo da guerra.
Palavras-chave: pesquisa histérica, relagdes internacio-
nais, historiografia
estudioso que se aventurar na seara dos fendme-
nos internacionais logo ira se deparar com duas
vertentes de estudo: de um lado, a teoriae, de outro,
a histéria das Relacdes Internacionais. Ambas as vertentes
tiveram notdvel evolucao depois da Primeira Guerra Mun-
dial e, mais ainda, depois do segundo conflito. No entanto,
apesar dessa evolugao concomitante, o didlogo entre as duas
vertentes nem sempre se pautou pela compreensao recipro-
ca. Preconceitos e esterestipos, muitas vezes, dificultaram
a aproximagio. Conforme Vigezzi (apud DUROSSELLE,
2000, p. 461):
741
Historiadores e tebricos continuam a trabalhar em territ6-
rios diferentes, salvo quando fazem, sobretudo os tedricos,
rdpidas incurs6es no outro campo, a fim de recolher qual-
quer resultado itil. [...] Também acontece que os historiadores
e os tebricos se consideram como inimigos mais ou menos
declarados, entre os quais tudo se opGe: métodos, inten-
¢des e resultado.
Grosso modo, poder-se-ia dizer que os historiadores acusam
0s te6ricos de abusarem das abstragdes e modelos na ansia de
explicar a realidade, subsidiar a tomada de decisdes e de prever 0
futuro, aproximando, muitas vezes, seus métodos daqueles das
Ciéncias Naturais ou da Matematica, métodos esses inadequados
para as ciéncias humanas. Dessa forma, apesar da sofisticagao e
originalidade de muitos modelos, eles se distanciam enormemente
da realidade. O fim da Guerra Fria provocou, com efeito, o des-
monte de alguns desses modelos.
Os te6ricos, por sua vez, criticam 0s historiadores (sobretudo
quando confundem toda historiografia com a histéria diplomati-
ca) de apegar-se excessivamente ao passado e aos detalhes, de
primarem pela descrigao em detrimento da andlise e pouco ofe-
recerem de ajuda na tomada de decisaio aqueles que tém de optar,
as vezes com urgéncia, entre um e outro caminho na condugéo
da politica externa.
Diante desse debate, concordamos com Saraiva (1997, p. 55)
que o classifica como um “pseudo-embate”:
A dicotomia entre histéria e teoria é um falso problema:
uma nao pode prescindir da outra. Na verdade, o histori-
ador faz teoria quando explica, sustentado em suas fontes,
quando elabora conceitos e categorias de andlise. Faz
trabalho de teérico, exatamente como este faz trabalho de
historiador quando amplia o espectro e a base empirica
de suas hipéteses.
Ohistoriador das relagGes internacionais pode e deve recor-
rer as teorias explicativas que o ajudem na interpretagao dos
acontecimentos. De acordo com Steinert (apud DUROSELLE,
742 2000, p. 458):
| | estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
PB estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
Uma abordagem posstvel é a andlise hierdrquica dos fa-
tores que influenciaram a decisdo: os dados econdmicos,
politicos, militares, pessoais, organizacionais, a opinido
publica, etc. que podem variar consideravelmente com 0
tempo, sobretudo no decorrer de uma seqiiéncia decisoria.
Mas, afinal, com que a histéria contribui para o estudo das
Relagées Internacionais?
Estaria ela habilitada a nos fornecer algo mais que um conhe-
cimento diletante para ilustrar nossas abordagens teéricas? teria o
rigor cientifico necessdrio para uma pesquisa que fundamentasse
nossas andlises? serviria como um par4metro para orientar as de-
cisdes politicas dos atores internacionais? Vejamos.
Asrelagées intemacionais, como disciplina aut6noma, sio um
campo bastante recente, pois datam do século XX. Tendo ela nas-
cido no bergo da Ciéncia Politica, é natural que a influéncia materna
tenha, inicialmente, se sobreposto as demais. A medida que a cri-
anga dava seus passos, no entanto, outras influéncias
epistemolégicas se lhe agregavam. Mas falemos primeiro da influén-
cia materna.
A Ciéncia Politica sempre buscou um rigor metodoldégico
expresso na construgao de modelos teéricos utilizados como ins-
trumental de andlise da realidade das disputas pelo poder e de sua
manutengo e legitimacao, temas classicos dessa area. Essa busca
de rigor fez com que, muitas vezes, se buscassem nas ciéncias
fisicas e biolégicas os parametros de cientificidade, parimetros
estes carregados das influéncias positivistas que exclufam do sa-
grado pantedo os saberes menos afeitos 4 medi¢ao, quantificagao
e A taxonomia. Mesmo fazendo parte das Ciéncias Humanas, os
politdlogos buscavam fugir das suspeitas de imprecisao, subjetivismo
e lassitude epistemoldgica que pairavam sobre as Humanidades.
Tal postura resultou em grandes avangos na compreensao dos
fendmenos do poder, no campo da politica interna e da politica
internacional, mas também resultou em uma valorizacao, de certa
forma exagerada, da tarefa de teorizar. Assim, grande parte dos
profissionais de Relagdes Internacionais, mesmo assumindo seu
oficio como interdisciplinar, parecem ter hierarquizado a composi
¢ao gnoseoldgica desse saber, atribuindo 4 Teoria das Relagdes
Internacionais seu nticleo essencial. O aporte da Hist6ria, bem como
743
de outras ciéncias, era visto como ferramenta Util, mas nio como
componente intrinseco e necessdrio as andlises. Portanto, a ‘pou-
ca cientificidade’ da Histéria retirava-lhe a importancia.
Ora, conforme nos lembra Gaddis (apud WOODS, 1997), se
formos retirar a Histéria do pantedio das ciéncias em fungao do fato
de nao se encaixar nos par4metros de cientificidade estabelecidos
pelo positivismo (e sofisticados posteriormente por outras correntes
cientificistas), provavelmente ela nao saird sozinha. As proprias cién-
cias fisicas, pela descoberta de novos parametros, como a teoria
da relatividade eo principio da incerteza, passam por uma revisao de
seus pressupostos metodoldégicos. Conforme esse autor, as criticas
a Hist6ria se sustentavam no fato de que esta falhava em atingir sete
objetivos, a saber, a objetividade (em razao do pouco esforgo dos
historiadores para livrar-se dos preconceitos e subjetividades); a
padronizacio para medir os fendmenos; a construgao de modelos;
a quantificagao (em razao da preferéncia pela descri¢&o); a gene-
ralizagao (pela énfase na contingéncia); a sistematizago na coleta
de evidéncias (pelo recurso a intuig&o) e no rigor em provar suas
hipéteses (langando mao prioritariamente da retorica e persuasao).
Mas esses objetivos, hoje, sao vistos de forma muito limitada e
relativizada por esses outrora rigidos praticantes das hard sciences.
Ocomplexo de inferioridade das Ciéncias Humanas nao se justifica
mais, pois ocorreu uma aproximagao entre métodos e pressupostos
cientfficos nas diferentes dreas.
Isso aconteceu tanto por causa de uma evolugao na forma de
fazer varias ciéncias quanto por um teste de eficiéncia que a rea-
lidade impés aos modelos canonizados, rebatendo a arrogancia e
a pretensdio de tudo explicar. Gaddis nos ilustra com 0 exemplo da
botAnica e da geologia, caracterizadas como ciéncias histéricas,
pois, atualmente, mais do que prever o futuro e estabelecer leis
gerais de funcionamento das espécies vegetais ou das camadas
terrestres, atém-se, sobretudo, a explicagio e descrigao minuciosa
e detalhada dos fenémenos naturais e de sua evolucao ao longo do
tempo. Ou seja, abdicam de qualquer tentagao reducionista que
explique os fendmenos valendo-se de poucas variaveis e de pou-
cas possibilidades de interagao entre si, levam em conta as mudangas
que se operam no tempo e sabem que, por mais que se amplie 0
foco, € possivel que um evento contingencial afete toda possibili-
dade de previsdo.
PB estudio, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
| | estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
Aqueles cientistas sociais que buscaram estabelecer leis de
funcionamento para as agGes humanas, negligenciando 0 fato de que
océrebro humano nao foi nem totalmente mapeado, muito menos
teve seu funcionamento explicado, falharam incontestavelmente.
Aqueles que se acreditavam portadores da objetividade total e da
neutralidade cientifica, perceberam o quanto sao influenciados por
sua formagao cultural, religiosa e social. Aqueles que construfram
modelos sofisticados e generalizagées bastante confortdveis, na
medida em que todos os fendmenos sociais pareciam poder ser
engavetados nessas explicagdes, viram seus edificios rufrem pela
chegada do furacdo Histéria.
Nao é a Histéria dos ‘modos de produgio’ que se sucedem
linearmente, nao é a Histéria evolucionista, mas a Historia feita por
agentes concretos, carregados de motivagdes das mais diversas
origens, seres humanos cujas identidades nao se reduzem a sua
posigdo nas relagdes de produgdo nem cujos objetivos eram pos-
siveis de se prever em fungao das ‘escolhas racionais’.
Dessa forma, os modelos desabaram e instalou-se uma cau-
tela mais salutar na tentativa de explicagdo dos fendmenos sociais,
politicos, econdmicos e culturais, tanto no 4mbito interno quanto
das relagGes internacionais. Neste campo, particularmente, o fim
da Guerra Fria foi o fenmeno que mais desalojou teorias consa-
gradas, embora a consagracao se desse mais pela repetigao do que
pela comprovagao.
Passado o vendaval, derrubados os pilares de pretensdes exa-
geradas, o terreno ficou mais fértil para aceitar as contribuigdes da
Histéria. Mas, por qué? Porque a Histéria sempre se ateve ao es-
pecifico, singularidade, 4 passagem do tempo (que demonstra
quao mutdveis sao as estruturas) e 4 diversidade cultural. Porque
os historiadores, no officio de tentar reconstruir e compreender 0
passado, sabem que as varidveis que interferem nos fendmenos
sociais, até mesmo os internacionais, so, senao infinitas, tao diver-
sas, e suas possibilidades de combinacées igualmente tio variadas
que a previs4o rigorosa torna-se um risco. Além disso, a
hierarquizagao da importancia das varidveis na determinagao dos
acontecimentos nem sempre é possivel. Aspectos pouco percep-
tiveis em determinados momentos podem adquirir uma relevancia
stbita, situando-se entre as ‘forcas profundas’ ignoradas pelos
analistas contemporaneos aos fatos.
745
746
No final do século XVIII, quem poderia prever a forga
avassaladora que viriam a adquirir os movimentos nacionalistas e
operdrios? hd trés décadas, quem poderia prever que o terrorismo
islamico adquiriria esta centralidade nas questdes da politica externa
norte-americana e, conseqiientemente, nas relagGes internacionais?
quem poderia pensar os pafses do leste europeu compondo a Unido
Européia ou, ainda mais, a Otan? E esses elementos s6 podem ser
percebidos e dimensionados tomando-se por base uma rigorosa
pesquisa hist6rica, fundamentadana consulta de fontes variadas, no
respeito, na critica e no cruzamento dessas fontes.
Entdo, a Histéria vem se impondo nao apenas como ferramen-
ta, mas como componente essencial do estudo das Relagées
Internacionais, obviamente sem a pretensio de ser 0 Unico ou o
mais importante deles, mas consolidando um fértil campo do saber.
Vejamos como se deu a evolugao desse ‘nicho epistemolégico’,
denominado Histéria das Relages Internacionais.
A HISTORIA DAS RELAGOES INTERNACIONAIS:
SURGIMENTO E EVOLUCAO
Oestudo histérico dos fenémenos internacionais tem um mar-
co nitido quando a critica a histéria diplomatica se avoluma e esse
campo se reestrutura, com base em novos parametros, e dé lugar
a histéria das relagées internacionais. Ent&o, o campo de possibi-
lidades para o estudo de novos temas amplia-se consideravelmente.
A primeira corrente, predominante até, pelo menos, as primei-
ras décadas do século XX (MERLE, 1980), por concentrar-se
predominantemente nos atos governamentais, nas relagGes entre
Estados, nos documentos oficiais ligados a diplomacia, era limitada
em amplitude, em profundidade e, pode-se dizer também, em
credibilidade. Em amplitude, pois negligenciou atores e forgas que,
mesmo fora da esfera estatal, interferem nas relagdes internacio-
nais; em profundidade, pois direcionou 0 foco de sua pesquisa
primordialmente aos documentos oficiais, desconsiderando, mui-
tas vezes, fontes primarias que revelavam dimensoes importantes
para a andlise dos fenémenos em questo e contentando-se com
a mera descricdo factual, no lugar de uma andlise dos processos €
das estruturas; em credibilidade, por basear-se, em grande parte,
na versao oficial dos fatos abordados.
[Bi estudos, coiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
| | estudos, Goiadnia, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
A abordagem denominada historia das relag6es internacionais
resultou de alguns fatores, a saber, a percepcao da insuficiéncia da
hist6ria diplomatica como instrumental de andlise, sobretudo apés
o choque da Primeira Guerra Mundial; 0 didlogo com a Ciéncia
Politica; e a influéncia marcante da Escola dos Anais no campo
epistemoldégico da Histéria, a partir dos anos 1920, partindo da
Franca. Essa escola, que teve Marc Bloch e Lucien Fevre como
precursores, enfatizava a andlise das grandes estruturas econémicas,
sociais e culturais e dos processos de longa duragao em detrimento
das ‘hist6rias nacionais’ , de marcado cunho factual, descritivo, linear
e apologético,
O eco dessa mudanga historiografica fez-se sentir no campo
de estudo dos fendmenos internacionais, a partir dos anos 1950. do
século XX, também na Franga, com Pierre Renouvine Jean Baptiste
Duroselle, entre outros que se seguiram. Ao destacar a importan-
cia das ‘forgas profundas’ a afetar a cena internacional e a
influenciar as agdes dos ‘homens de Estado’, Renouvin langou luz
sobre fendmenos antes menosprezados como os movimentos so-
ciais, as forgas econémicas, as correntes de opiniao e as correntes
demograficas. A onda crescente dos movimentos nacionalistas, a
partir do século XIX, e a conseqiiente quebra dos impérios
multinacionais ao final da Primeira Guerra, as transformagées
econémicas do capitalismo, gerando o capitalismo monopolistaea
competi¢do internacional pela exportagao de capitais, as paixdes
(a favor ou contra) geradas pelos ideais socialistas demonstraram,
de forma contundente, que tais fendmenos nao podiam mais ser
ignorados por qualquer estudioso.
Além disso, o processo de democratizagio, iniciado na Revo-
lugao Francesa e aprofundado com enormes variagGes nacionais,
nos séculos XIX e XX, fez com que as decisées politicas saissem da
esfera exclusiva dos reis, ministros e presidentes e passassem a ser
partilhadas com a sociedade. Esse fenémeno, de inicio, ficou mais
restrito as decisdes de politica interna, mas, progressivamente,
estendeu-se as decisdes de politica externa. O préprio distan-
ciamento entre essas duas esferas foi diminuindo 4 medida que,
cada vez mais, a vida internacional se entrelagava & vida nacional
eisso se refletia na percepgao do eleitor. Obviamente, a globalizagao
aprofundou, sobretudo apés 0 arcabougo institucional articulado
em Bretton Woods, esse entrelagamento dos campos da politica
747
interna e externa, trazendo novos atores, objetos e temas cuja
relevancia se impunha incontestavelmente e cuja andlise deman-
dava novas metodologias.
A CONTRIBUICAO DA PESQUISA HISTORICA
E, atualmente, como se pode perceber a contribuigdo
historiogréfica para o estudo das Relagées Internacionais?
Vejamos alguns exemplos. Quando se colocam aos interna-
cionalistas algumas questOes importantes como a possibilidade de
se estabelecer um nexo entre os regimes politicos e suas politicas
externas, como ocorreu no semindrio Foreign Policy and Political
Regime’, realizado na Universidade de Brasilia, em 2003, todas as
tentativas de resposta, sejam elas realizadas por teéricos, historia-
dores ou outros cientistas, tém a Histéria no cerne. E uma histéria
calcada na rigorosa pesquisa e andlise das fontes, em detrimento
da histéria fundamentada exclusivamente em fontes bibliografi-
cas, forjada para corresponder as argumentagGes do seu artifice.
Sendo, vejamos.
Frank (apud SARAIVA, 2003), em seu artigo Political Re-
gimes and Foreign Policies: Attitudes Toward War and Peace,
coteja as abordagens do realismo e dos liberais a respeito dessa
questao, ¢ a primeira julga quase irrelevante o tipo de regime no
estabelecimento das politicas externas, uma vez que o que efeti-
vamente conta € 0 interesse nacional, ¢ a segunda defende a
chamada Teoria da Paz Democratica, segundo a qual, a probabi-
lidade de duas democracias entrarem em guerra é minima.
Sem tentar repetir aqui seu brilhante percurso de investiga-
¢40 e andlise sobre o tema, quero apenas salientar que suas respostas
sfo buscadas nado em modelos teéricos generalizantes, com res-
postas taxativas, mas na trajet6ria histrica singular, especifica das
interages entre os paises que participaram de guerras nos dois
tiltimos séculos. Se, de um lado, o autor mostra que é impossivel
fazer uma generalizagao dessa relagao para todas as guerras, e
alguns exemplos parecem reforgar a tese dos realistas, ao passo
que outros sustentam os argumentos dos liberais, tampouco cai
numrelativismo total que renuncie a qualquer explicagao. Ele mostra,
por exemplo, a continuidade da politica externa francesa perpas-
sando governos autoritdérios e democraticos, imperiais e
E estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
Pl estudos, coisnia, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
republicanos. Mostra também que regimes democraticos evitaram
a guerra, mas nao se furtaram a fazé-la quando ela foi provocada
por agressao territorial; que ganharam todas as guerras de que
participaram, exceto aquelas extremamente impopulares que nao
conseguiram mobilizar a opiniao publica a seu favor. Mostra que
um fator — no caso, o regime de um Estado ser democratico — por
si s6 nao é suficiente para explicar uma determinada conseqiién-
cia, participar ou ganhar uma guerra, pois h4 outros fatores
intervenientes de grande peso, no caso, 0 apoio ou a rejeiciio de tal
decisao pela opiniao publica.
Frank atenta também para o risco de generalizagdes apressa-
dasa que alguns conceitos, adespeito de sua utilidade e larga utilizacao,
como 0 conceito de totalitarismo, podem conduzir. Embora os regi-
mes nazista e fascista, de um lado, e soviético, de outro, possam ser
caracterizados como totalitdrios, em razao do alto grau de
autoritarismo, controle de praticamente todos os aspectos da vida
social e politica de seus cidadaos, pelo uso indiscriminadoe massificado
da repressao pelo Estado, essa semelhanga nao pode ocultar dife-
rengas que resultam em posturas decisivamente dispares em politica
externa. Sejam diferengas de ideologias — a conquista do espago
vital, a lei do mais forte e a necessidade de eliminagao das ragas
inferiores, no nazismo, em oposi¢ao a busca do reino daigualdadee
do fim do Estado em um idilico e distante futuro, no comunismo—ou
mesmo diferengas de avaliagao do jogo de forcas no sistema inter-
nacional. Tais diferengas foram de crucial importancia para a op¢aio
pela guerra, pelos primeiros, e negagao da guerra abertae declarada
contra os paises democraticos, pelos segundos.
Para dizer em poucas palavras, Frank mostra que é possivel
algum nivel de generalizagao, desde que sejam levados em conta
os diferentes aspectos que condicionaram as relagées internacio-
nais do periodo estudado, bem como as politicas exteriores. Um
olhar critico com essa agudeza seria de grande utilidade nao s6 aos
estudiosos da vida internacional, mas também aos formuladores de
politicas exteriores das grandes poténcias.
Na tentativa de responder a essa mesma quest4o, Wolfgang
Dopcke (apud SARAIVA, 2003) analisa 0 caso da politica externa
da Africa do Sul, norteado pela seguinte pergunta: teria a politica
externa mudado substancialmente a partir do fim do regime do
apartheid? Novamente, com base nas especificidades que gera-
749
750
ram a construgio politica desse regime ¢ o conduziram 4 sua crise,
valendo-se das complexas varidveis que condicionavam as rela-
ges desse pais com seus vizinhos e com 0 sistema internacional,
so investigadas as possibilidades de resposta. E 0 autor nos mos-
tra que o peso relativo das condicionantes muda muito ao longo do
tempo. Fatores morais, como a hostilidade internacional ao regime
racista, reforgada pela politica de direitos humanos de Carter, tiveram
um forte peso, mas tém que ser contrabalangados, posteriormen-
te, com outros fatores, como a necessidade circunstancial de apoio,
buscada pelo presidente Reagan em sua reedi¢ao da guerra fria
nos anos 1980, para contrapor-se aos governos da regido ou por-
que eram apoiados por Moscou, ou pelo fato de que paises vizinhos,
governados por negros, mesmo condenando moralmente 0 re gi-
me, tinham fortes (ou vitais) lagos econdmicos com o pais de
Pieter Botha.
Nesse caso, se partirmos de dois aspectos apenas — 0 racismo
institucionalizado pelo Estado ¢ sua politica externa agressivaem
relagdo a alguns paises vizinhos (Total Strategy, entre outras) —
para identificar o regime sul-afticano com 0 nazista, como fizeram
alguns estudiosos, perderemos de vista duas diferengas fundamen-
tais para a compreensio de sua natureza e de sua politica externa.
Primeiramente, o governo sul africano nao tinha em mente uma
expansao territorial, como o Fiirher, mas, sobretudo, estabelecer
um ‘cordao sanitario’ de seguranca que garantisse a sobrevivéncia
de um Estado governado por brancos (0 que, obviamente, nao lhe
retira a violéncia e agressividade). Em segundo lugar, nao visava
aeliminacao fisica dos negros, pois eles cram parte integrante da
economia desse pais.
Assim, Dépcke demonstra que, nesse perfodo de profundas
transformacées, houve continuidade e rupturas na politica exterior
e que nao € possivel estabelecer nexos causais mecanicos entre esta €
oregime politico, mas relagdes mais matizadas pelas circunstancias
e especificidades. Embora intimamente relacionadas em suas cau-
sas e efeitos, nao foi o fim do Apartheid que conduziu a uma mudanca
na politica externa, pois essa mudanga ja iniciara seus passos nos
governos de Bothae De Klerk, em razao de pressées internas, como
acrise econdmica e a critica interna, e externas, como as mudangas
no jogo internacional de forgas, como o forte declinio da URSS ede
sua interven¢do no continente africano. Em sfntese, trata-se de dois
PB estucos, coiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Lei de Migração: Novo Marco Jurídico Relativo Ao Fluxo Transnacional de PessoasDocument21 pagesLei de Migração: Novo Marco Jurídico Relativo Ao Fluxo Transnacional de PessoasPauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet
- Carta de Crédito - Exportacao (Standby)Document1 pageCarta de Crédito - Exportacao (Standby)PauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet
- Fronteira em Foco SindifiscoDocument86 pagesFronteira em Foco SindifiscoPauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet
- Lei de Migracao Estatuto Estrangeiro 2017 PDFDocument12 pagesLei de Migracao Estatuto Estrangeiro 2017 PDFPauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet