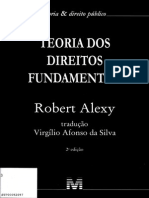Professional Documents
Culture Documents
PDF
Uploaded by
Pitágoras Pacheco0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views16 pagesOriginal Title
000469129.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views16 pagesPDF
Uploaded by
Pitágoras PachecoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
Constituigao: Conceito,
Objeto e Elementos (*)
Inocinaio MArmines ComtHo
Professor Titular da UnB
SUMARIO
1. Colocagéo do tema em perspectiva hermenéuttca, 2.
Da hermenéutica filoséfiea & hermenéutica juridtca. 3.
Conceito, objeto e elementos da Constituicéo. 3.1. A
Constituigdo como garantia do “statu quo” econémico e
social (E. FORSTHOFF). 3.2. A Constitui¢éo como ins-
trumento de governo (W. HENNIS). 3.3. A Constituicdo
como “processo ptiblico” (P. HABERLE). 3.4. A Consti-
tuigdo como ordem fundamental e programa de agéo que
identifica uma ordem politico-social e 0 seu processo de
realizagéo (BAUMLIN). 3.5. A Constituigdo como pro-
‘grama de “integracéo” e de “representacdo” nacional (H.
KRUGER). 3.6. 4 Constitui¢do como legitimagdo do
poder soberano, segundo a idéta de Diretto (G. BURDEAU).
3.7. A Constiluicéo como ordem furidica fundamental,
‘material e aberta de uma comunidade (K. HESSE). 4.
Coneluséo.
1. Colocagao do tema em perspectiva hermenéutica
Um dos mais ricos achados da hermenéutica filoséfica contempora-
nea foi a descoberta de que a compreensio do sentido de uma coisa, de
+ Palestra proferida na OAB-DF, em 19-5-92, no Curso de Direito Constitu-
cional © Administrative.
R. Inf. legisl. Brasilia. 29 on. 116 out./dex. 1992 5
um acontecimento ou de um estado de coisas pressupde um pré-conheci-
mento daquilo que se quer compreender, pelo que toda a interpretagao é
guiada pela pré-compreensio do intérprete.
xplicando em que consiste essa pré-compreensio ¢ qual a sua im-
portaneia para a compreensiio de algo, MARTIN HEIDEGGER — em
quem © problema atinge o grau méximo de radicalizacio — assim resu-
ine a idéia:
“A interpretagéio de algo como algo funda-se, cssencialmen-
fe, numa posigao prévia, visio prévia ¢ concepcao prévia, A in-
terpretagdo nunca é a apreensio de um dado pretiminar, isentz
de pressuposigdes. Se a concrecéo da interpretagao, no sentido
da interpretago textual exuta, se compraz em se bascar nisso
que estd no texto, aquilo que, de imediato, apresenta como es-
tando no texto nada mais é do que a opinido prévia, indiscutida
€ supostamente evidente, do intérprete. Em todo principio de
interpretagdo, ela se apresenta como sendo aquilo que a inter-
Pretacao necessariamente ja poe, ou seja, que ¢ preliminarmente
dado na posigao prévia, visio prévia e concepgio prévia.” (Ser
¢ Tempo. Peirdpolis, Vozes, 2." ed., 1988, Parte 1, p. 207).
Noutras palavras, a interpretagio de algo como algo move-se numa
estrutura de antecipagio, que corresponde & esséncia da compreensio, a
qual se dé numa estrutura circular 0 chamado “eitculo hermentutico”
—. em que a compreenséo do particular supée ou pressupde uma com-
preenstio do todo, sendo essa totalidade concebida como contexto histé-
rico, como unidade da vida, como mundo-davida ou como totalidede
de condigo do ser-no-mundo.
Para melhor compreendermos essa forma de colocagéo do problema
da compreensio, vejamos com RICHARD PALMER — um dos mais cla-
ros expositores dos problemas hermenéuticos — em que consiste esse cir-
culo, que 56 aparentemente é vicioso.
“Compreender — ensina PALMER — é uma operagio
essencialmente referencial; compreendemos algo quando o com
paramos com algo que j4 conhecemos. Aquilo que compreende-
mos agrupe-se em unidades sistematicas, ou circulos compostos
de partes. O circulo como um todo define a parte individual.
© as partes cm conjunto formam o circulo. Por exemplo —
prossegue PALMER — uma frase como um todo é uma unida-
de. Compreendemos o sentido de uma palavra individual quan-
do a consideramos na sua referéncia a totalidade da frase; ¢,
16 out./dex. 1992
reciprocamente, o sentido da frase como um todo esté depen-
dente do sentido das palavras individuais. Conseqiientemente
um conceito individual tira o seu significado de um contexto ou
horizonte no qual se situa; contudo, o horizonte constréi-se com
os préprios elementos aos quais dé sentido. Por uma interacio
dialética enire 0 todo ¢ a parte, cada um dé sentido ao outro;
a compreensao ¢, portanto, circular. E porque o sentido aparece
dentro deste circulo — artemata PALMER — chamamos-lhe
circulo hermenéutico.” (Hermenéutica. Lisboa, Edigdes 70, 1986,
pp. 95/94).
Entio, para usar as palavras precisas de JOSE LAMEGO — figura
relevante da moderna filosofia juridica cm Portugal — & dessa totalidade
do mundo da compreensio que resulta a pré-compreensao, a qual abre
um primeiro acesso a intelecgio, na medida em que representa uma ante-
cipagao de sentido do que se compreende, uma expectativa de sentido
delerminada pela relagao do intérprete com a coisa, no contexto de deter-
minada situaga0; noutras palavras, a pré-compreenséo constitu um mo-
mento essencial do fenémeno hermenéutico e € imposs{vel a0 intérprete
desprenderse da circularidade da compreensio (Hermenéutica e Jurispru-
déncia. Lisboa, Editorial Fragmentos, 1990, pp. 134/135).
© tems da pré-compreensic, que ampliou os horizontes da herme-
néutica filoséfica contempordnea, teve seu maximo desenvolvimento nos
estudos do mais importante discipulo de HEIDEGGER — HANS-GEORG
GADAMER — que muitos apontam como o verdadeiro fundador dessa
nova hermenéutica.
Em sua obra fundamental — Verdade ¢ Método —- GADAMER reto-
ma a problemética da pré-compreensio a partir dos estudos de HEIDEG-
GER, sobretudo de sua descrigfio do cfrculo hermenéutico como algo pos
tivo para © processo da compreensiio e no como um circulo vicioso,
dentro do qual, emparedado, 0 sujeito cognoscente no tem acesso a0
conhecimento do objeto.
Assim, partindo dessa_nogio de circulo hermenéutico, GADAMER
relembra, com HEIDEGGER, que 0 circulo nao deve ser degradado &
condigao de um circulo vicioso, mesmo que apenas tolerado, pois nele
se esconde a possibilidade positiva do conhecimento mais originério que,
de corto, s6 pode scr apreendida de modo auténtico se a interpretagao
tiver compreendido que sua primeira, dnica e tiltima tarefa € nao se dei-
xar guiar, na posicéo prévia, visio prévia e concepsio prévia, por con-
ceitos ingénuos, mas, ao contrério, na elaboraco da posigio prévie, da
R. Inf. legisl. Brosilia a. 29 on. 116 out/der. 1992 7
visio prévia e da concepgao prévia, assegurar a cientificidade do tema a
partir das coisas mesmas.
Destarte, para GADAMER, o essencial da reflexio hermenéutica de
HEIDEGGER nio consiste em demonstrar que nos achamos diante de
um circulo, mas em ressaliar que esse circulo possui um significado onto-
légico positivo.
Da hermenéutica filosdfica @ hermenéutica juridica
Assentes os pressupostos hermenéutico-filoséficus, em geral, sob
os quais a matéria pode c, mesmo, deve ser analisada, vejamos como apli-
cé&los no estudo do conceito, do objeto e dos elementos da Constituigao,
que compéem a temética desta exposicao.
Como esses assuntos pertencem jé a um determinado ramo do Ditei-
to — 0 chamado Direito Constitucional —, é de toda a conveniéncia,
pelo menos para fins didaticos, analisar a questio na perspectiva do Di-
reito om geral, ou da hermenéutica juridica tout court.
Para tanto, invocaremos os ensinamentos de JOAO BAPTISTA MA-
CHADO ec KARL LARENZ, que, a nosso ver, se destacam entre os estu
diosos do tema pela clareza c preciséo com que o abordam.
Com efeito, para }OAO BAPTISTA MACHADO, ao enfrentar 0 pro-
blema da interpretaco das leis. 0 jurista nao pode ignorar que, antes
mesmo de por a funcionar as suas diretivas interpretative — metodolé-
gicas, precisa tomar em conta os pressupostos gerais da interpretacao de
todo e qualquer texto ou enunciado lingiiistico, ou seja, precisa enfrentar
© problema, mais geral, da “compreensao” do sentido de um texto. E que.
adverte, todo cnunciado fingiifstico — obviamente também o enunciado
das proposicées juridicas — deve ser entendido como um significante que,
em Ultimo temo, aponta ou remete para algo extralingiiistico, 0 referente,
ou @ “coisa” a que ele remete.
Se compreender 0 texto pressupde compreender a “coisa” a que ele
se refere ou para que ele remete — pois sem ssa pré-compreensio 0 texto
néo pode fazer sentido para nés —, no que respeita 2 compreensio das
previs6es legais, somente as compreendemos porque elas se referem a siv
twagées ou relagées da vida das quais, pela nossa propria experiéncia,
temos 4 uma pré-compreensio.
© mais importante — ressalta o licido jurista lusitano — é que,
para além desses referentes imediatos, representados pelas situagdes da
vida a que remetem os enunciados lingtiistico-normativos, existe um outro
a R. Inf. tegisl, Brasilia o, 29 n. 116 out./dex. 1992
“referente”, um referente fundamental, essa “coisa” que € 0 Direito e que
© legislador nos procura comunicar através dos enunciados das normas.
Por isso — conclui BAPTISTA MACHADO — os textos legais ndo
determinam ou criam “autonomamente” © juridico, a juridicidade, sendo,
antes, j4 mera expresso ou tradugo dessa juridicidade, a qual, por prin-
cipio, ¢ como referente iiltimo, esté para além deles, esté fora deles; ¢
desse referente, da sua “pré-compreensio”, tem o intérprete de partir ne-
cessariamente se pretende sequer entender essses textos como “‘juridicos”,
como portadores de um sentido juridico (Introdugio ao Direito e ao Dis-
curso Legitimador. Coimbra, Almedina, 1989, pp. 205/209).
Avancando ainda mais na exploragdo das virtualidades da pré-com-
preensio como momento essencial do fenémeno hermenéutico, JOAO
BAPTISTA MACHADO assevera que, se entendermos que o legislador,
ao editar uma norma, estd a positivar a sua visio da ordem juridica, im-
poe-se reconhecer que, ao fazé-lo, ele necessariamente haverd de nos re-
meter pata algo que est fora desses textos (embora neles pressuposto) e,
portanto, para algo de extrapositivo ou transpositivo — o “referente” ou
‘a “coisa” com a qual temos de relacionar o texto para, nessa relagdo,
apreendermos 0 seu sentido. Ent&io — conclui — dai se segue que o posi-
tivo (0 texto) nos remete para uma polaridade transpositiva (0 Diteito
ou certa idéia do Direito), que esti para além do texto e que, talvez,
pudéssemos identificar com o Direito Natural ou alguma outta pauta sig-
hificativa que sirva de polaridade extrapositiva para o Direito que é, para
‘o Direito que tem vigéncia € cficdcia hic et nunc (op. cit., p. 210).
Em perspectiva semethante, embora sem procurar um maior apro-
veitamento filos6fico, KARL LARENZ coloca o problema da estrutura
circular do compreender ¢ a importancia da pré-compreensio para a her-
menéutica juridica em geral.
A interpretagao de um texto, qualquer que seja a sua natureza —
afirma LARENZ — nao s6 tem a ver com o sentido de cada uma das
palavras, mas também com o de uma seqtiéncia de palavras e frases, que
expressam um continuo nexo de idéias. Por outro lado, o significado da
majoria das palavras revela uma maior ou menor amplitude de variagao,
mas, em cada contexto, esse significado resulta do posicionamento da
palavra na frase e da conexio total de sentido dentro da qual a palavra
surge, em determinado lugar do discurso ou do texto. Disso resulta uma
especificidade do proceso do compreender, conhecida como circulo her-
menéutico, que LARENZ descreve da forma seguinte:
uma vez que o significado das palavras, em cada caso,
86 pode inferir-se da conexdo de sentido do texto e este, por
Brasilia a. 29 m. 116 out./dex. 1992 9
stia vez, em dltima anétise, apenas do significado — que aqui
seja pertinente — das palavras que o formam e da combinagao
de palavras, entio tcré o intérprete — e, em geral, todo aquele
que queira compreender um texto cocrente ou um discurso —
de, em relagdo a cada palavra, tomar em perspectiva previamen-
te 0 sentido da frase por ele esperado ¢ 0 sentido do texto no
seu conjunto; ea partir daf, sempre que surjam diividas, retro-
ceder ao significado da palavra primeiramente aceite e, confor-
me 0 caso, retificar este ou a sua ulterior compreensio do texto,
tanto quanto seja preciso, de modo a resultar uma concordin-
cia sem falhas” (Metodologia da Ciéncia do Direito. Lisboa, Gul-
benkian, 2 ed, pp. 242/243).
Como a descrigdo © mesmo a imagem do circulo podem sugerir 0
encarceramento do intérprete num cspago fechado, dentro do qual o pro-
cesso hermenéutico retornaria sempre ¢ infrutiferamente ao mesmo lugar,
KARL LARENZ — como, de resto, HEIDEGGER e GADAMER tami.
bém ¢ fizeram ~~ cuida de esclarecer que nao se trata de um circulo vicio-
30, mas de um momento positive no processo hermengutico, desde que
seja corretamente entendido.
Por isso, adverts que a imagem do circulo néo seria adequada se
pensdssemos que 0 movimento circular do compreendcr {aria o intérprete
retornar sempre ao ponto de partida, numa auténtica tautologia. Seré ade-
quada. ao revés, se entendermos que 0 movimento conduz sempre a um
novo e mais elevado estégio da compreensdo, pois ainda quando o pro-
cesso de olhar para a frente e para trés — apés varias repeticges — ape-
nas venha a confirmar, afinal, a conjuntura de sentido inicialmente su-
posta ou antecipada pelo intérprete, este jé nao estard situado no mesmo
ponto em que inicialmente se encontrava, pela simples razdo de que a
sua mera suposi¢fo ou idéia, a partir de agora, ter-se-4 convertido em
certeza (op. cit., p. 243).
Dai que, em reflexdo criadora, EMERICH CORETH — Outro noté-
vel estudioso da hermenéutica contemporanea — avance na descrigio do
processo hermenéutico, para afirmar que ele néo se desenvolve em circulo,
mas em espiral, figura geométrica que melhor traduz a idéia de GADA-
MER sobre 0 processo da comprecnsio como tarefa aberta ¢ infinita, que
se reitera sem cessar, sempre em busca de novas e mais adequadas inter-
pretagdes (Questées Fundamentais de Hermenéutica, Sio Paulo, EDUSP.
1973, p. 79).
Para melhor compreendermos como e por que o autor de Verdade e
Método considerou 0 processo da compreensio uma tarefa aberta © infi-
10 “RE In. legisl. Bra
2. 29m. 116 out /de
ita, que se retoma sem cessar, sempre na busca de novas ¢ melhores
interpretacdes, para bem cntendermos essa colocagéo, vale a pena trans-
cxever, embora relativamente extensos, os comentétios crfticos que dedi-
caram ao tema os mestres italianos GIOVANNI REALE e DARIO ANTI-
SERI, em sua prestigiosa Histéria da Filosofia.
No terceiro volume dessa obra, em recensio intitulada HANS GEORG
GADAMER e a Teoria da Hermenéutica, aqueles ostudiosos assim resu-
mem as idéias de GADAMER sobre o circulo hermenéutico e 0 proceso
da compreensio:
“© intérprete no & tabula rasa, Ele se aproxima do texto
com o seu Vorverstindnis, isto é, com a sua pré-compseensio,
vale dizer, com os seus pré-juizos our Vorurteite. Com base nessa
sua meméria cultural (linguagem, teorias, mitos, ctc.), 0 intér-
prete esboca uma primeira interpretagéio do texto (que pode ser
um texto propriamente dito, antigo ou atual, mas também um
discurso pronunciado, um manifesto etc). Ou seja, o intérprete
diz: “este texto significa isto ou aquilo, tem este ou aquele sig-
ado”, Mas esse primeiro esboco de interpretacdo pode ser
mais ou menos adequado, justo ou errado. Entéo, como faze-
mos para saber sc é ou nfo adequado esse nosso primeira esbo-
0 de interpretagao?
“Responde GADAMER, € a anélise posterior do texto (do
“texto” ¢ do “contexto”) que nos diré se esse esbogo interpre-
tativo € ou nao correto, se corresponde ou n&o ao que o texto
diz. E, se essa primeira interpretaco se mostra em contraste
com 0 texto, “choca-se” com ele, entéo o intérprete elabora se-
gundo esbogo de sentido, vale dizer, outra interpretagao, que
depois pée A prova em relagio ao texto e ao contexto, a fim
de ver se ela pode se mostrar adcquada ou nao. E assim por
diante, 20 infinito, j4 que a funcao do hermeneuta € fungdo
infinita e possivel, Com efeito, cada interpretacfo se efetua a
luz do que se sabe; ¢ 0 que se sabe muda; no curso da histéria
humana, mudam as perspectivas (ou conjecturas ou pré-juizos)
com que se olha um texto, cresce 9 saber sobre o “contexto” €
aumenta o conhecimento sobre o homem, a natureza € a
linguagem.
“Por isso, as mudangas, mais ou menos grandes, que ocor-
rom em nossa pré-compreensio podem constituir, conforme 0
caso, outras formas de releitura do texto, novos raios de luz
langados sobre ele, em suma, novas hipdteses interpretativas «
submeter & prova. Eis por que a interpretacao ¢ tarefa infinita.
R. inf.
isl, Brosilia a. 29 116 out./dex. 1992 1
Infinita pela razio de que uma interpretagio que parecia ade-
quada pode ser demonstrada incorreta e porque so sempre
possiveis noves e melhores interpretagdes. Possiveis porque, a
cada vez, conforme a époce histérica em que vive o intérprete
© com base no que cle sabe, nfo se excluem interpretagdes que,
precisamente, para aquela época e para o que na época se sabe,
so melhores ou mais adequadas do que outras.” (Historia da
Filosojia. Sio Paulo, Edigdes Paulinas, 1991, Vol. III, p. 630).
3. Conccito, objeio e clementos da Constitui
De posse desse instrumental teérico — mormente do conceito de pré-
compreensio —, creio que qualquer nogdo, ainda a mais elementar, que
se pretende ministrar sobre o conceito, 0 objeto e os elementos da Consti-
tui¢do estard condicionada pela nossa pré-compreensfo; como, por outro
lado, toda pré-compreensio, até certo ponto, € irracional — porque, dentre
outros elementos constitutivos, ela é formada pelas nossas pré-suposigées,
pré-juizos ou préconceitos, tanto os legitimos quanto os ilegitimos —
tornase necessdrio racionalizd-la de alguma forma, 0 que se obtém pela
reflexdo critica levada a cabo no Ambito da Teoria da Constitui¢ao.
Em outras palavras, também constitui tarefa importante, fundamental
mesmo, de teoria constitucional submeter a pré-compreensio da Constitui-
80 ao tribunal da razao critica, para distinguir os pré-juizos legitimos
dos ilegitimos, os falsos dos verdadeiros ¢, assim, alcangar uma compreensio
da Constituigo que se possa considerar verdadeira ou, no minima, consti-
tucionalmente adequada.
Por isso, GOMES CANOTILHO afirma que a Teoria da Constituigio
ndo sc limita & tarefa de “investigagio” ou “descoberta” dos problemas poli
ticos constitucionais, nem tampouco 4 fung&o de elemento “‘concretizador”
das normas da Lei Fundamental, antes servindo, também, pare “racionalizat’
e “controlar” a pré-compreensio constitucional. (Constituigao Dirigente ¢
Vinculagao do Legislador. Coimbra, Coimbra Editora, 1982, pp. 80/81).
Assim posta a questio — em termos de pré-compreensiio constitucio-
nal —, © primeiro ¢ radical problema, cuja solugio condicionaré a
compreenso ¢ 0 desenvolvimento de tudo o mais, consistira em saber se
devemos conceber uma constituigao apenas como constituicdo juridica, isto
6, como simples estatuto organizatério ou mero instrumento de governo, em
que se regulam processos e se definem competéncias, ou, 20 contrdrio,
concebé-la como “constituigao politica”, capaz de se converter num plano
normativo-material global, que eleja fins, estabelega programas ¢ determi-
ne tarefas.
12
Noutras palavras, como resumido pelo mesmo CANOTILHO, a quem
se deve estas ¢ outras colocagées pertinentes, o que precisamos decidir, antes
de mais nada, 6 se a Constituigéo ha de ser uma lei do Estado e s6 do
Estado, ou um estatuto juridico de fenémeno politico, um “plano global
normative”, do Estado e da sociedade (op. cit., p. 12).
Como anotado anteriormente, 2 resposta a essas indagagdes — que
dizem respeito @ natuseza e 4 funcio de uma lei constitucional — surgiré
do debate teorético-juridico e teorético-politico, que sc trava no ambito da
Teoria da Constituigéo, que ¢, precisamente, por onde ¢ aonde se inicia
toda compreensio constitucional.
Advertindo — desde logo — como o faz KONRAD HESSE — de que,
em termos de conceito e qualidade da Constituicao, a teoria do Direito Cons-
titucional ainda est4 engatinhando, sem ter alcangado o consenso de uma
“opiniso dominante” (“Concepto y Cualidad de la Constitucién”, in Escri-
tos de Derecho Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Constituciona-
Tes, 1983, p. 4), com essa adverténcia, exporemos, a seguir, ainda que
resumidamente, algumas das mais recentes e importantes teorias constitu-
cionais, que nos permitirao, afinal, compreender — quase decifrar — os
grandes temas ¢ os grandes problemas com que se defronta a Teoria do
Diteito Constitucional e, afinal, formular, senfio um, pelo menos alguns
conceitos de constituigéo, que, mesmo sem contarem com a aceitagao
majoritaria da doutrina, nem por isso serao privados de consisténcia ¢
utilidade.
‘Trata-se, em iltima anélise, de procurar respostas pelo menos acei-
taveis, & luz das diversas experiéncias constitucionais, para aquelas indaga-
des transcendentais que precedem ou condicionam, criticamente, as opgbes
concretas em torno dos yérios modelos constitucionais historicamente co-
nhecidos: que tatefas ou fungdes devem ser confiadas & constituigéo de um
determinado pafs? Quais as matérias que tém dignidade constitucional?
Deve a Constituigio limitar-se a ser uma ordem de competéncias, uma
simples norma de organizacao, embora Norma Fundamental? Deve, ao con-
trério, a Constituigéo conter um bloco de diretivas materiais corresponden-
te As aspiragdes ¢ interesses de uma sociedade concreta, isto €, sociedade
de um espago e tempo historicamente situados? Em suma, deve a Consti-
tuigdo simplesmente sancionar o existente, ou servir de instrumento de
ordenacdo, conformagio ¢ transformagées de realidade social e politica?
Para ordenar as respostas a essas indagagées, adotaremos a selegiio de
doutrinas ievada a cabo por GOMES CANOTILHO — bem mais extensa
do que a utilizada por seu mestre KONRAD HESSE — indicando, em
conseqiiéncia, como dignas de consideragio, as teorias constitucionais
expostas a seguir.
R, Inf, fogisl, Brasilia @. 29 om. 116 out./der. 1992 13
3.1. A Constituig@o como garantia do “statu quo” econdmico ¢
social (E. FORSTHOFF)
Resumindo © que chama as trés idéias fundamentais que condensam a
icoria constitucional de FORSTHOFF, GOMES CANOTILHO diz que essa
construgao doutrindria vé a constitui¢éo como garantia do status quo econé-
mico e social: € uma teoria da constituigdo em “busca do Estado perdido”: e,
finalmente, é teoria da constituigdo de um Estado de Direito meramente
formal.
Em razio desse enfoque, que ele considera inaccitével, quer quanto
aOS SUS pressupostos, quer quanto as suas conseqiiéncias — porque uma
Constituigdo, materialmente entendida, nao pode ser axiclogicamente neu-
tra, devendo, anies, ser democratica e social —, em virtude dessa carénei
GOMES CANOTILHO considera que as idéias de FORSTHOFF nao cons-
tituem ponto de partida para a elaboragio de uma teoria da constituigéo
“constitucionalmente adequada”, isto é, capaz de compreender o Estado de
Direito como este deve ser compreendido, ou seja, como Estado de Direito
intencionalmente socializante, de que constitui modelo — para ele. CANOTI-
LHO — o Estado portugués estruturado pela Carta de 1976.
3.2. A Constituigao como insirumento de governo (W. HENNIS)
Assim compreendida, a constituigio nfo passa de uma “fei proces:
sual”, em cujo texto se estabelecem competéncias, regulam-se processos ¢
definem-se limites para # ago politica,
Embora contrariando a tendéncia de grande parte da teoria constitu-
cional contempordnea — que, no dizer de CANOTILHO, onera o barco
constitucional como excesso de carga politica, econdmica e social —, a con-
cepeiio da constituicdo como instrumento de governo tem a vantagem de
facilitar a sua conversdo em ordem fundamental do Estado ¢ habilité-la a
absorver a cléssica tensio entre “Constituigao” ¢ ‘‘realidade constitucional”
(op. cit, p. 87).
Trata-se de vantagem que, no entanto, no deve ser superavaliada.
porque uma Constituigio excessivamente “processual”” ou “formal”, além de
no corresponder — como deve — as necessidades da praxis politica, a0
limite acaba se convertendo na ordem de dominio dos agentes de uma
determinada ideologia, eis que por tras de todo positivismo juridico e de
toda neutralidade estatal, escondem-se, protegidos, aqueles que positivaram
a Lei Fundamental segundo seus valores, aspiragdcs, inleresses ow idéias.
Por isso — arremata CANOTILHO — o problema maior nao reside em
contrapor uma Constituiggo como “instrumento de governo” 2 uma Cons-
tituigfo com “ordem material fundamental de uma comunidade”, mas em
1“ TR taf. teal.
asilia 0. 29m. 116 out./dex. 1992
precisar 9 modo como “uma Constituigdo pode ¢ deve ser uma ordem ma-
terial” (op. cit., p. 89).
3.3. A Canstituigao como “processo ptiblico” (P. HABERLE)
Nessa perspectiva — para utilizarmos a linguagem expressiva de
HABERLE, reproduzida na sintese de Canolilho —, longe de’ ser um
simples “estampido” ou “detonagao” origindria que comeca na “hora 2010”,
a Constituigio escrita €, como “ordem-quadro da Reptiblica, uma lei neces-
sétia mas fragmentéria, “indetcrminada” ¢ “‘carecida de interpretagio":
disso decorre, por outro lado, que a verdadeira Constituigao seria sempre o
resultado — ¢ resultado temporério —- de um processo de interpretagdo
conduzido & “luz da publicidade”. Mais ainda, a Constituigio é, ela mesma,
um proceso, donde HABERLE insistiu nessa expressdo e em outras do
mesmo sentido, tais como “compreensao pluralistica normativo-processual”,
“alternativas”, “pluralizago da legislacao constitucional”, “pluralidade de
intérpretes”. “forga normativa da publicidade” e outras do mesmo teor.
Noutras palavras — ainda nas expressdes de HABERLE, reproduzidas
por CANOTILHO —, a lei constitucional e @ interpretagao constitucional
republicana aconteceriam numa sociedade pluralista € aberta, como obra
de todos os participanies, neles se encontrando momentos de didlogo e
momentos de conflito, de continuidade e de descontinuidade, de tese ¢ de
anti-tese.
S6 assim uma Constitui¢do, cntcndida como ordem juridica fundamen-
tal do Estado e da sociedade, ser também uma Constituic¢ao aberta de uma
sociedade aberta.
Essa compreensio, bem se vé, chega a ser fascinante, sobretudo para
aqueles que, a pretexto de combaterem o positivismo ¢ a dogmitica ju-
ridica, como que “processualizam” a visio do Direito e do Estado, sem sc
darem conta de que assim agindo dissolvem a normatividade constitucional
numa dinimica absoluta, retirando da Lei Fundamental uma de suas mais
importantes dimens6es ou finalidades, que 6, precisamente, a dimensio
ordenadora ¢ conformadora da vida em sociedade.
Por isso, 0 proprio CANOTILHO, admirador das posigdes de
HABERLE, ao fazer o balango critico dessa compreensio da Constituigao,
poe a ressalta de que, caracterizada como processo, a Lei Fundamental
apresenta um déficit normativo acentuado, pois a pretexto da “‘abertura” c
do “existencialismo atualizador do pluralismo”, dissolve a normatividade
constitucional na politica ¢ na interpretagéo, chegando quase & conclusio
de que a legiferacio (Poder Constituinte) e a interpretagiio constitucional
sfio uma s6 e mesma coisa (op. cit., p. 476).
R. Inf. legis!. Brasilie
29 116 out./dex. 1992 15
jo como ordem fundamental ¢ programa de agio
que identifica umu ordem politico-social e 0 seu processo de
realizagdo (BAULIN)
Nesta perspectiva, a Constituigéo ndo é um simples instrumento de
protegio das relagdes existentes, mas a norma fundamental em que se
projeta ¢ realiza uma sociedade em devir, que indica as mudangas e con-
formagio do sistema politico, das relagdes sociais e da ordem juridica
Concretamente, sobre ser a Lei Fundamental do Estado (perspectiva
juridica), € também norma fundamental conformadora da vida social
{perspectiva s6cio-politica), em cujo ambito se formulam os fins sociais
globais mais significativos, se fixam limites as tarefas da comunidade ¢ se
ordena o processo politico.
Em face desse amplo espectro, a Constituicao, para atingir seu desi-
derato, deve ser, a um s6 tempo, ordem jundamental e programa de agio,
do que resulta construida, naturalmente, com ¢ pela Constituigo, a unidade
s6cio-politica econémica da sociedade.
Diversamente do que sustentam HABERLE e seus seguidores, sob
esse enfoque a Constituigio continua a ser concebida como constituigo
aberta, carente de concretizagfio, mas essa concretizagao, nascida na e com
a prdxis constitucional, deve conter-se nos limites da prépria Constituigio,
endo descambar para um pluralismo radical, A moda de direito livre, cm
Cujo ambito tornase dificil, senio impossivel, perceber onde termina a
realidade constitucional ¢ comecam as préticas inconstitucionais.
3.5. A Constituigio como programa de “integragto” ¢ de “represen-
tag@o” nacional (H. KRUGER)
Vista como programa de “‘integraglo” ¢ de “representagao” nacional,
a Constituigiio € entendida, aqui, apenas como Constituigio do Estado, do
que decorre a opsio pela tese de que uma constitui¢ao s6 deve conter
aquilo que disser respeito 2 comunidade, A nacho, & totalidade politica;
tudo o mais, que a moderna constitucionalfstica denomina “Constituigo
econémica”, “Constituigo do trabalho”, “Constituigao social” erc., & relega-
do & condigio de “Constituigées subconstitucionais” ou “Subconstituigées”.
A opgiio, bem se vé, advém da compreensio de que a Constituigao,
para ter estabilidade e duracdo, nao pode constilucionalizar matérias sujeitas
a oscilagdes quotidianas, sob pena de se constitucionalizarem interesses
que, por mais relevantes que sejam, dizem respeito a grupos patticularizados
€ nao A nago como um todo
Criticando essa compreenséo da Lei Fundamental, GOMES CANO-
TILHO diz que cla padece dos defeitos do integracionalismo mais extremo
16 R. Int. legis! Brosilia @. 29m. 116 out./dex. 1992
© nfo contempla os problemas que hoje se colocam a uma Constituigzo
de um Estado Democratico, no plano politico e econdmico-social (op. cit.,
p. 112).
3.6. A Constituigéo como legitimagio do poder soberano, segundo
@ idéia de Direito (G. BURDEAU)
Das mais conhecidas admiradas, a tcoria constitucional de BURDEAU,
tornou-se material de consumo intelectual obrigatério, seja porque limpi-
damente exposta, soja porque sintetizada em forma de compreensio quase
imediata: “a Constituigao 6 0 estatuto do poder”.
De outro lado, como observam aqueles que a enaltecem, essa teoria
tem a vantagem de coligar a concepgéo de Constituigao com a idéia do
Estado de Direito, do qual se apresenta como pressuposto, seja em relagio
aos governantes, porque os priva da condigao originaria de donos do poder
— reduzindo-os ao papel de seus agentes —, seja com referéncia ao proprio
poder, que, pela Constituigao, tem juridicizado o seu exercicio.
‘A Constituicéo, pela forma como atua sobre o poder — afirma
BURDEAU —, deve ser considerada verdadeiramente criadora do Estado
de Direito pois, se antes dela, 0 poder é um mero fato, resultado das
circunstincias, produto de um equilibrio fragit entre as diversas forgas
politicas, com a Constituigao ele muda de natureza, para se converter em
Poder de Direito, desencarnado e despersonalizado (Traité de Science Poli-
tique. Paris, LGD], 1984, Tomo 1V, pp. 44/45).
3.7. A Conslitui¢do como ordem juridica fundamental, material
aberta de uma comunidade (K. HESSE)
Trata-se, aqui, de uma das mais respeitadas teorias da Constitui¢go
do nosso tempo, embora, a rigor, carega de otiginalidade.
Com efeito, como deixam entrever os diversos Escritos de Hesse,
consciente de que inexiste uma opiniao dominante sobre 0 conceito €
qualidade da Constituigo (estrutura e fungio; natureza e fungao; sentido
¢ fungdo da lei fundamental), se pretendemos levar a cabo algum trabalho
proficuo, ainda que nio original, poderemos fazé-lo operando as diversas
teorias ¢ extraindo delas a iluminagio de determinado aspecto ou dimenséo
do compreender constitucional, rumo a um conceito sintetizador, tal como,
afinal, foi conseguido por KONRAD HESSE.
Para isso, partiv ele, como ja vimos, do reconhecimento de que, a
par da inexisténcia daquela opiniéo dominante, 0 que antes se via era
utilizagao acritica de conceitos hauridos de teorias de outras épocas, mani-
festamente incapazes de dar consciéncia, terica ¢ pritica, para uma dou-
inf. legisl. Brasil
a. 29 on. 116 out./dez. 1992 7
trina da Constituiga0 temporalmente adequada, isto é, para uma doutrina
da Constituigéio como esta ¢ vivenciada neste final de séoulo XX.
Dessa tomada de posigdo resultou a sua aniilise da Constituigéo levando
em conta os aspectos ou dimensées ressaltados pelas doutrinas constitucio-
hais precedentes, algumas das quais resumidamente expusemos linhas acima.
Daf que, a rigor, mais que uma teorizacdo sobre a Lei Fundamental,
HESSE tenha levado a efeito uma descrigao dos diferentes angulos sob os
quais ¢ a partir dos quais se possa chegar A formulacdo de um conceito
de Constituiggo, se ndo pacifico, pelo menos nfo rejeitado de ptano pelos
seus eventuais opositores.
Assim, para HESSE, a Constituigdo vem a ser caracterizada ou enten-
dida como a “ordem juridica fundamental de uma comunidade” ou o “plano
estrutural para a conformacao juridica de uma comunidade, segundo certos
princfpios fundamentais”, tarefa cuja realizacdo s6 se torna possivel porque
ela: a) fixa os prineipios diretores segundo os quais se deve formar a unidade
politica e desenvolver as tarefas estatais: 6) define os procedimentos para
a solugo dos conilitos no interior da comunidade; c) disciplina a orga-
nizago € 0 processo de formacdo da unidade politica e da atuagdo estatel,;
d) ctia as bases ¢ determina os princ(pios da ordem juridica global (“Con-
cepto y Cualidad de la Constitucién”, in Escritos de Derecho Constitucional.
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 16).
Além das doutrinas aqui apresentadas — em mimero de sete —,
muitas outras poderiam ser expostas, como a de LUHMANN, para quem
a Constituigo € 0 “elemento regulative” do sistema politico; a de MO-
DUGNO, que encara a Constittigao como norma fundamental, forma de
governo e principio de normagao juridica; a de CARL SCHMITT, que
dissolve em quatro um conceito integral de Constituigio — absoluto,
relativo, positivo e ideal —~ porque entende nao ser possivel visualizer a
Lei Fundamental apenas sob determinado ponto de vista; a de LASSALLE,
para quem a verdadeira Constituigao de um pais é a soma dos fatores reais
de poder que regem a vida desse pais; ou, finalmente, a teoria constitu-
cional_marxista-leninista, que cncara a Constituigo como a lei funda-
mental do Estado socialista, que organiza a vida social e estatal segundo
os princfpios do chamado socialismo real (DENISOV & KRIRICHENKO).
Mesmo amptiando a lista das teorias constitucionais, ainda assim nao
ograrfamos alcangar a formulagao de um conceito genérico © abstrato,
que abrangesse, se no a totalidade, ao menos a maioria das cartas politicas
de que se tem conhecimento, pela simples razio de que esse hipotético
conceito, para ter abrangéncia 10 ampla, acabaria necessariamente esva-
ziado de qualquer contetido e, assim, inviabilizado para fundamentar uma
compreensio da Constituicio conducente & solucdo dos problemas concre-
tamente postos pela experiéncia constitucional..
18 R. Inf, legisl, Brosifia @, 29 nm, 116 out./dex. 1992
Diversamente, se 0 pretendido conceito, para ser denso, ficasse dema-
siadamente preso a uma s6 e mesma experiéncia constitucional, deixaria
de valer como conceito, eis que se identificaria com um énico objeto, dei-
xando de ser, enquanto conceito, a representagdo dos tragos essenciais
abstraidos de uma pluralidade de reprodugées ou de representagées de
varios objetos.
Por isso € que a moderna doutrina constitucional, neste ponto, insiste
em afirmar que a Teoria da Constituigo, para ser util & metodclogia geral
do direito constitucional, deve revelar-se com uma teoria da constituigao
constitucionalmente adequada, © que s6 se consegue explorando, correta-
jente, um novo circulo hermenéutico, consistente na interagZo e na depen-
déncia mitua entre a Teoria da Constituigéo e a experiéncia constitucional,
a primeira favorecendo a descoberta ou investigagio das solugGes jurfdico-
constitucionais, e a segunda fornecendo o material empirico indispensvel
para o desenvolvimento da teoria constitucional .
4, Concluséio
A esta altura, A guisa de conclusio ¢ de teste sobre a consisténcia
desta exposicao doutrindéria — que se fez deliberadamente ampla para
abranger os varios pontos de vista sob os quais a tematica da palestra
pode e deve ser abordada —, vamos analisar, criticamente, o que nos diz
sobre 0 conceito, 0 objeto e os elementos da Constituigao um dos nossos
mais respeitados constitucionalistas, 0 Professor JOSE AFONSO DA
SILVA, para saber, afinal, se as suas idéias, no particular, sio constitucio-
nalmente adequadas, isto é, se nos permitem compreender a Constituigao
do Brasil na Idgica de sitwagao em que ela est4 inserida, enquanto lei funda-
mental da Sociedade e do Estado no atual momento de nossa evolugao
politica.
Pois bem, para o mestre paulista, “a Constituigéo do Estado, consi-
derada sua lei fundamental, seria a organizagdo dos seus elementos essen-
ciais: um sistema de normas jurfdicas, escritas ou costumeiras, que regula
a forma do Estado, a forma de seu governo, 0 modo de aquisigio e 0
exerefcio do poder, 0 estabelecimento de seus Srgéos ¢ os limites de sua
ago. Em sintese, a Constiluicao é 0 conjunto de normas que organiza os
elementos constitutivos do Estado” (Curso de Direito Constitucional Posi-
tivo, Sao Paulo, RT, 5." ed. 1989, pp. 37/38).
Exposto esse conceito de constituigao, sobre o qual falaremos adiante,
JOSE AFONSO DA SILVA aponta como objeto das constituigdes parte
do que j4 se contém no conceito ¢ algo mais, como se vé a seguir: “‘as cons-
tituigdes tém por objeto estabelecer a estrutura do Estado, a organizacao
R. Inf. legisl. Brasilia a. 29 om. 116 out./dez, 1992 9
de seus drgios, 0 modo de aquisigfo do poder ¢ a forma de seu exercicio,
limites de sua atuago, assegurar os direitos ¢ garantias dos individuos,
fixar o regime politico ¢ disciplinar os fins sécio-econémicos do Estado,
bem como os fundamentos dos direitos econdmicos, sociais e culturais” (op.
cit, p. 42).
Quanto aos elementos das Constituigdes, apés registrar que a doutrina
diverge sobre o seu ntmero e caracterizacéo, afirma que a generalidade
das leis fundamentais revela, em sua estrutura normativa, cinco categorias
de elementos, assim definidos: a) elementos orgénicos, que se contém nas
normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder; b) elementos limi-
tativos, assim denominados porque limitam a ago dos poderes estatais ¢
dio a t6nica do Estado de Direito, consubstanciando o elenco dos direitos
e garantias fundamentais: direitos individuais ¢ suas garantias, direitos de
nacionalidade e direitos politicos e democraticos; c) elementos sécio-ideo-
I6gicos, consubstanciados nas notmas sécio-ideolégicas, normas que reve-
Jam o caréter de compromisso das constituig6es modernas entre o Estado
individualista e 0 Estado Social, intervencionista; d) elementos de esta
bilizagao constitucional, consagrados nas normas destinadas a assegurar a so-
lugiio de conflitos constitucionais, a defesa da constituigio, do Estado e das
instituigdes democriticas, premunindo os meios ¢ técnicas contra sua alte-
ragéo e infringéncia, a nao ser nos termos nela propria cstatuidos; ¢ f)
elementos formais de aplicabilidade, consubstanciados nas normas que
estatuem regras de aplicacio das constituigées, assim, 0 preambulo, 0 dispo-
sitivo que contém as cléusulas de promulgaciio e as disposiges transitérias
(op. cit., pp. 43/44).
Cotejando essas observagdes com as diferentes doutrinas expostas 20
longo desta explanacio, facil € verificar que 0 jurista pétrio nfo pretendeu
oferecer conceito préprio, nem indicar objeto e elementos das constituigdes
segundo pontos de vista pessoais, antes se limitando a deserever o contetido
das constituigdes contemporaneas e a indicar, em nossa atual Carta Politica,
quais dispositivos exemplificavam as diversas formulagées teGricas, tudo
de conformidade com a preconizada utilizagio fecunda do novo cfrewlo
hermenéutico, a que nos referimos finhas acima.
Assim fazendo, 0 mestre JOSE AFONSO DA SILVA nio apenas
se manteve nos limites de uma teoria da constituigdo constitucionalmente
adequada, como prestou significativa colaborago para colocar em evidéncia
que a nossa experiéncia constitucional esté em sintonia com a das demais
sociedades politicas do nosso tempo, profundamente marcadas pela preo-
cupagdo em consolidar a idéia de que toda constituigao, para responder as
exigéncias da sua época, hd de ser compreendida nao apenas como a lei
fundamental do Estado, mas também como o principal instrumento de
construgio da Comunidade do porvir.
20 R. Inf, legisl. Brosilio o. 29, 116 out.
. 1992,
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Owen Fiss - La Independencia JudicialDocument12 pagesOwen Fiss - La Independencia JudicialRaul DieguesNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Ronald Dworkin - Lon FullerDocument24 pagesRonald Dworkin - Lon FullerRaul DieguesNo ratings yet
- A Pureza Do Poder Luis Alberto WaratDocument67 pagesA Pureza Do Poder Luis Alberto WaratRaul DieguesNo ratings yet
- Severino Metodologia CompletoDocument145 pagesSeverino Metodologia CompletoandrezaamaralNo ratings yet
- Metodos e Principios Da Interpretação Constitucional - Inocencio Martires CoelhoDocument15 pagesMetodos e Principios Da Interpretação Constitucional - Inocencio Martires CoelhoRaul DieguesNo ratings yet
- Alexy Fundamentais SumarioDocument10 pagesAlexy Fundamentais SumarioMaiara AlvesNo ratings yet
- Friedrich Müller - Métodos de Trabalho Do Direito Constitucional (2005)Document98 pagesFriedrich Müller - Métodos de Trabalho Do Direito Constitucional (2005)Gustavo Zatelli100% (2)
- Interpretação Constitucional e Política - Inocencio Martires CoelhoDocument11 pagesInterpretação Constitucional e Política - Inocencio Martires CoelhoRaul DieguesNo ratings yet
- Metáforas para Aparência - WaratDocument10 pagesMetáforas para Aparência - WaratRaul DieguesNo ratings yet
- Robert M. Cover - The Supreme Court, 1982 Term - Foreword Nomos and NarrativeDocument66 pagesRobert M. Cover - The Supreme Court, 1982 Term - Foreword Nomos and NarrativeRaul DieguesNo ratings yet
- A Procura de Uma Semiologia Do Poder - WaratDocument5 pagesA Procura de Uma Semiologia Do Poder - WaratRaul DieguesNo ratings yet
- Robert M. Cover - The Bonds of Constitutional InterpretationDocument20 pagesRobert M. Cover - The Bonds of Constitutional InterpretationRaul DieguesNo ratings yet
- WARAT, Luis Alberto. A Fantasia Jurídica Da Igualdade - Democracia e Direitos Humanos Numa Pragmática Da SingularidadeDocument10 pagesWARAT, Luis Alberto. A Fantasia Jurídica Da Igualdade - Democracia e Direitos Humanos Numa Pragmática Da SingularidadeRaul Diegues100% (1)