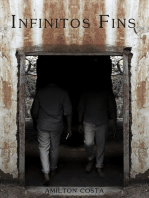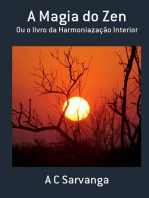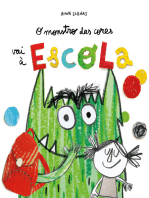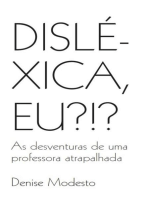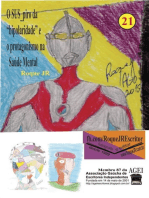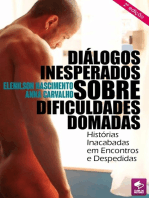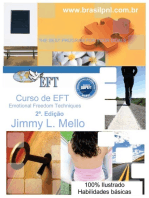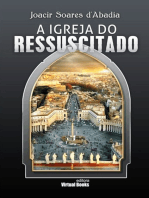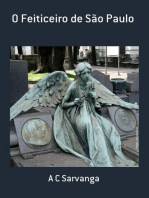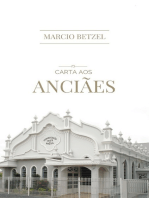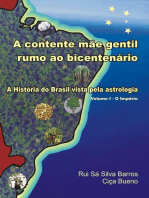Professional Documents
Culture Documents
Hermeneutica PDF
Hermeneutica PDF
Uploaded by
Silvia Martinez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views14 pagesOriginal Title
hermeneutica.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views14 pagesHermeneutica PDF
Hermeneutica PDF
Uploaded by
Silvia MartinezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
3
METODOLOGIA E HERMENEUTICA 1
Quando deparares com uma contradigéo faz uma
distingdo
Adagio escolistco
Introdugio
Anhermenéutica critica tem de comecar por analisara ciéncia que
se faz para que seja compreensfvel e eficaz.a erftica da ciéncia que se
faz, do mesmo modo que uma teoria critica tem de comegar por
analisar a sociedade que existe para que seja compreensivel ¢ eficaz
a critica da sociedade que existe. A luz da dupla ruptura episte-
‘mol6gica estudada no capitulo precedente pode concluir-se: a) que
todo 0 conhecimento é em
fico consiste em dar sentido a outras priticas sociais ¢ contribuir
para a transformagao destas; b) que uma sociedade complexa é uma
configuragao de conhecimentos, constituida por varias formas de
conhecimento adequadas as varias priticas sociais; c) que a verdade
de cada uma das formas de conhecimento reside na sua adequacio
concreta a pratica que visa constituir; d) que, assim sendo, a critica de
‘uma dada forma de conhecimento implica sempre a critica da prética
social a que ele se pretende adequar; e) que tal critica nao se pode
confundir com a critica dessa forma de conhecimento, enquanto
si uma prética social, cujo trabalho espe-
31
pritica social, pois a prética que se conhece ¢ 0 conhecimento que se
pratica esto sujeitos a determinagdes parcialmente diferentes.
Ji/em 1906 William James dizia que significa colocar 0 conhecimento produzido,
tanto pelo seriso comum como pels ciéncia, num registo pragmético,
‘num registo (ndo tenhamos medo das palavras) finalista e utilitario,
O conhecimento que nos guia conscientemente € com éxito na pas-
sagem de um estado de realidade para outro estado de realidade €,
nessa medida, um conhecimento verdadeiro, O éxito sera sempre oda
participagdo especifica (e necessariamente parcial) desse conhec
mento na transformagao. Essa transformagao tem de ser consciente
no sentido de que as consequéncias tém de estar antecipadas no
proprio conhecimento (Dewey, 1916: 319), pois, doutro modo, sao
elas que acontecem ao conhecimento em vez de ser o conhecimento
1 faré-las acontecer (como sucede no caso dos «efeitos perversos»,
das «profecias auto-confirmadas e auto-falsificadas», j4 hoje abu
dantemente estudadas na sociologia). A verdade nao é assim uma
caracteristica fixa, inerente a uma dada ideia. A verdade acontece @
uma dada ideia na medida em que esta contribui para fazer acontecer
0s acontecimentos por ela antecipados.
‘Ao contrario do que & primeira vista pode pensar-se, uma con-
cepeio pragmatica do conhecimento cientifico desloca 0 centro da
reflexio do conhecimento feito para o conhecimento no processo de
se fazer, do conhecimento para o conhecer. Alids, a dificuldade
fundamental da concepgao pragmatica reside em fixaro momentoem
que 0 conhecimento esté feito, ou melhor, 0 momento em que 0
conhecimento € feito verdadeiro. Esta fraqueza, desde que ple
namente assumida, transforma-se numa forga, até porque esta con-
cepgo sabe que, nas concepgSes maximalistas (idealistas ou mate-
3
rialistas) da verdade 0 que normalmente se reivindica como ver-
dadeiro € menos 0 verdadeiro do verdadeiro do que o verdadeiro da
reivindicacio. Sendo a verdade, ela propria, um acontecer mais do
‘que um acontecimento, a epistemologia pragmética nao tem uma
cconcepgio terminal da verdade. Pelo contrsrio, como as consequén-
ccias t8m de ser queridas ¢ por isso antecipadas, o centro da gravidade
da reflexio epistemolégica desloca-se do conhecimento feito para 0
cconhecer como pratica social. Dai a centralidade da metodologia
enquanto anélise critica dos procedimentos que medeiam entre 0
querer e o ter conhecimento,
No plano metodol6gico, a dupla ruptura epistemolégica mani-
festa-se na resposta a duas perguntas: como se faz ciéncia? (primeira
ruptura); como é que a ciéncia se confirma ao transformar-se num
novo senso comum? (segunda ruptura). A este nivel, torna-se ainda
mais claro 0 que no capitulo precedente se disse sobre o facto de a
segunda ruptura, longe de neutralizar a primeira ruptura, ser condi-
cio da plena realizagao desta. De facto, no plano metodolégico, a pri
meira ruptura consiste em romper com a concepgao do senso comum
sobre o modo como se faz-ciéncia, uma concepeao que é, als, muitas
vvezes interiorizada pelos cientistas (que so tio vulneriiveis ao senso
‘comum quanto os demais) e que se toma responsavel pela relagio
imaginéria que eles tém, nesse caso, com a sua prética de cientistas.
Esta ruptura mostra que as diferencas entre os modos de produgio do
‘conhecimento do senso comum edo conhecimento cientifico nao séo
tio absolutas quanto 0 senso comum julga (cont base na incomensura-
bilidade dos discursos) mas que, mesmo assim, existem ¢ sto signi-
ficativas. Em termos reais hé, pois, um misto de cumplicidade e de
dentincia mitua entre as duas formas de conhecimento eé esta ambi-
guidade que toma possivel a segunda ruptura. Se as duas formas de
conhecimento fossem totalmente distintas, a ciéncia néo podia
aspirar a transformar-se em senso comum, se fossem idénticas, a
cigncia nio podia pretender transformaro senso comum. Mas, porseu
lado, a segunda ruptura € quem dé sentido & primeira, pois a ciéncia
86 pode saber como se faz. (contra o senso comum) se souber o que
4
pode fazer (transformar o senso comum, transformando-se em s
comum)..
Como ja se deixou antever, o discurso metodol6gico dominante
86 incide sobre a primeira ruptura e a pergunta a que ela responde
(como se faz cigncia?). A segunda ruptura é uma exigéncia da
teflexiio hermenéutica sobre a metodologia e, por agora, nao é mais
do que um projecto cuja concretizagao plena, como igualriente se
deixou antever, s6 teré lugar no interior de um novo paradigma
cientifico. Este desenvolvimento desigual das duas probleméticas
reflecte-se, como seria de esperar, nas andlises que subjazem a
discussio da Metodologia da Investigacdo nas Ciéncias Sociais. No
que precede, usaram-se por vezes indiferentemente as expresses
‘«cineias» ¢ «ciéneias sociais». Esta ambiguidade foi propositada,
pois a0 nivel a que foi feita a discussio nao era preciso discutir a
questo da especificidade metodol6gica das ciéncias sociais. Essa
cespecificagao viré de imediato,
3.1. Discurso metodolégico I: das ciéneias naturais
A questo de saber se 0 estatuto de cientificidade ou a forma
lgica das ciéncias sociais é igual ou diferente do das ciéncias naturais,
uma das mais discutidas e das menos resolvidas em todo 0 discurso
epistemol6gico. Em face disto, nao ficaré mal que & partida definaem
linhas gerais a minha posicao a este respeito:
1. A questo do unitarismo ou dualismo epistemol6gico entre as
ciéncias naturais e as ciéncias sociais est, desde 0 infcio, marcada
pela hegemonia da filosofia positivista das ciéncias naturais. Foi por
aterem aceitado que os positivistas a procuraram ampliar, adoptando
‘a posigdo do unitarismo. Foi igualmente por a terem aceitado que os
38
neo-kantianos a procuraram manter nos seus limites «naturais»,
adoptando a posigao do duatismo.
2. O facto dea hegemonia de filosofia positivista estar hoje com-
prometida (até que ponto, é debativel) nao acarreta automaticamente
a resolugo ou desdramatizagao da questo porque, entretanto, esta
adquitiu uma materialidade prépria, constituida pela propria tradigao
da sua discuss, pelas distingSes conceptuais que & sua volta e por
‘sua causa foram sendo feitas ¢ introduzidas no corpus tearicus, pelas
‘separagGes institucionais e respectivas lealdades cientificas aque deu
azo, Apesar disso, o declinio progressivo da hegemonia da filosofia
positivista das ciéncias naturais torna possivel, pelo menos, por a
questo noutros termos
3. Até agora, a questio tem sido posta em termos de saber se as
ciéncias sociais sao iguais ou diferentes das ciéncias naturais; parte da
precaridade do estatuto epistemol6gico das ciéncias sociais e mede-
-o pelo das ciéncias naturais, tal qual é definido pela filosofia positi-
vista, Penso que, assim posta, a questo ndo s6 ¢ irresolivel como
constitui um obstéculo epistemolégico ao avango do conhecimento
cientifico, tanto nas ciéncias sociais como nas ciéneias naturais. Para
que assim no seja, é necessario inverter os termos da questao: partir
da precaridade do estatuto epistemol6gico das ciéncias naturais (0
que implica uma ruptura total com a filosofia positivista) e perguntar
se as ciéncias naturais sao iguais ou diferentes das cigncias soci
4, Posta desta maneira, a questo tem, pelo menos, um prinefpio
de resposta: as ciéncias naturais sao ainda hoje diferentes das cién-
ccias sociais, mas aproximam-se cada vez mais destas e € previsivel
que, em futuro no muito distante, se dissolvam nelas. Por duas
razies teéricas principais. Em primeiro lugar, 0 avango cientifico
ddas ciéncias naturais é 0 principal responsével pela crise do modelo
positivista e, em face dela, as caracteristicas que antes ditaram a
precaridade do estatuto epistemolégico das ciéncias sociais sio
reconceptualizadas e passam a apontar o horizonte epistemolégico
possivel para as ciéncias no seu conjunto. Em segundo lugar, a
lidade tecnol6gica em que 0 avango cientifico das ciéncias
naturais se plasmou ndo fez.com que os objectos tedricos das ciéneias
naturais e das ciéncias sociais deixassem de ser distintos, mas fez com
«que aquilo em que so distintos seja progresivamente menos impor-
tante do que aquilo em que so iguais.
Trata-se agora de explicitar os pardmetros desta posigo. Consi-
derar que 0 positivismo (e, em particular, o positivismo légico) desen
volveu um modelo de racionalidade cientifica cunhado nas ciéne
naturais, oqual, ao tornar-se hegeménico, extravasou para as ciéncias
sociais, obriga a caracterizar com mais detalhe o que se entende por
positivismo, Isto é tanto mais necessario quanto, nas iltimas décadas,
‘0 «positivismo» se transformou em nome feio que nem os positivis-
tas gostam de usar como auto-referéncia, ‘Tem razo, pois, Giddens
quando, para dar consisténcia & designagio, distingue entre positi-
vvismo, filosofia positivista e sociologia positivista (1980: 29). Para os
efeitos aqui prosseguidos, entendo por positivismo 0 que Giddens
designa por filosofia positivista, ainda que acaracterize de modo algo
diferente, Trata-se de uma concepedo que assenta nos seguintes pres-
supostos: a «realidade» enquanto dotada de exterioridade; 0 con
cimento como representagao do real; a aversio a metafisica eo caréc-
ter parasitério da filosofia em relagdo & ciéncia; a dualidade entre
factos ¢ valores com a implicaco de que 0 conhecimento empirico é
logicamente discrepante da prossecucdo de objectos morais ou da
observacao de regras éticas; a nocdo de «unidade da ciéncia», nos
termos da qual as ciéncias sociais e as ciéncias naturais partilham a
‘mesma fundamentacdo légica ¢ até metodolégica, Dentro desta filo-
sofia geral, distingo o positivismo I6gico pela sua énfase na unifi
cacao da ciéncia, pelo modelo de explicago hipotético-dedutivo ¢
pelo papel central da linguagem cientifica na construgao do rigor e da
universalidade do conhecimento cientifico.
Desta corrente filoséfica — que tem a contraditéria especif
cidade de se negar a si prépria excepto no que pode contribuir para
fixar a hegemonia do seu outro, a ciéncia — derivam, como disse,
duas tradigGes que ainda hoje continuam a balizar o debate sobre 0
31
estatuto epistemolsgico das ciéncias sociais. A primeira tradigio € a
aque pretende estender 0 modelo positivista as ciéncias sociais e que,
no dominio da sociologia, vem a plasmar-se na sociologia positi-
vista, cujos trés marcos tedricos fundamentais so Comte, Durkheim
€ 0 funcionalismo americano. Ao longo do seu trajecto, esta escola
sociol6gica foi servida por uma reflexao filoséfica bastante rica ©
‘em que saliento, pela exemplaridade do esforgo unitarista, a obra de
E. Nagel (1961). Deve ter-se presente que esta tradigo sempre reco-
nheceu, de Comte a Nagel, que 0 objecto das ciéncias sociais tem
caracteristicas especificas que criam problemas ¢ suscitam solu-
ges diferentes daqueles que so comuns nas ciéncias da natureza.
86 que essas diferencas ou so exteriores a0 processo de produce do
conhecimento ou s6 0 afectam no plano metodolégico € no con-
tendem com 0 estatuto epistemolégico, com a forma légica ou com 0
moxlelo de explicagio que as ciéncias sociais partilham por inteiro
ccom as ciéncias naturais. As diferengas, em todo 0 caso, ou so
superdveis ou so negligencidveis, ainda que no seu conjunto sejam
responsveis pelo atraso das ciéncias sociais (Santos, 1987: 21). Mas
mesmo este atraso é concebido de varios modos. Paraa generalidade
dos autores funcionalistas, cle deve-se as vicissitudes metodol6gicas
{que tomam mais dificil 0 rigor € & responsavel pelo baixo grau de
cientificidade das ciéncias sociais em relagio as ciéncias naturais.
Para Comte, porém, esse atraso esté teoricamente fundado na evo-
lugio do intelecto humano ¢ da sociedade, ¢ niio impede que, apesar
dele, a sociologia ocupe o vértice da hierarquia das ciéncias,
‘A ressurreigao da filosofia kantiana em meados do século XIX
forja uma alternativaa visio positivista da cigncia, E.aemergéncia do
dualismoepistemol6gico que, de resto, se manifesta de varias formas:
cigncias empfticas/ciéncias eidéticas (Husserl); ci@ncias nomotét
cas/ciéncias ideogréficas (neokantismo do Sudoeste Alemao); Natur
wissenschaftentGeisteswissenschaften (Dilthey). Esta dima formu-
lagio foi sem diivida a mais influente, Segundo ela, a conduta huma-
na, a0 contrério da natureza, 6 constitufda por um sentido subjectivo
ido num acto de compreensio que, apesar de
que no pode ser re
38
objectivavel porinterpretacao, assenta numa intuicdo imediata, numa
identificago empética tomada possivel pela partitha da experiéncia
dos valores que servem de referéncia & conduta, O fosso ontolégico
entre arealidade humanae a realidade natural determina assim 0 fosso
epistemol6gico. Este dualismoéacolhido por Weber de um modo que
© torna muito complexo e ambiguo, caracteristica,afinal, de todas as,
formulagbes teéricas de Weber: 0 intuicionismo é absorvido pela
objectivagao racionalista; areferéncia ontolégica da conduta humana
a valores nada tem a ver com a separacio epistemol6gica entre fac-
tos e valores (a raiz kantiana); 0 erkldren e 0 verstehen, enquanto
modelos de explicagao, tém alguns pontos de contacto (Fernandes,
1983a: 142); perfitha uma concepszo objectivista do sentido de acca
(Sayer, 1984: 38), o que é mais claro nos seus trabalhos empiricos do
que nas suas formulagdes tedricas (Pinto, 1984b: 114). A sociologia
de Weber tinha, pois, vitualidades positivistas que se ampliaram com
a recepgio de Weber no funcionalismo americano.
A tradigo do dualismo neokantiano esteve submersa duran
longo perfodo em que vigorou o consenso positivista no dominio das
cigncias sociais. Quando, no final da década de sessenta, este cor
senso colapsou, as posigdes extremaram-se em dois campos princi-
pais. O primeiro campo procede a uma critica radical do paradigma
positivista no dominio das ciéncias sociais, assume plenamente 0
dualismo epistemol6gico e recupera, sob vérias formas, a tradigao
fenomenolégica e hermenéutica. As posigdes mais extremas neste
campo chegam a por em causa a possbilidade da cientificidade das
ciéncias sociais, com o que, no fundo, acabam por negar o dualismo
de que partiram. E 0 caso de Peter Winch em The Idea of a Social
Science publicado em 1958 (1970). As posigées mais moderadas
limitam-se a reivindicar a especifi
das
yi idade do estatuto epistemolégico
iéncias sociais, definindo-o em contraposigzio com o estatuto
epistemol6gico das ciéncias naturais que acriticamente assumem ser
© que thes foi definido pelo positivismo (sobretudo na versio do
Positivismo l6gico). Estdo neste caso as correntes da fenomenologia
social, da etnometodologia e do interaccionismo simbél
59
segundo campo epistemoldgico a emergir do colapso do posi-
tivismo é ainda mais diversificado, mas pode ser designado em geral
por construtivismo racionalista, Ao contrério do anterior, nfo corta
radicalmente com o paradigma positivista, pois dele mantém o pen:
dor objectivista, a aversio a reflexio filoséfica especulativa sobre a
cigncia, aideia do conheciinento como representa do real ea sepa-
rac, pelo menos enquanto aspiragdo, entre factos ¢ valores. Recusa
radicalmente 0 realismo ou o logicismo ingénuos e afirma o primado
da teoria sobre a observagdo. Ainda ao contrétio do primeiro campo,
parte de uma reflexao epistemol6gica sobre as ciéncias naturais, aco
Ihendo selectivamente e com adaptagdes os seus resultados.
‘Trata-se de um campo internamente muito diversificado, onde
cabem posigSes muito dispares que tém de comumacriticado modelo
fixista de cientificidade do positivismo I6gico e a construgao, com
base nela, de um modelo alternativo, prético, aberto, onde cabem
s opgdes metodol6gicas e varios modelos explicativos. A rela-
tiva maleabilidade (balizada pelo que retém do positivisme) do
estatuto epistemol6gico do conhecimento cient
toma possivel uma nova forma de unitarismo epistemol6gico que nao
colide com a afirmagiio das especificidades do conhecimento cienté-
.0-social. Neste campo so de incluir posigbes to diversas quanto
as de Piaget, Habermas, Giddens e Bourdieu. No caso deste tiltimo,
1 referéncia & epistemologia das ciéncias naturais (formulagio de
Bachelard) € particularmente vincada e ¢ a partir dela (¢ no &mbito
dela) que constréi a especificidade epistemolégica das ciéncias so:
ciais, E também neste campo que se deve incluir a reflexdo epistemo-
légica sobre as ciéncias sociais feita em Portugal nos Gltimos anos
‘em que se salientam Sedas Nunes, Armando Castro, Teixeira Fernan-
des, Madureira Pinto e Ferreira de Almeida. Em todos eles, com
excepoio de Armando Castro, onde esto presentes outras referéncias,
€ patente a influéncia da epistemologia bachelardiana, quer dis
tamente, quer através dos socidlogos que Bachelard influenciou
(nao s6 Bourdieu como também, embora de modo muito diferente,
Touraine ¢ Boudon).
oo
Dada a amplitude deste campo de reflexio epistemol6gica, €
impossivel dar conta em detalhe de todas as posigdes que nele se
acolhem. Respigando de algumas delas, pode concluir-se que os
registos de oscilago so variados: enquanto algumas salientam a
unidade epistemol6gica, outras salientam a especificidade das cién
cias sociais; enquanto umas se centram nos modelos explicativos,
outras dio mais atengo ao processo de investigagio. Todas tém em
‘comum uma reflexao sobre a especificidade do objecto das ciéncias
sociais e em todas € primordial a tentativa de conciliar, até onde &
possivel e sem prejuizo dessa especificidade, as ciéncias sociais e as
ciéneias naturais. Para Bourdieu, o objecto das ciéncias sociais nao
silo «naturezas»; sao antes sistemas de relagdes sociais € historicas
que criam obstéculos epistemolégicos especificos (0 problema da in-
guagem)e que obrigam a uma vigiliinciaepistemolégica mais aturada
(por exemplo, perante a tentacao do profetismo) (Bourdieu, Cham-
boredon, Passeron, 1968). A salvaguarda desta construgiio raciona-
lista da ciéneia social é, reconhece-o bem Bourdieu, sempre precaria,
A aparente contradigdo entre a precaridade desta construcao raciona-
lista e a ccrenga», que ele também subscreve, no carécter transfor-
mador do conhiecimento sociolégico em luta contra «o monopélio da
representacao legitima do mundo social» (1982a: 12) € resolvida por
Bourdieu, no plano metodol6gico, pela reflexividade, ou seja, pelo
expediente de submeter a pritica sociolégica a andlise sociol6gica,
usando para isso as teorias e os métodos que esta usa para analisar a
realidade social. Dat que aciéncia «se reforce quando reforga acritica
cientifica», que 0 socislogo deva tomar-se como objecto dos instru-
mentos que desenvolve, que a sociologia da sociologia seja um
instrumento indispensavel do método sociolégico (1982a: 9 e ss)
Esta preocupagio com a reflexividade, que tem vindo a acen
tuar-se no pensamento de Bourdieu, € tanto mais importante quanto
E certo que, embora o objecto (e 0 objectivo) de toda a ciéncia seja
desvelar 0 que esté escondido, o que esta escondido na sociedade e
© que esta escondido na natureza nao esto escondidos no mesmo
sentido, sendo, alids, esta mais uma das diferencas entre 0s dois
6
universos cientificos: «Uma boa parte do que 0 sociélogo se esforga
pordescobrir nao esté escondido no mesmo sentido que aquito que as
cigncias da natureza trazem a luz. do dia, Muitas das realidades ou das
relagdes que ele pretende descobrir nao sao invisiveis, ou $6.0 sao no
sentido em que elas ‘esioiram os othos’, segundo 0 paradigma da
lettre volée cara a Lacam (1982a: 30).
‘A mesma preocupagio de reflexividade esté presente em Sedas
‘Nunes (1972),em Teixeira Fernandes (1983ae 1985)eem Madureira
Pinto, Este diltimo é quem tem teorizado de forma mais sistematica a
reflexividade numa das verses que adiante serio explicitadas. Assim
deve serentendida a sua teoria sociolégica da observagao sociol6gica
(1984a; 1984b; 1985), construfda com base na etnometodologia ©
com a qual pretende levar &s siltimas consequéncias a preocupagao
bourdieuiana da auto-objectivago do sujeito de conhecimento. Nos
termos do quadro analitico adoptado nesta seco (os dois campos
epistemol6gicos que emergiram da explosao do consenso positivis-
ta), a teoria de Madureira Pinto consiste em utilizar a critica radical
‘do modelo positivista (primeiro campo) para proceder & transforma-
Gao igualmente radical de um aspecto parcial (observacao sociol6-
zica) da reconstrucao racionalista do positivismo (segundo campo).
‘Anthony Giddens & um dos socislogos que mais ateng4o tem
dedicado as relagdes entre
6,em meu entender, quem melhor sintetiza o unitarismo epistemo-
I6gico aberto e intemamente diversificado que caractesiza o segundo
‘campo epistemol6gico. O fio condutor da sua argumentagao € que 0
dualismo epistemol6gico é um efeito da prevaléncia do paradigima
positivista enquanto filosofia das ciéncias naturais. A critica deste
paradigma torna possivel inventariar algumas caracteristicas das
cciéncias naturais que as aproximam das ciéncias sociais. Assim, uma
das consequéncias da epistemologia kubniana é mostrar que a racio-
nalidade e a veracidade do conhecimento cientifico s6 sao compreen:
siveis no interior do paradigma em que se acolhem, pois € este que
proporciona o quadro de sentido a todas as préticas cientificas no seu
Ambito. Isto significa que hé nas ciéncias naturais uma dimensdo de
cigncias sociais e as ciéncias naturais e
CO)
verstehen (compreender) sem a qual 0 erklaren (explicar) que thes
proprio nao tem sentido (1977: 130 e ss; 1980: 80 ¢ ss; 1983: 234
8s; Sayer, 1984: 37 e ss). O modelo de explicagio hipotético-dedu-
tivo (formulagao de leis) do positivismo légico é demasiado restrito
e deve ser substituido por um outro mais amplo e aberto, No segui-
mento de Kuhn, deve entender-se por explicagio todo o «clearing-up
of puzzles or queries», Explicar significa entio «tomar inteligiveis,
observagées ou acontecimentos que nao podem ser facilmente inter-
pretados no contexto de uma teoria ou de um quadro de sentido exis-
tente» (1983: 258). Nesta medida, a distingo entre explicar e des-
creveré,em boa parte, contextual: a identificacao ou descrigao de um
fenémeno, pela sua integragao num dado quadro de sentido, & expli-
cativa na medida em que essa identificagao ajuda a resolver uma
‘questo. Uma vez adoptado um conceito de explicagdo to amplo
quantoeste,aexplicago nas ciéncias sociais deixa de ser problematica,
Mas contra este fundo comum Giddens no deixa de realgar
especificidade maior das ciéncias sociais, aquela que se apresenta nos
instrumentos metodol6gicos porestas uttizados. Essa especificidade
Eado objecto de estudo easua repercussiio metodolégicaé designada
por hermenéutica dupla. O objecto das ciéncias sociais so seres
fhumanos, agentes socialmente competentes, que interpretamomundo
‘que 0s rodeia para melhoragirem nele e sobre ele. Os agentes aplicam
reflexivamente 0 conhecimento que tm dos contextos da acgao &
produgo de acces ou interacgdes e, nessa medida, a «previsibili
dade» da vida social nfo «acontece»,¢ «feitaacontecer» em resultado
das aptid&es conscientemente aplicadas dos agentes sociais (1980:
87). No seguimento de Giddens, Sayer afirma que tanto os objectos
sociais como os objectos naturais so socialmente definidos, mas s6
605 primeiros so socialmente produzidos (1984; 28). Esta carac
teristica da sociologia (e, em geral, das ciéncias sociais) tem vérias
consequéneias metodoldgicas (por exemplo, as leis das ciéncias
sociais so hist6ricas e por isso menos universais que as das ciéncias
naturais) que Giddens sintetiza na seguinte nova regra do método
sociolégica: «Os conceitos sociolégicos obedecem ao que chamo
6
dupla hermenéutica: (1) Qualquer esquema te6rico generalizado,
tanto nas ciéncias naturais como nas ciéncias sociais é, num certo
sentido, uma forma de vida em si cujos conceitos t€m de ser mane-
jados como um modo de actividade pratica que gera tipos especificos
de descrig6es. Que isto € uma tarefa hermenéutica est demonstrado
na filosofia da ciéncia mais recente de Kuhn e outros. (2) A sociolo-
ia, contudo, trata de um universo que € jé constitufdo no Ambito de
quadros de sentido pelos préprios actores sociais e reinterpreta estes
dentro dos seus préprios quadros te6ricos, mediando entre linguagem
vulgare técnica. Esta dupla hermenéutica é consideravelmente com-
plexa, uma vez que a conexao nao é apenas de sentido tinico (como
Schuty parece sugerit); ha um ‘deslize” continuo dos conceitos cons-
{ruidos pela sociologia de tal modo que estes so apropriados por
aqueles cuja conduta analisam e, dessa forma, tendem a transfor-
mar-se em elementos constitutivos dessa conduta (nessa medida
podendo, de facto, comprometer 0 set uso original no vocabulério
técnico da ciéncia social)» (1977: 162).
‘A mesma ideia de um unitarismo epistemol6gico aberto que dé
conta das especificidades das cincias sociais, obtido através de uma
superagio da contradig&o neokantiana entre verstehen e erkldren,
cestd presente, de uma ou de outra forma, em muitos autores ¢ repre:
senta, por isso, 0 compromisso dominante a que se chegou depois do
colapso do consenso positivista. Em Piaget, por exemplo, a aproxi-
magdo entre 0s dois universos cientificos tem, como polo de atracgio,
asciéncias naturais. Nao ha diferengas qualitativas quanto ao célculo,
‘a experimentagio, ou ao papel da dedugdo. Na esteira de Comte, as
iéncias sociais esto mais atrasadas por varias razdes mas, sobre-
tudo, pela maior complexidade dos fenémenos que estudam. Quanto
‘20s modelos explicativos, também ndo hé entre eles diferengas quali
tativas, pois tanto umas como outras recorrem aos esquemas de cau-
salidade e aos esquemas de implicagZo/designagio. Por outro lado,
também se nao podem opor pela dicotomia explicar/compreender,
porque estes sdo dois aspectos iredutiveis mas indissocisveis de todo
‘oconhecimento humano, danatureza ou da sociedade,¢todaaciéncia
os
procura concilié-los, duma ou doutra forma (Piaget, 1967: 1130s).
Lucien Goldmann é mais consistente e sofisticado quanto a concilia-
‘que propie entre verstehen € erkldren, Partindo do conceito de
estruturacdo (que ird servir de base & teoria social de Giddens) e da
hierarquia genética e dindmica das estruturas, Goldmann considera
que acompreensioe a explicacao so duas dimensdes do mesmo pro-
cesso intelectual, pois que «a descri¢ao compreensiva da génese de
uma estrutura global tem uma fungao explicativa para 0 estudo do
devir ¢ das transformagées das estruturas parcelares que dela fazem
parte» (1967: 1009).
Entre nés, Teixeira Fernandes acentua em especial a autonomia
do estatuto epistemol6gico das ciéncias sociais. As ciéncias sociais
no so
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Diálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasFrom EverandDiálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasNo ratings yet
- La petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseFrom EverandLa petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseNo ratings yet
- Análise Matemática No Século XixFrom EverandAnálise Matemática No Século XixNo ratings yet
- A Contente Mãe Gentil Rumo Ao BicentenárioFrom EverandA Contente Mãe Gentil Rumo Ao BicentenárioNo ratings yet
- Chakras, Kundalini e Poderes Paranormais: Revelações inéditas sobre os centros de força do corpo e sobre o despertamento do poder internoFrom EverandChakras, Kundalini e Poderes Paranormais: Revelações inéditas sobre os centros de força do corpo e sobre o despertamento do poder internoRating: 4 out of 5 stars4/5 (10)