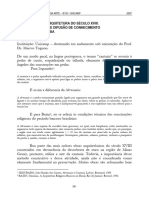Professional Documents
Culture Documents
A Inserção 1 PDF
A Inserção 1 PDF
Uploaded by
rpm_82040 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views16 pagesOriginal Title
A_inserção_1.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views16 pagesA Inserção 1 PDF
A Inserção 1 PDF
Uploaded by
rpm_8204Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
A insercéo compulséria do Brasil na
modernidade da Belle Epoque:
maquinismo, lazer e urbanizacao
pe ee
Maria Inés Borges M. Pinto"
No final do séeulo pasado e inci des- |
te, as elites dominantes brasileiras Iutavam
pela modernizacao da nagio, Essa modern
zagio enquadrava-se na expansdo do capita- |
lismo.em escala global. Os icones e represen-
tagdes da modernidade incidiam na configu- |
ago da sociedade brasileira da época e se |
ligavam a construcao de uma ordem triunfante
de progresso no Pais. Naquele momento, a
nogaio de progresso encontrava-se identificada
com os padres e modelos civilizat6rios pos- |
tos pela industrializago e pelo desenvolvi
mento tecnolégico da “Segunda Revolugio |
Industrial”, que grassavam nas nagdes euro-
péias © nos Estados Unidos
Enters brasileira, ratava-se da cons
trugo do progresso da nagiio sob a égide do |
regime republicano e da hegemonia das cli-
{es cafeeiras, daquilo que Nicolau Sevcenko |
nomeou "a insergio compulséria do Brasil na
modemidade da Belle Epoque". Como bem
observa esse
Professor do Departamento de Hiséria da USP
que se notava na atuagao dos
primeiros presidentes civis e
paulistas, bem como de seu ctrculo
politico-administrativo, era 0
evidente esforca para forjar um
Estado-nagado moderno no Brasil,
éficaz diante das novas vieissitudes
histéricas como seus modelos
europe.”
Além do mais, pode-se assinalar que,
“(on) a Revolugéo Técnico-Cien-
tifica instituiu um encadeamento
entre as novas teenologias e, por
conta da escalada na atividade
produtiva, enormes movimentagoes
populacionais, especialmente
voltadas para a concentragdo nas
reas urbanas que polarizam 0
processo. E 0 que desencadeia 0
Jfenmeno da metropolizagao na sua
‘magnitude contemporanea.”?
104 REVISTA DE HISTOR. N*8— VITOR EDUFES-
Eric Hobsbawm também observa que
havia, naquele momento, um modelo
referencial geral para as instituigdes e as
tmuturas adequadas a um pais que queria ser
Visto como avangado e moderne. Segundo
esse historiador: “...) 9 modelo de nage
Estado lberal-constituctonal ndo estava con-
nade ao mundo desenvaivido”, anna ver que
seus padrdes € modelos inscitucionais eram
adotados por toca a parte’ {
No Brasil, as efites cafeeiras esforgavam-
Se em afastar as especificidades consideradas
arcaicas diante desses modelos das socieda-
des europeias e sincronizar o Pafs ao avangar
da civilizagio moderna. O processo de urba-
nizagiio da cidade de Sdo Paulo encaixava-se
esse esforgo de modernizagio da sociedade
brasileira. No final do século XIX e inicio do
XX, Sho Pavlo foi marcade por profundes
transformagées que visevam dotar o ambien
te citading de uma infra-estrutura modemi- |
zada, semethante A das grandes metrépoies
ue se erguiam em terras européias ou norte-
americanas,
O fenémeno da metropolizacdo das ci-
dades modernas intensifica-se no final do
Século passado em concomitincia com a in-
Gustrializagio, Acentuava-se o titmo febril das |
transformagdes do modo de vida dos habitan-
tes dos centros urbanos ao: Tedor do globo ter-
restre. As vésperas do século XX, estavam se
desenvolvendo aceleradamente as numerosas:
aplicagdes priticas das descobertas cientifi-
cas de conhecimento scumulads durante o
século XIX, que se espathavam pelo murido
em sua incorporagdo maciga aos processos
Prociutivos das fabricas, gerando uma formi-
davel massa de processos industriais revolu-
|
|
|
}
|
|
|
|
iondrios e produtos tecnol6gicos inovadores,
A intensifieagao da industrializagin des~
dobrava-se numa escalada vertiginosa e con~
Centrada que se baseava na utilizagto “de
haves poenciais enérgeticos, como a eletri-
idlade ¢ os derivados de petréteo, dando as-
sim origem a novos campos de expioracéio
indlustriat, como os altos fornos, as indiistris
4s quimicas, novos ramos metalirgicos, como
os do aluminio, do niquel, do cobre e dos agos
especiais, além dos desenvolvimentas nas
Greas da microbiologia, bacteriologia e da
bioguimica, com efeitos dramdticos sobre a
producao e conservagda de alimentos, ou na
farmacologia, medicina, higiene e profilavia,
com wn impacto decisive sobre o conmole de
rnoléstias, a natalidade e 0 prolongamento de
vida,”
Esses processos produtivos do modemo
sistema de fibrica, bem como os requintes
fecrtolégicos de seus maquinismos, tomnaram-
Se as vedetes das grandes Exposigges Univer-
sais da Belle Epoque, cujas mostras marca~
Tam o cendrio quer das cidades curopéias, tais
como Paris, Londres ou Viena, quer das ci-
dades do continente americano, tais como
Saint-Louis, Filadélfia ou Chicago, maravi-
Thando as multidées estupefatas diante do
fulgor do universo da produgdo e da cirevla-
$0 das mercadorias. Os expositores os vi-
sitantes dessas Exposigées Universais podi-
am ser contados, crescentemente, a0s milhia-
fes e aos mithSes. Em Londres, em (851,
13.937 expositores exibiam suas maravithas
aos 6,0 milhées de visitantes; na Filadéltia,
em 1876, 60.000 expositores montaram o
espetdculo das mercadorias para 9,9 milhdes;
Em Paris, no ano 1900, 83.000 expositores
FEVSTADEHSTORIA-N'a-\VTORIA EDUFES - 1S SOVESTRENNOO
105,
apresentavam seus produtos para 48,1 mi-
Indes de pessoas; em Sto Francisco, em 1915,
em meio & conflagragio da I Grande Guerra,
18,9 milhdes de visitantes foram conhecer as
novidades dos 30,000 expositores que ali exi-
biam as maravilhas safdas das entranhas do
mundo fabril$
As fungdes das cidades, nas mais dife-
rentes regides do mundo, estavam se ampli-
ando e se especializando dentro de uma com-
plexa escala de divisto internacional do tra-
balho. Ao redor do globo, formava-se uma
rede de cidades que passavam a funcionar
cada vez mais quer como centros produtores
do sistema capitalista em expansio quer como
amplos mercadios de consumo de bens e ser-
vigos. O aumento da populagio em escala |
‘mundial, a intensificagdo da escala do pro- |
ccesso de industrializago, os desenvolvimen-
tos tecnoldgicos aplicagdes priticas do co-
nhecimento cientifico, os vertiginosos proces-
sos de urhanizagiio, o aumento do volume das
migragées internacionais, acabaram por am-
pliar o mercado de massa, que até entdo esti-
vera mais ou menos restrito 2 alimentagdo ¢
40 vestudrio, ou seja, diversificaram um mer-
ceado que até entdo atinha-se a satisfagio das
necessidades bésicas de sobrevivencia, alte- |
rando, drasticamente, 0 modo de vida das |
sociedades por toda a parte’.
A expansio do sistema capitalista ¢ 0
avango das aplicagdes tecnolégicas das des-
cobertas cientificas evidenciavam-se na for- |
mago de um admirdvel mundo novo, que
entrelagava as esferas da economia, da politi- |
ca, das sociabilidades e das manifestagdes
culturais, bem como 0 movimentar continuo
e desenfreado de vastos contingentes
populacionais. Surgiam pressdes continuas
que tendiam para o crescimento do produto e
da demanda no interior da formagdo do siste~
ma econdmico capitalista. Essas presses
abriram caminho para o desdobramento es-
pacial do sistema capitalista pelo mundo, Tais
fendmenos conjugados estavam modificando
© cotidiano de milhdes pessoas que viviam
em cidades, Eles modificaram os ritmos so-
ciais ¢ as temporalidades que perpassavam 0
viver das populages urbanas por toda a par-
te, pois “wma tecnologia revoluciondria ¢ 0
imperialismo concorreram para a criagao de
uma série de produtos e servicos novos para
omercado de massa ~ dos fogdes a gas, que
se multiplicaram nas cozinhas da classe ope-
réria britinica no decorrer desse periodo, &
bicicleta, ao cinema ea modesta banana, cujo
consumo era praticamente desconhecido an-
tes de 1880.7
Em terras brasileiras, o desdobramento do
sistema capitalista atingiu de chofre as bases
politicas e sociais do Império brasileiro, pois
a “dotagiio do pats de uma infra-estrutura
téenica mais aperfeicoada, representada pela
instalagdo de grandes troncos ferrovidrios, a
‘methoria dos portos do Rio de Janeiro e San-
tos, juntamente com o crescimento da deman-
da européia de matérias-primas, dew impul-
So vertiginoso no comércio externo brasilei-
0, aumentando grandemente as suas impor-
tages, pagas com os recursos agricolas em
pleno fasttgio do café, cacau e borracha, Os
transportes ficeis e 0 crescimento econdmi-
co propiciaram uma verdadeira avalanche de
colonos europeus ao pats. A sociedade senho-
rial do Império, letérgica e entravada, mal
Ode resistir & avidez de riquezas e progres-
106
EVISTA DEHESTOFRA NPs VITOR EDUFES 1 SEMESTAE O89
so infinitos prometida pela nova ordem in-
ternacional; cedeu lugar d jovem Repiblica
que, ato continuo, se langou & vertigem do
Encilhamento e dos empréstimos externos.”*
‘A ascensio das novas elites ao poder com,
‘0 advento da Reptiblica e a desmobilizagao
de enormes contingentes de ex-escravos apés
a Aboligao, bem como o imenso fluxo de pes-
soas que chegavam no bojo da imigragio es-
trangeira para o Pais, alteraram os quadros hi-
erdrquicos e de valores da nagio brasileira.
Naquele momento, consolidavam-se as pri-
ticas de trabalho assalariado e da constitui-
do de um mercado mais diversificado e di-
namico no Brasil’. A nagao brasileira, em sua
serotio compulséria na Belle Epoque, pas-
sava por amplos processos de transformagées
multidimensionais, que desestabilizavam os
pardmetros da sociedade ¢ da cultura tradici-
onais até entio vigentes™. Tratava-se de um
momento em que as novas elites no poder
adotavam as premissas que guiavam a confi-
guragdo da ordem mundial como bases para
a construgao de um Estado-Nagiio moderno:
no Brasil
(0s “projetos” ambicionados por essas eli-
tes para a construgdo de uma identidade naci-
‘onal moderna obtinham inspiragdo tanto nas
correntes cientificistas que grassavam no con-
tinente europeu, tais como o darwinismo soci
al, o positivismo francés ou, ainda, omonismo
alemio" como, também, sobretudo, na imen-
sa visibilidade do pujante desenvolvimento
econdmico e teenolégico das sociedades bur-
‘guesas européias. © encantamento das mara-
vilhas mecdinicas das sociedades industriais
as premissas ideolégicas que guiavam essas
sociedades perpassavam as imaginages dos
contempordneos. As capitais de diversos Es-
tados brasileiros espelhavam esse desejo de
‘modernidade em seus projetos de reformulagio
urbana, cujos reflexos incidiriam sobre as con-
figuragdes de suas paisagens urbanas, jd bem
entrado 0 século XX.
Na virada do século, a cidade de Sao
Paulo vivia um momento crucial de transfor-
magées. A cidade experimentava modifica-
Ges que tendiam a transformar sua Feigao
colonial em uma cidade que comportava 0s
valores da modernidade e da civilizagdo que
predominavam nas sociedades burguesas eu-
ropéias ¢ nos Estados Unidos. A paisagem ur-
bana de Sao Paulo redefinia-se de modo ca6-
fico e desordenado, As primeiras intervengées
de aformoseamento dos espagos piiblicos da
cidade de $0 Paulo ocorriam desde a déca-
dade 70 do século passado, momento em que
a cidade passou a centralizar a economia
paulista, consolidando-se como uma cidade
em que se focavam as atividades financeiras
e politicas da Provincia ¢ atraindo os cafei-
cultores do interior, que nela vinham se fixar,
buscando uma melhoria em seus negécios €
ascensio na escala social.”
Nessa reformulacdo da paisagem urbana,
seguia-se 0 modelo de reformulagdo de Paris
do Segundo Império, cujo estilo podia ser vis-
to nos primeiros palacetes dos fazendeiros do
café, que diferiam dos sobrados de taipa que
até ento dominavam a cidade oitocentista.
Os integrantes antigos das elites, que residi-
am nas ruas centrais, foram progressivamen-
te abandonando o centro da cidade, povoado
por uma vizinhanga heterogénea, composta
de negros e mestigos, que sobreviviam de suas
agéncias improvisadas. Procuravam se insta-
EVSTADEHSTORA -N'8- VITO>V EDUFES —1°SEMESTRENTSS9
107
lar nas ruas recém-abertas dos novos bairros
elegantes, tais como Campos Elisios ou
Higien6polis, onde, em seus palacetes, podi-
am conviver numa vizinhanga formada qua-
se que exclusivamente por seus pares, Simul-
tancamente, acentuavam-se as condiges pre-
iirias das habitagdes populares, quer nas an-
tigas construgdes de taipae tijolos da area cen-
tral, quer nos casebres que surgiam nos bair-
Tos ¢ arrabaldes localizados ao longo das vias
férreas, bem como sobre as terras alagadigas
que cercavam a rea urbanizada a leste, a0
norte ¢ a sudeste da rea urbana."?
‘Como ocorria na cidade do Rio de Janei-
ro, as elites paulistanas “se empenhavam em
reduzir a complexa realidade social brasilei-
ra, singularizada nas mazelas herdadas do
colonialismo e da escravidao, ao ajustamen-
to em conformidade com padroes abstratos
de gestiio social hauridos de modelos euro-
peus ou norte-americanos. Fossem esses os
modelos da misséo civilicadora das culturas
da Europa do Norte, do urbanismo cientfi
co, da opinido publica esclarecida e
Participativa ou da crenca resignada na in-
falibilidade do progresso. Era como se a ins-
tauragdo do novo regime implicasse pelo
‘mesmo ato no cancelamento de toda a heran-
a do passado histérico do pats ¢ pela mera
reforma institucional ele tivesse fixado um
nexo co-extensivo com a cultura e a socieda-
de das poténcias indusirializadas."™
Acelerava-se a transformagao da paisa
gem de uma cidade de So Paulo que se es-
tava configurando em mais um paleo da
agressiva “cruzada saneadora” empreendida
pelas elites republicanas em nome da mo-
dernizagio da nago brasileira. Como assi-
nala o historiador Paulo César Garcez,
Marins, ao tratar das reformas arquitet6nicas
do espago urbano da cidade de Sao Paulo, a
construgio de “novos bairros residenciais
elegantes, adequados aos preceitos sanité-
rios, pldsticos e comportamentais gerados
no cotidiano burgués das cidades européias
conseguitt forjar em Sao Paulo uma man-
cha continua de vizinhangas homogéneas.
Excluiu-se a proximidade dos menos favo-
recidos, desestimulando-se seu transito pi
blico nas ruas dos bairros de elite. Uma
ampla faixa que cercou o centro paulistano
de oeste € sudoeste livrou-se da intersegao
de bairros ou habitagdes populares, (...) A
| dvea ceniral, considerada ndo civilizada,
também foi atingida pelas demoligdes
excludentes(...) As reformas implementadas
ao longo da primeira década do século XX
nas gestdes consecutivas do conselheiro
Antonio da Prado, integrante das mais in-
fluente famélia paulistana de entéo, promo-
veram a construedo de grandes edificios
oficiais, consolidando-se a pontuagio dos
espacos piiblicos por edificios monumentais
iniciada jé na primeira década republica-
na.""8
Podia-se notar, na paisagem citadina, os
contornos da configuragdio de uma vida ci
lizada e moderna sintonizada com os valores
civilizados que grassavam no continente eu-
Topeu, bem como as hierarquias que se confi
guravam na sociedade da época. Como retra-
tao memorialista Jorge Americano, em suas
recordagdes da Sao Paulo do comego do sé
culo, quando menciona os concertos realiza-
dos na cidade, ao comecar-se a mtisica no
| Jardim do Palécio, o Presidente de Sio Pau-
108
REVISTA DEHISTORA-N'8- VITORIA:EDUFES- 1°SEMESTRE/1999
lo, Rodrigues Alves, surgia& janela e recebia
personalidades ilustres que iam cumprimenté- |
To, ais como o general Glicério ou o dr. Ben-
10 Bueno, recém-formado em Direito, que fora
Secretirio do Interior, to jovem, e ji numa |
posigdo brilhante'®, Essa era a oportunidade, |
por exceléncia, para os figurées da elite se |
distinguirem no meio do “povaréu’ e se apro- |
ximarem do presidente Rodrigues Alves, en-
quanto este, a janela, correspondia aos cum- |
primentos dos que estavam sentados nos ban- |
cos do jardim ou passeando durante a execu- |
do do concerto. Uma vez ou outra, quando |
niio apareciam politicos, Rodrigues Alves
mandava um servente convidar um amigo,
com certeza um grande proprietadrio, que ali
estivesse, para prosear. Além do mais, mui-
tas pessoas compareciam a esses concertos
para ter a oportunidade de cumprimentar
Rodrigues Alves, acalentando a esperanca de
um convite do Presidente do Estado para
adentrar 0 Palacio e acompanhar 0 concerto
ao seu lado, Esses eram sinais de prestigio e
poder que permeavam a vida na cidade cos-
mopolita’”,
Contudo, esse convivio social era muito
‘mais matizado e muito menos harmonioso do
que essas reminiscéncias de Jorge America
no podem fazer crer. O cronista Nuto
Santana descreveu a configuragdo do mov
‘mento da vida urbana na década de 10 deste
século, deixando-nos entrever, em suas re-
miniscéncias, entremeadas aos deveres de seu
oficio, algumas das formas de sociabilidade
presentes cidade de Sao Paulo, que entao pas- |
saya pelas reformas modernizantes do Prefeito |
Anténio Prado. Naquele momento, em Sdo._|
Paulo, existiam 400.000 almas. Havia locais,
na rua Quinze de Novembro que eram ponto
de encontro das “rodas literdtias”, como 0
Schortz, onde se comentavam as noticias, as
modas, os boatos oriundos da Europa, entre
605 goles dos chopes gelados e a fumaga dos
cigarros. Ali, em meio ao vozerio de merea-
do e bar, marcado pela algaravia das discus-
s6es, por entre a balbtirdia dos gargons aos
brados, que atendiam aos pedidos no saliio
atulhado de mesinhas, discorria-se sobre os
mais variados assuntos que corriam pelo
mundo e se formavam as “opinides ptiblicas”
sobre diversos temas, que iam da esfera da
politica até as minticias dos estilos literdrios
e nuances das letras.
Contudo, préximo desse local, também,
na rea central de Sao Paulo, ficava 0 Café
América, na rua do Tesouro, onde se reunia
“o populacho”. Nele, fregueses “em manga
de camisa”, “carregadores, motorneiros” e
“pretalhGes” suarentos, bebiam largos goles
de café e cachaga, sempre em tremenda “al-
gazarra”talvez, em sua pausa de algum tra-
balho ou a busca de algum expediente para
sua sobrevivéncia difria. © mesmo oco1
nos estabelecimentos similares que podiam
set vistos no largo do “Piques”.'* Conforme
as anotagdes de Nuto Sant’Anna, a freqiién-
cia dos diversos pontos de encontro da cida-
de era estritamente delimitada pelas hierar-
quias sociais:
Todos (cafés ¢ confeitarias) tinfian
tal ou qual preferéncia de grupos
sociais. Os Casteldes, em frente @
Brasserie, que subsiste, era um bar
da rua Sao Bento, na Praga
Antonio Prado, que toda gente
REVISTA DEHISTORIA -N°8 VITOR EDUFES —1° SEMESTRE/T999.
109
timbrava em chamar ainda pela
antiga denominacao de largo do
Rosdrio. Ficava exatamente no
terreno ora devoluio, ou antes, em
construcdo. A sua fregiténcia era
fina e mista, fazendo parte dela 0
pessoal feminino de alto bordo.
Nele ndo punham 0 pé as familias
Estas fregitentavam a Brasserie, 0
Progredior, & Rua Direita. Eram,
no género, as principais
confeitarias da época. Coisa de
luxo, sem na realidade nem de
longe ser."
Todavia essa fonte indica que, naquele
‘momento, a popullago paulistana procurava se
‘modernizar, em concomitdncia com a expan-
iio do modo de vida das sociedades européias
or toda a parte, A vida elegante e despreocu-
pada de uma cidade cosmopolita deveria
ppermear o cotidiano da cidade. Nesse sentido,
as “fotografias animadas” do cinematégrafo
também vinham se juntar ao ambiente inter
nacionalizado que se expandia no solo da ci-
dade de Sio Paulo, O cinema chegava 2 cida-
de em concomitancia ao seu espraiar-se mun-
dial, Na crescente cosmopolitizagaio da infra-
estrutura urbana, os aparelhos inventados para
dar Vida e movimento para as fotogratfias che
gavam junto com os modismos, as novidades,
as noticias € os boatos oriundos das nagdes
“mais civilizadas”.
No ano 1895, momento em que nascia o
cinematégrafo em terras européias, 0 Correio
Paulistano anunciava, a thulo de curiosida-
de, a presenga dos maquinismos relacionados
as imagens em movimento no solo da cidade
de Sio Paulo. Tratava-se de aparelhos que nao
atingiam o grau de reproduiibilidade técnica
das imagens tao perfeita quanto a do
cinematégrafo dos Lumiére, mas que, entre-
tanto, tal com este, apresentavam um conjun-
to de desenvolvimento de solugdes técnicas
para a captacdo e reprodugilo de imagens em
movimento”:
Exhibigdes Electricas
“Recebemos convites para assistiras
cexhibigdes dos apparelhos electricos
de Edison, 0 phonographo ¢ 0
Kinetoscopio, que o st. Frederico
Figner acaba de trazer a S, Paulo.
Esses dois modernos e curiosos
inventos acham-se na Paulicéia,
‘onde jé estio funcionando.
Para ver o kinetoscopio e ouvir 0
phonographo apenas se paga a
‘queintia de mil réis.”™4
Ademais, logo 0 aparelho francés che-
garia ds terras brasileiras. Se as primeiras exi-
bigdes das imagens em movimento por ele
projetadas j4 podiam ser apreciadas no Rio
de Janeiro em 1896, poucos meses apés 0
sucesso de suas primeiras exibigdes na Eu-
ropa, 0 cinematégrafo, tal como tinha ocor-
tido em relagao a eletrificagaio e aos bondes
clétricos*, ndo tardaria a chegar a So Pau-
Jo, Conforme assinala Ernani da Silva Bru-
no, 0 cinematégrafo chegow a cidade nos
primérdios do século XX, estabelecendo-se,
simultaneamente, nas 4reas do Arouche e do
nicleo central da cidade, Na primeira déca-
da do século XX, quando os bondes elétri-
cos da Light jé percorriam as ruas da cidade
110
REVISTA DEHISTOTRA™-NP—-VITGRVEDUFES —-SEMESTFE/IG29
de Sio Paulo desde o ano de 1901, 0
cinemat6grafo fazia sua estréia no solo da
cidade, tornando-se mais um elemento a
compor a configuracdo da modernidade na
cotidiana e demandando novas atitudes
€ comportamentos sociais, pois, na ladeira
de Si Joao, j4 funcionavam o Bijou ¢ 0
Mignon e, no Arouche, 0 High Life™. |
Essas primeiras instalagdes de
cinemat6grafos eram feitas em barracées de
zinco improvisados, onde eram postos os pe-
rigosos aparelhos projetores, providos de “ar-
cos voltaicos”, que implicavam o risco de
inc€ndios* e cujos efeitos sobre a tela de |
pano braneo deviam ser constantemente
combatidos com esguichos d’agua pelos
organizadores dos espeticulos®, Além do
mais, também as confeitarias de luxo ofere-
ciam sessdes cinematogréficas gratuitas aos
seus clientes’. No ano 1907, anunciava-se
a presenga do cinemat6grafo em suas primei-
ras exibigdes na cidade de Sio Paulo: |
Empreza Cinematographica
“No vasto saliio da “Rotisserie
Sportman” encetou hontem esta. |
empresaa série de espectaculos, que |
pretende dar nesta capital |
© apparetho, importado por |
distinctos mogos da nossa socie-
dade, 6, realmente, 0 mais perfeito
que se tem exhibido entre nés, quer
pelanitidez das vistas apresentadas,
‘que pela escolha das mesmas. |
© bem organizado programma
agradou francamente & numerosa |
assistencia,
No haviana sala um s6 lugar vago, |
0 que faz crer no mais franco
successo da empresa."
Depois de passados alguns dias, voltava-
se aanunciar mais uma nova exibigao do ma-
ravilhoso aparelho em Sao Paulo, desta vez
um espetculo de gala, que teria, como pla-
téia convidada, as mais eminentes personali-
dades da sociedade paulistana, da imprensa
citadina e altas autoridades do Estado:
‘A Empreza Cinematographica
Paulista, que se acha installada no
salio nobre da
Sportman” dard, amanhi, as 8 €
meia da noite, um espectaculo de
gala offerecido ao governo do
Estado e & imprensa paulista.
De nossa parte agradecemos a
gentileza captivante da importante
cempreza, que nos distingui.com um
delicado cartéo-convite.”
Com efeito, o cinematégrafo viera para
ficar. Poucos meses depois, em dezembro
daquele mesmo de 1907, a presenga do novo
aparelho era assinalada, também pelo Correio
Paulisiano, como um fato corriqueiro da pai-
sagem paulistana, enfim, como um novo ele-
mento moderno na cidade cosmopolita, no-
vidade que ja estava plenamente integrada
vida cotidiana dos paulistanos:
A calmaria
“Hontem S, Paulo teve um dia feroz.
de calor e calmaria.
A chuva cahida pela manhii encheu
FREVSTADE HSTORIA N= VITGRUA:EDUFES- 1°SEMESTRE/1909
iit
de humidade 0 ambiente e depois
veio um calorie abafadigo, terrivel,
chamando para a rua, para os
Jardins, toda a gente que poude
andar
Sob os platanos, os lindos platanos
da Praca da Reptiblica, havia grupos
de mogas em costumes claros.
Os bondes desciam repletos para a
(ad.
No Viaducto um espesso magote
olha estarrecido os quadros do
‘cinematographo.
Mas o calor era implaccivel e a
calmaria mais pesada immobitizava
a fronde das arvores."*
Dessa maneira, a populago paulistana
logo se inteirou da novidade. Se as primeiras
exibigées ocorreram em barracées de zinco
improvisados em salas de exibigtio ou, ainda,
em feiras e quermesses a0 ar livre, como na
Europa", como se pode inferir por essa noti-
cia do Correio Paulistano, que relata as suas
exibigdes em espagos abertos, uma vez que
cla se reporta & visio “estarrecida” do “es-
peso magote” de espectadores que aprecia-
vam 0 cinematégrafo no espaco piblico Via-
duto do Ché, aliés, um dos simbolos da pu-
janga da cidade desde seu aparecimento em
1892, logo haveria muitos outros locais de
exibi¢ao espalhados pela cidade, ainda que,
inicialmente, esses espacos também nao fos-
sem permanentes.
Em suas reminiseéneias de infancia, ©
memorialista Jorge Americano retratou da se-
guinte maneira os comegos do cinemat6grafo
© de suas exibigdes na cidade de Sao Paulo:
“(o.) Rua 15 de Novembro: uma
ccampainha na porta e um homem
sgritando: ‘Vai comegar! Quinhentos
ris para adultos e duzentos réis para
ctiangas, com direito a pesca
maravilhosa! Vai comegar!" Na ante~
sala havia uns sarrafos cobertos de
ano, fingindo um pequeno tanque
furado no meio e alguém escondido
dentro. A crianga pegava numa
vara e anzol, € © homem, li de
dentro, depois de ouvir o outro, que
gtitava de fora: ‘E menino!",
amarrava um macaquinho de arame
enrolado em 1a de bordar. Se
menina, amarrava uma bonequinha,
tambsém de arame e I.
Lé dentro, a sala retangular, com
cadeiras austriacas. Molhavam 0
ano com esguicho de jardim ¢
comegava: um trem passando a
ponte, um batalhdo, uma procissi0,
tudo tremendo, tremendo
rompendo-sea fitaa todo o momento.
Havia cabegas fotografadas mais
perto, que tomavam a tela t6da,
Cabecas de assistentes retardatirios
passavam pela frente eintereeptavam,
a projegao fazendo sombra.
(.JA0 que se v8, no era cinema
permanente, Penso que o exibidor
Possufaasfitas, eas exibiade cidade
‘em cidade, Nao parou mais de um
més naquele salio pegado a
confeitaria Pauticéia, que depois se
tomou no bar Progredior, lugar onde
cst agora o Banco do Canadé, na
| rua 15 de Novembro,"
112
REVISTA DE HISTORIA —N'8- VITOR EDLFES— 1° SEMESTRE!T O09
Todavia, logo a novidade se instalaria
em locais fixos de exibigéo. Segundo nos in-
forma Inimé Simdes, também naquele ano
de 1907, estabelecia-se a primeira sala re-
gular de exibigdes, que foi a do Bijou-Palace,
naesteira da qual apareceriam iniimeros ou-
tros locais fixos de exibicao, em especial,
aqueles localizados nas ruas do Triangulo,
no centro da cidade™. As viagens da imagi-
ago ¢ otimismo ingénuo proporcionados
pelas cenas mudas dos novos espetéculos
invadia acidade, e a novidade das “imagens
em movimento” projetava suas luzes sobre
‘© cosmopolitismo de Silo Paulo, empolgan-
do as multidées.
Naquele momento, o cinema espraiava-se
pelo mundo sob a égide da sociedade industri-
al e das multiddes adensadas nos centros ur-
banos, pois “a apresentagito do movimento em
imagens visuais se libertava da sua apresen-
tagiio imediata e ao vivo. E, pela primeira vez
na histéria, 0 teatro ou 0 espetdculo estavam
livres das restrigdes impostas pelo tempo, es- |
aco enaturea fisica do abservador,parando. |
‘falar dos timites do palco em relagio ao uso
dos efeitos. O movimento da cdmera, a varia: |
bicidade de seu foco, 0 espectro ilimitado dos
truques fotograficos e, acima de tudo, a possi-
bilidade de cortar a tira de celuldide — que
registra tudo ~ em pedagos e montd-los ou
remonté-los & vontade tormaram-se evidentes
¢ foram imediatamente explorados pelos rea-
lizadores, que raramente tinham qualquer in-
teresse ou afinidade com as artes de vanguar-
da, Até agora, nenhuma arte representa to
bem quanto o cinema as exigéncias de um tri-
nfo espontdneo de um modemnismo ariistico
inteiramente nao tradicional."™.
‘O cinema chegavaa Sao Paulo como uma,
nova arte e como uma indtistria, O espraiar-
se das salas de exibigiio pela cidade deu-se
velozmente em Sao Paulo. Como assinala
Ernani da Silva Bruno, sabemos que, em
1912, funcionavam, na regido da érea do ni-
cleo central da cidade, pelo menos 3 salas de
exibigo, pois ali funcionavam, na rua Sio
Joao, o Bijou Theatre; na rua de Sao Bento, 0
Radium; e o Iris Theatre, na rua 15 de No-
vembro. Nos anos que se seguiriam, iriam
surgir outros cinemas na regidio central da ci-
dade e em diversos bairros da cidade.* A
penetraco dos espetculos filmicos ¢ a mul-
tiplicagio das salas de cinema na cidade fazi-
‘am parte da infra-estrutura moderna que es-
tava surgindo na cidade cosmopolita,
Essa presenga do cinema em Sao Paulo
se configurava entre os ritmos sociais que,
entre o trabalho e o lazer, vingavam na cida-
de cosmopolita, moldando novas sociabilida-
des e formas individuais de comportamento
de sua populagao. Zélia Gattai, ao relembrar
sua infancia, no perfodo da segunda década
deste século, relata-nos que 0 cinema era 0
ponto alto da programag3o semanal de sua
familia, ap6s as tarefas estafantes a que esta-
vam sujeitas as mulheres depois de longos
dias de trabalho doméstic
“O cinema representava 0 ponto
alto de nossa programagdo
semanal. Préximo a nossa casa,
iinico do bairro, o Cinema América
oferecia, todas as quintas-feiras,
uma “soiree das mogas”,cobrando
as senhoras e senkoritas apenas
meia-entrada, Era nessas noites
EVISTA DEHISTORIAN°6- VITORIA:EDUFES— 1° SEMESTRE!TSO9
113
que mamde ia sempre, levando
consigo as trésfithas: Wanda, Vera
€ eu, e também Maria Negra, que
a bem dizer era quem mais ia,
adorando filmes e artistas, ndo
abrindo mao de seu cinema por
nada do mundo. Muitas vezes,
chegava mesmo a ir sozinha. Os
‘meninos nééo perdiam as matinés de
domingo. Papai néo se interessava
por cinema, preferia 0 teatro,
Speras e operetas.”**
Os filmes projetados nas telas de pano
branco pelo cinematégrafo imiscuiam-se cada
vez mais na vida dos individuos, ritmando as
sociabilidades da cidade moderna, hé tempos
afeitos as suas exibigdes, bem como as aglo-
meragdes de pessoas que eles proporciona-
vam. Jorge Americano, ao relatar os namo-
ros entre os rapazes e mogas da cidade de Sao
Paulo, deixa-nos vislumbrar os ritmos
nuances que o flirt entre mogas casadoiras
8 candidatos a namorados adquiriam em face
das exibigdes dos filmes, que, tal como um
ccronémetro preciso, marcavam os seus encon-
tros “fortuitos”, mediados pelos olhares se-
(Cada dia mais a Vida cotidiana na cidade
de Sao Paulo ligava-se a um cosmopolitismo
que era perpassado pelo universo de luzes e
movimentos proporcionados pelos maquinis-
mos ¢ fios elétricos. Vivia-se em uma socie-
dade em que os recursos teenol6gicos imbri-
cavam-se com os ajuntamentos das pessoas
em solo urbano para promover e sorver os
encantamentos proporcionados pelas emo-
(es que cercavam os novos padrdes de com-
portamento estimulados pela vida modema e
Teproduzidos nas telas dos cinemas. Até mes-
mo aqueles chegados de terras distantes e que
falavam linguas diferentes, mas que estavam
acostumados & linguagem filmica devido ao
espraiar-se da industria cinematogratica pelo
mundo, podiam experimentar sensagdes de
ser parte integrante da cidade cosmopolitaem
formagéo. As salas de cinema da cidade de
‘So Paulo eram locais onde até um recém-
chegado de terras estrangeiras poderia sentir-
seem casa, j4 que, mesmo nfo compreenden-
do os letreiros que marcavam as passagens
dos filmes mudos, 0s ritos que cercavam a
exibigtio cinematogréfica e a linguagem das
imagens em movimento Ihe eram plenamen-
te familiares™,
Na cosmopolita cidade que estava emer-
gindo nas terras do planalto, multiplicavam-
se as salas especializadas de exibicao cine-
matogréfica, Espetéculo dirigido para as gran-
des massas, sta presenga na cidade de Sio
Paulo denotava a modemidade da sociedade
paulistana, de modo que viria a instigar cada
dia mais 0s escritores e jomalistas da cidade.
O escritor Guilherme de Almeida, pouco
menos de 13 anos depois de transcorridas
aquelas primeiras exibicdes de cinematégrafo
em Sio Paulo, na “Rotisserie Sporman”,
descrevia a “obessio cinematogriffica” que se
apossara do espfrito dos paulistanos, Os en-
cantamentos ¢ prodigios do cotidiano da vida
moderna de So Paulo se faziam presentes na
cidade, O cinema era um Iidimo representan-
te da modemnidade em solo paulistano:
Tal € a obsessio cinematogrifica.
Nio falta por e& quem viva para 0
114
FEVSTADE HSTORA™-N°B- VITOR EDUFES—
cinema, banalizado e materializado
assim como 0 artoz doce ea
marmelada. Nao escasseiam
também os que, ndio contentes com
isso, vivem para além das telas e das
fitas... Cimulo da abstracio,
armando-se em lindas cabecinhas
cinematégrafos ideais em que se
projetam — projegdes de projeySes
— reminiscncias de filmes e vidas
inteiras de atores ¢ atrizes,
mediocres ¢ nulos na generalidade.
E nesses cinemas de cinemas, onde
hd sempre a meia-luz ¢ a lampada
misteriosa de uma idéia central,
rompem dramas e paixdes rebentam,
como no outro cinema,
Hei quem prosseguindo nesse ardor,
traga ao peito medalhies com
herdicas efigies norte-americanas.
E-6 maior de santas bisavozinhas
que se foram morrendo no seu
quarto, ao pé do sagrado nicho da
Senhora das Dores! ~ Existe mais
quem traga & cabeceira, em lugar
do antigo Santo Antonio, 0
descabelado retrato de George
Walsh."
cinema estava voltado para a “diver-
sfo popular” dentro da ascendente cultura de
‘massa que espelhava as novas formas de vida
dos efervescentes centros urbanos. Na cida-
de, 0s individuos experimentam o fascinio da
mudanga, que encama a experiéncia vital da
modemidade na promessa de aventura, de
poder, de crescimento, de transformagio, de
urbana, acelera-se a experiéneia do tempo, a
vida social se intensifica com a circulagao de
mercadorias, objetos ¢ principalmente pesso-
as. Eo novo espaco da modernidade que ten-
de a promover a dissolugdo dos espagos onde
estavam enraizados os hébitos e a tradigao. O
cinema € 0 espago Isdico que incorpora os
novos movimentos das ruas, dos deslocamen-
tos répidos, dos sistemas de transportes, da
energia, das maquinas, das construgdes de
ferros, do trem, do automével, da velocida-
de, do sonho.”
Com efeito, a diversio das massas ja se
tornara uma de suas caracteristicas, desde as
suas primeiras projegdes em espagos puibli-
os. Aos poucos o cinema vai sendo incorpo-
rado ao discurso da cultura dominante e eru-
dita, para se tomar, mais adiante, um movi
mento integrante dessa cultura. Era a
modernidade como uma experiéncia histé-
rica especifica da cultura, que procurava li-
dar com as transformagées das esferas
tecnolégicae econémica, Sua incursio na vida
social dos centros urbanos niio deixou de eri-
ar polémicas e divergéncias no que diz res-
peito ao seu significado bem como a sua fi-
nalidade, positiva ou negativa, em diversos
setores sociais, desde os educadores até 0 pré-
prio meio artistico.
De inicio, a preocupagdio maior era a.ca~
pacidade de influéncia do cinema na vida
moral das pessoas, 0 que polarizou discus-
ses por um bom tempo. Abrem-se novas al-
ternativas do que deveria ser uma boa utili-
zaco do cinema, reservando-Ihe a funcio de
ajudar nos direcionamentos morais e eduea-
autonomia de pensamento perante a moral,a_| cionais das pessoas. Em meio a toda essa dis-
EVISTADE HSTORIA -N°@- VITOFIA: EDUFES — 1° SEMESTFE/T999
115
cussio, uma outra polémica surge em outro
campo, apesar de estar sempre presente mas
relegada ao segundo plano diante da questo
‘moral: a discussio da questio estética da nova
Jinguagem cinematogréfica,
Os anos 20 trazem os primérdios de uma
critica cinematogréfica, juntamente com pre-
ocupagdes sobre a estética € a teoria sobre o
cinema, em revistas especializadas, difundi-
das a partir da Franca. O cinema ganha legi-
timidade quando passa a ser objeto de aten
Ho de eruditos, intelectuais e artistas diver-
sos. A publicagao de um maior nimero de
revistas sobre cinema, na década de 20, € pa-
ralela ao desenvolvimento da critica nos jor-
nais e também em revistas nao
especializadas. A concepedo de uma lingua-
gem critica do cinema surge paralelamente
a0 maior desenvolvimento da indistria ci-
nematogrifica americana, que passa.a se pre-
‘ocupar com a depuragdo da téenica e, con-
seqiientemente, com a boa formago de seus
manipuladores, cineastas e técnicos. Para
isso, so criados cursos em universidades
bem como livros com orientagdes sobre a lin-
‘guagem cinematogréfica.
No Brasil, eram oferecidos cursos por
correspondéncia baseados nessas publica-
‘ges sobre cinema, ao mesmo tempo que a
“eritica’” também comegava a se apropriar
das ligdes © modelos ensinados nesses livros.
As preocupagées sobre cinema dessas publi-
cagdes especializadas so diversas. Muitas
vezes, estio presas A questtio moral e dela
no conseguem se desvencilhar facilmente,
tal como a revista “A Tela” (1919-1921)
Outras, como a revista “Paleo e Telas”
(1919-1921), conseguem estabelecer uma
linguagem critica muito proxima da lingua-
gem artistica ao tratar do assunto, Nessa tl-
tima, os seus articulistas se auto denomina-
vam “criticos de arte”. As duas revistas
™mencionadas sio exemplos representativos
de duas tendéncias opostas e nos oferecem
© esbo¢o do tipo de critica existente no Bra-
sil até o final da década de 20.
Assim, por exemplo, a revista modernis-
ta Klaxon, que nasce apés a Semana de Arte
Moderna de 1922, capta a articulagdo entre a
modernidade e o horizonte tecnolégico repre-
sentado pelo cinema, Em seu manifest
gural, traz como referéncia os nomes de
Carlito © Mutt & Jeff. Isto por si s6 mostra a
ligagdo que ela estabelece entre as “imagens
‘em movimento” das telas e a arte moderna,
mas, em seus textos, a importancia do cine-
‘ma para a constituigaio de uma estética de fato
contempordnea ao movimento modemista so-
bressai claramente. Em um pardgrafo exclu-
sivo para tratar da questiio do modernismo
do cinema, a revista anuncia que
au
Klaxon sabe que 0 cinematographo
existe. Pérola White & preferivel a
Sara Bernhardt. Sarah €a tragédia,
romantismo sentimental e technico.
Pérola € raciocinio, instrucgéo,
esporte, rapidez, alegria, vida.
Sarah Bernhardt = século 19.
Pérola White = século 20. A
cinematographia é a criagéo
artistica mais representativa da
nossa época. E preciso observar-the
aligao.'
Assim, entre filmes e sonhos, o cinema
116
REVISTA DE HISTORIA -W"8 - TOMA: EDUFES 1° SEVESTRENT999
|
|
participava intensamente do espeticulo mo-
derno da vida de uma cidade cosmopolita
que crescia nas terras do planalto ao sabor
dos ritmos ¢ temporalidades da expansio do
sistema capitalista, imiscuindo-se nos recan-
tos mais intimos do cotidiano de seus habi-
tantes. Fruto de um maquinismo que
extrapolou os desejos mais Ioucos de exibi-
co acalentados pelas Exposigdes Universais
do século passado, sintese das aplicagses
tecn6logicas da Ciéncia na vida diétia, filha
do adensamento populacional de milhares ou
milhdes de pessoas que se aglomeravam nas
cidades, da extrema fluidez das necessida-
des ¢ dos desejos que movimentayam esas
massas humanas em meio aos fios elétricos
e as luzes féericas das salas de exibigées ci-
nematogrificas, bem como dos fluxos que
perpassavam a reprodugao de seu cotidiano
nacidade, feone inconteste da modernidade
¢ da formagio de um imenso mercado mun-
dial de consumo de bens e servigos, a arte ©
a industria do cinema vieram para ficar. Con-
figurava-se, assim, mais uma tradigio da
modernidade em terras brasileiras! Sto Paulo
saudava a modernidade dando vivas aos seus
movimentos acelerados ¢ aos encantamen-
tos de seu abraco tentacular!
Notas
1 SEVCENKO, Nicola, Literatura como miso
tensdes sociaise credo cultural na Primeira
Repiblca, 3. ed. So Pato: Edtora Brasilien,
1989. p.47
2 SEVCENKO Nicolau, A copita irradiance:
teenica, rims eritas dori. i: SEVCENKO
Nicolau (rg). Histéra da vida privada no Brasil
Repiilca: da belle
You might also like
- Modelagem Da Informacao Da Construcao Bim e Suas Contribuicoes para A Geracao e Gestao de Projetos Arquitetonicos Sustentaveis 2Document12 pagesModelagem Da Informacao Da Construcao Bim e Suas Contribuicoes para A Geracao e Gestao de Projetos Arquitetonicos Sustentaveis 2rpm_8204No ratings yet
- ST NPNT 008 05 FlorioDocument20 pagesST NPNT 008 05 Floriorpm_8204No ratings yet
- TEORIAEPRTICAEMANLISEGRFICADEPROJETOSDEARQUITETURA Florio TagliariDocument18 pagesTEORIAEPRTICAEMANLISEGRFICADEPROJETOSDEARQUITETURA Florio Tagliarirpm_8204No ratings yet
- EditaL 4Document2 pagesEditaL 4rpm_8204No ratings yet
- Edital 3Document2 pagesEdital 3rpm_8204No ratings yet
- Edital 1Document2 pagesEdital 1rpm_8204No ratings yet
- Apereira, LEAL, Daniela VianaDocument6 pagesApereira, LEAL, Daniela Vianarpm_8204No ratings yet
- Ernesto Nathan Rogers - Pretextos Por Uma Crítica Não Formalista. in XAVIER, Alberto. Depoimento de Uma Geração. São Paulo Cosac Naify, 2003Document4 pagesErnesto Nathan Rogers - Pretextos Por Uma Crítica Não Formalista. in XAVIER, Alberto. Depoimento de Uma Geração. São Paulo Cosac Naify, 2003rpm_8204No ratings yet
- Levantamento Bibliografico Propriedade IntelectualDocument9 pagesLevantamento Bibliografico Propriedade Intelectualrpm_8204No ratings yet
- Elizabeth VarelaDocument15 pagesElizabeth Varelarpm_8204No ratings yet
- NIEMEYER Parque Recreativo Emissário SantosDocument4 pagesNIEMEYER Parque Recreativo Emissário Santosrpm_8204No ratings yet
- Fantasias e Sensualidade Feminina Nos Festejos Carnavalescos Do Rio de Janeiro Dos Anos 1960Document10 pagesFantasias e Sensualidade Feminina Nos Festejos Carnavalescos Do Rio de Janeiro Dos Anos 1960rpm_8204No ratings yet
- On Visual Design Thinking The Vis Kids of ArchitectureDocument18 pagesOn Visual Design Thinking The Vis Kids of Architecturerpm_8204No ratings yet
- MFL62885912 OwnersDocument20 pagesMFL62885912 Ownersrpm_8204No ratings yet
- ZEVI, Bruno. A Moda Lecorbusiana No Brasil. in XAVIER, Alberto. Depoimento de Uma Geração. São Paulo Cosac Naify, 2003Document4 pagesZEVI, Bruno. A Moda Lecorbusiana No Brasil. in XAVIER, Alberto. Depoimento de Uma Geração. São Paulo Cosac Naify, 2003rpm_8204No ratings yet
- L Grohmann Manfred e 150319 Full CVDocument5 pagesL Grohmann Manfred e 150319 Full CVrpm_8204No ratings yet
- Book - Architecture in Digital Age - Chapter 3 - Digital Production - Branko KolarevicDocument25 pagesBook - Architecture in Digital Age - Chapter 3 - Digital Production - Branko Kolarevicrpm_8204No ratings yet
- MOLES - A Criação CientíficaDocument19 pagesMOLES - A Criação Científicarpm_8204No ratings yet
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)