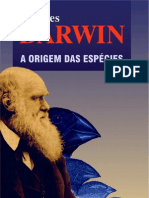Professional Documents
Culture Documents
A Arte e Suas Medicações Na Cultura Contemporânea Mônica Zielinsky PDF
A Arte e Suas Medicações Na Cultura Contemporânea Mônica Zielinsky PDF
Uploaded by
lucampana0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views9 pagesOriginal Title
A arte e suas medicações na cultura contemporânea Mônica Zielinsky .pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views9 pagesA Arte e Suas Medicações Na Cultura Contemporânea Mônica Zielinsky PDF
A Arte e Suas Medicações Na Cultura Contemporânea Mônica Zielinsky PDF
Uploaded by
lucampanaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
ABSTRACT: Two forms ofthe mediation ofar are
‘examined i fms ofthe eperaion ofthe median
{the contemporany work. The text recnsiders the
sole of the art crite as well as the stcture of
‘exhtions, and starting from their present politcal
and historical concitions, simulates the search for
new models for these activites.
KEY WORDS: The mesiatin of at. contenporary at
“bisn, ar exibitons
RESUMO: Duas formas de mediagso dare 5
examinadas em Fangio a atuveio. dn mila no
‘mundo contemperaneo. O rexto repensie pare! do
‘etico de ate, asim como a estat cas mostras
festimulundo a busca de novos modelos para essa¢
vkaces, 4 partir das suas anus concedes pot
case orcas.
94 FB monica Zielinsky
-Criando 3 vids e desviande dx mente,
as ideas agem e transformam, ava
feando as vezes bem além dss espe
ranges.»
Monique Sicara!
os longinquos tempos de Di-
derot, quando a critica de arte surgia
em pleno século XVIII, os visitantes dos
sal6es buscavam nela um amparo pata
as suas selegdes. J4 existia nessa €poca
uma clientela determinada para 0 con-
sumo attistico € 0 critico de arte era 0
profissional capacitado para defender
ou recusar as obras de arte os artistas.
Os estudiosos da academia tendiam a
discorrer em nivel tedrico, em ensaios
de cunho estritamente abstrato. O pa-
blico solicitava, portanto, um guia eficaz
para as suas escolhas e aquisicbes, uma
vez que o mercado de arte j4 se ins-
taurava de forma cada vez mais cres-
cente. A critica de arte era a atividade
de um “julz", que, com sua opinido
abalizada sobre as obras, escrevia sobre
elas e determinava a sua circulacdo pi-
blica nos salées e mais tarde, em mos-
tras de alcance mais amplo, apés 0 nas-
cimento das exposicSes universais em
meados do século XIX. Por essa razdo, a
critica de arte e as suas exposi¢des
apresentam desde cedo vinculos fortes,
indissociéveis: ambas sfo formas pro-
mocionals da arte,’ atividades que a
trazem a ptiblico, isto €, a0 dominio da
intersubjetividade. S40 as que dizem
Porto Arte, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999.
respeito a sua mediacdo. A critica de
arte, desde seus primérdios, estabelecla
0s contatos entre a produco artistica e
a sua extensdo piblica. Trata-se de um
enfoque da maior relevancia para se re-
fletir sobre a arte no mundo contem-
poraneo, uma vez que ela existe preci-
samente na relagao reciproca entre as
propostas particulares dos artistas € a
sua existéncia social, institucional e po-
litica. Ora, a sociedade s6 existe efeti-
vamente se cada um de seus membros
tiver consciéncia da necessaria relacao
dialética entre a sua propria existéncia e
a da comunidade.® Critica de arte €
mostras de arte s4o formas de estabele-
cer essas conex6es € qualquer anilise
do produto artistico na cultura dos nos-
sos tempos nao pode mais prescindir
dos estudos sob 0 angulo de sua mecia-
$40.
Este termo nao se refere a uma
idéia nova. A expresso provém de me-
diatione, do latim, que designa, em um
primeiro sentido, a atividade de ficar no
meio, entre dois pélos, estabelecer rela~
40 entre ambos, e, mais atualmente, diz
respeito ao “conjunto, técnica € social-
mente determinado dos meios de
transmissao e de circulacao simbélicas”.*
Esse processo refere-se a idéia de
transporte, de transmissao, implicando
em um através de, em uma posicéo
para além de. A critica e as exposicoes
de arte sao atividacies que operam nes-
se transito, para além do momento de
Instauragao da arte, de sua poiética®
A arte e sua mediago na cultura contemporanea
até o da sua recepgao. Sao intermedia-
rlas, correspondem as de um contrato
simbélico entre as instancias privada e
pablica da propria arte, indicando um
modo peculiar de consideré-la. Desse
aspecto advém sua importanci
suem intengdes determinadas, respon-
dendo “a uma finalidade ou a uma
vontade, & producdo de um efeito”.®
Possuem uma linguagem e um sistema
de significagdes e de representagdes
definides. Exemplificando-se, Ronaldo
Brito, em um texto sobre o artista
Antonio Dias, expde uma visio critica
sobre a arte, a partir do exame da
produgao do artista:
Pois 0 que sao, em muitos senti-
dos, obras de arte? Mercadorias, objetos
servindo a um vago fetichismo suspeito,
circulando numa rede de interesses so-
ciais restrita e opaca... A forca extraordll-
naria de Antonio Dias esté em fazer 0
dilema, 0 impasse até 0 ceticismo.”
Ao escrever sobre a obra de Dias,
a inteng&o do critico € fazer um apelo
sobre diversos aspectos politicos da
arte, em especial sobre seu estatuto
mercantilista. Fica clara a sua idéia
mestra, a sua posigdo debatedora sobre
a situag4o deste campo no seio da cul-
tura brasileira na época da publicagao
do ensaio. Este tltimo representa 0 es-
tabelecimento de um confronto no
mundo da arte, em relagdo a conduta
dominante do mercado.
Uma exposicao pode, tambem
por sua vez, ser mencionada para
pos-
B 95
icar os aspectos intencionais de
uma mediagao: a i Bienal do Mercosu
realizada em Porto Alegre em finals de
1999, visava ao cumprimento de um
acordo interinstitucional entre merca-
dos, os dos paises que integram o Mer-
cosul. Para tal, a diretriz escolhida pelo
curador Fabio Magalhaes fol a de bus-
car, na produgao artistica dos anos 90,
0s trabalhos que se identificarlam com
© conceito de identidade, uma das preo-
cupagées centrais na cultura contem-
poranea. A bienal simbolizou, assim,
vontades: referiu-se & promocao de ar-
tistas jovens, representantes de uma
nova fatia de mercado. Por outro lado,
disseminou a fragil idéia de uma unio
entre frontelras, 0 escamoteamento das
diferencas entre as culturas, pois toda a
produgo selecionada e exposta devia~
se a0 mesmo conceito comum, a ques-
to da Identidade. A mostra deveria
produzir a idéia de uma arte nica,
mesmo que enraizada em um pluralis-
mo de tendéncias artisticas;* para isso,
todas as obras foram apresentadas sem
qualquer separacdo por nacionalidade.
O visitante viu-se inserido em uma es-
tratégia comunicacional particular, al-
cangando 0 efeito idealizado. Por essa
razdo, mals que nunca, a exposi¢ao re-
presentou os ideais do poder institucio-
nal e politico, o que a gerou e 0 que a
promoveu. Infere-se que essas inten-
clonalidades tenham sido despercebi-
das pelo visitante ndo prevenido, pois
este se via arrebatado pelo cenario de
arto Arte, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999
96 BB Monica zietinsky
tantas numerosas obras, sob 0 efeito se-
dutor e atraente da forma de sua apre-
sentagao.
Muitas dessas questées podem
ser compreendidas ao se verificar as
grandes transformacdes que 0 mundo
contemporaneo sofreu em fungéo da
vultuosa expansao das redes de comu-
nicagao e do fluxo de informagao. Trata-
se das redes que comecaram a se esta-
belecer em meados do século XIX €
que hoje tornam-se vertiginosamente
multiplicadas € potentes, principal-
mente constituidas de
caracteristicas de glo-
balizagéo.° E nese con-
texto, os meios de co-
municago do S40
apenas elementos trans-
missores de informa-
Odes e de contetdos
simbélicos, mas sim,
propiciadores de novas formas de arti-
culagao dos Individuos no mundo.
Com Thompson, verifica-se que o
uso dos meios de comunicagao im-
plica na crlagdo de “novas formas de
aco e de interacdo na sociedade,
em novos tipos de relacées sociais ¢
em novas maneiras de relacionar-se
com 0 outros e consigo mesmo”.'°
Sob esse prisma, ele salienta que,
pela expansao da midia, 0 individuo
passaria cada vez mais a modificar
seu tipo de interagao com a vida co-
tidiana, 0 que Benjamin havia cha-
mado de privagéo da faculdade de
Pela midia, 0 indivi-
duo vé-se cada vez
mais dependente dos
sistemas _institucionais
e profissionais, em re-
lacdo aos quais ele ndo
possui controle.
intercambiar experiéncias,'' ou mesmo
da sua degradacao.'”
Esses pontos sabiamente salien-
tados nos anos trinta pelo filésofo de
Frankfurt véem-se hoje ainda dignos de
refiexdo: enquanto o Individuo poderia
ressentir-se desse contato primeiro da
experiéncia dos fatos, ao mesmo tempo
ele incorpora 0 material simbélico me-
diatico de forma quase inconsciente. As
formas de intimidade, os contatos de
pessoa a pessoa dliferem atualmente no
processo de mediatizaga
a tradicional reciproci
dade por uma assime-
tria das _relagdes. Os
contatos nao séo mais
partilhacos nem no
mesmo espago nem no
mesmo tempo. A idéia
€ de descontinuidade,
da caréncia de encon-
tro. Pela midia, 0 individuo vé-se cada
vez mais dependente dos sistemas ins-
elas trocam
titucionais € profissionais, em relacdo
aos quais ele nao possui controle. Ao
contrario, tudo passa pela distdncia e
pela uniformizagao. A intensificagdo dos
processos de globalizacdo oprime a li-
berdade de expressdo, onde os merca-
dos buscam a légica do beneficio e da
acumulagéo de capital. Dentro desse
quaciro, a luta pelo reconhecimento nos
espacos piblicos se da pelo processo
de visibilidade, o fazer-se ver e ouvir."
Nesse contexto, faz-se necessé-
rio repensar a situagio das formas de
Porto Arte, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999.
Aarte e sua mediacdo na cultura contemporanea
mediag40 no campo attistico. Por um
lado, a critica de arte, vista no passado
como uma atividade judicativa, vé per-
dida essa fungdo com a fragmentacao
do sujeito modemo. Desaparecenco o
didlo das verdades, afasta-se também
qualquer argumento critico acerca das
‘obras de arte apoiaco em um consenso
universal, outrora evocado por Kant'* e
discutido por toda uma linhagem da
estética ocidental. Este €, no mundo
moderno, apenas uma utopia a mais. O
Unico consenso € 0 veiculado pela mi-
dia, esta movida pelo poder institucio-
nal (a servico dos interesses econdmi-
cos) que, por sua vez, determina os
caminhos da arte. Trata-se de um
“consenso do cultural”, como assim o
denomina 0 filésofo francés Jimenez,
ao afirmar que:
Na era da interatividade multi-
medilitica 0 paradoxo dessa democrati-
zagéo encontra-se no surgimento de
uma cultura néo interativa, distribuida
de cima para balxo, privada de feed-
back e de reprocidade.'*
Assim, 0 papel do critico, no
mundo da democratizagéo da cultura,
passa a caracterizar-se pela impoténcia.
Ele é um profissional que deve atender
mais que nunca as exigéncias de um
mercado insaciavel: entre 0 conheci-
mento cientifico e critico sobre a arte,
ele € requisitado a atuar a servico da
sedugo da clientela, em fungao de um
marketing cultural. De critico passa-se a
curador, um trabalho que se confunde
B 97
em diversos aspectos com o de anima-
dor cultural. Ao responder ao poder
institucional que move e promove o
mundo artistico, ele parece abandonar
cada vez mals a sua identidade critica
original, isto €, aquela que, segundo a
origem etimolégica grega do termo
“krino”, entre outras acepgdes, € a ati-
lade de discemir, de distinguir e de
julgar. Ele passa a atuar pelos caminhos
da comunicagao, da pedagogia e do
comentéi
, através dos quais as obras
de arte sféo consumidas em meio ao
fluxo da distancia, da quase indiferenga
e da recepgao massificada.
Do mesmo modo, a arte aparece
através das exposiges, em eventos
efémeros que trazem em si uma con-
cepedo especifica e um cunho politico.
Basta observarmos as diversas bienais,
as Documenta de Kassel, as grandes
retrospectivas de artistas, as exposicdes
tematicas nos vastos espacos museolé
gicos contemporaneos para nos darmos
conta que 0 produto artistico submete-
se, nfo somente as exigéncias e ao
perfil das estruturas institucionais, como
também as formas de organizacao da
cultura e da comunicacdo. Tem-se plena
conscléncia que as exposigées da arte
atual, mais que nunca visam a difundir a
Informagao sobre a arte em larga escala
€ que esse processo faz parte inerente
da estrutura de apresentagao das obras.
A arte toma-se, ndo mais uma arena de
didlogo dialético como no modernismo,
mas sim, um campo de interesses in
—________ Porto ate, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999
98 Men
Zielinsky
-vesticios, em seitas licenciadas: em lugar
da cultura, temos cultos.'® Transforman-
do-se em espetaculo, como bem lembra
Debord, ela distancia-se cada vez mais
dos processos de andlise. Referindo-se as
noticias jomalisticas das exposicées con-
temporaneas, lembra Hegewisch:
Nelas as pessoas podem se
identificar, falar e delxam-se levar por
uma critica na qual “a boa redacao” im-
porta bem mais que 4 andlise do que
esta sendo exposto."”
A autora ressalta a falta de exa-
me da producao artistica e do valor
atribuido a forma dos textos. O contato
com as obras € considerado cada vez
menos importante, fazendo prevalecer
sobre ele o efeito teatral das montagens
das exposicdes. O culto quase sagrado,
originado pelas estratégias de seducao
das mostras, acaba por suprimir a aten-
do sobre a arte exposta; esta € substi-
tuida por um discurso sem palavras,'®
que incentiva o prazer e 0 desejo de
consumi-la. lluminagdes especificas, re-
cursos de arquitetura ambiental, pre-
sencas de objetos e documentos de
raro alcance, fotografias, até mesmo
mésica ambiental atraem o espectador
de forma a envolv
cenario. Ele se vé freqlientemente arre-
batado pela qualidade da mostra e ten-
de a nao discemir as obras; a forma da
exposi¢ao em si € 0 que fica efetiva-
mente retido na memoria, a exposicéo
por si s6 passa a instituir-se como uma
obra auténoma
Jo inteiramente no
Porto Arte, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999.
Assim, na atualidade, a arte ver
a pdblico através de um modelo no
qual “tudo 0 que era diretamente vivi-
do desvaneceu-se, recolhendo-se em
uma representag4o”."® A critica e as ex-
posigdes representam a celebracéo
mercadolégica que sempre foram, mas
agora nutrem-se das caracteristicas de
expansao global. Apesar disso, sabe-se
que as condig6es contextuais dos dife-
rentes mundios artisticos ndo € homogé-
nea. A representacao vem a substituir a
tealidade dos fatos, e € nesse aspecto
preciso que a “atuacao da midia oprime
0 sentido de local e de tempo, portanto
© sentido histérico da existéncia da
art
Apesar da veiculagao pela midia
de uma imagem universalizante do
mundo artistico, sabe-se da sua falacia €
da heterogeneidade que o constitui,
conforme as diferentes culturas. Ao
contrario do que a midia propde, ha
uma série de contextos distintos, com
formulas de politicas culturais diferencia-
das. E em cada um destes contextos
faz-se necessario um exame critico da
mediacdo da arte, das intengdes dos
textos criticos veiculados, da concep-
so, programa e estrutura das exposi-
oes.
E neste sentido que nao € cabivel
conceber 0 desaparecimento da figura
do critico de arte, como aquele que
discerne os fatos. Este profissional € de
Importancia essencial na atualidade,
nao mais como o “Iuiz” de obras isola-
A.arte e sua mediacdo na cultura contemporanea
das dos tempos de Diderot, mas sim,
como alguém que atue como um critico
da arte dentro da diversidade das va-
rias culturas. E 0 ato politico necessa-
rio, pois ele esté compreendido no
entre-os-homens, no intra-espaco.”? Pre-
isa ser capaz de compreender em
profundidade os efeitos de uma media-
40 da arte em contextos determina-
dos, Identificar o caréter de suas espe-
cificidades circunstanciais, apesar da
dominacao medidtica generalizante. Po-
dera discutir esta ultima, em relacdo a
sua constituigéo nas malhas das comu-
nidades espectficas.
Este tipo de enfoque exige um
novo modelo de propriedade publica,
como identifica Thompson, que “centra
sua atengao nos processos, attavés dos
quals se formam jutzos e tomam-se de-
cis6es".7! © critico e 0 novo curador
hecessitam deixar aparentes os seus
conhecimentos particulares dos fatos
s,
ria.
attisticos, das suas articulagdes soci:
mesmo que estas sejam pro
Ser-lhes-4 fundamental dlescrevé-las em
seus movimentos, para poderem ser
compreendidos em sua constituicéo
politica e histérica, local € temporal,
Interessa agora tomar publica esta vi-
so, conscientizar a comunidade, como
fez Ronaldo Brito no Brasil dos anos 70-
80. A liberdace de idéias e a sua ex-
m 99
pressdo sao condicao de uma vida politi-
ca democratica. E uma posicao que urge
ser reconquistada, mas somente possivel
na reestruturacao de uma pluralidade de
organizages medidticas_independen-
tes.” Nelas € possivel assumir os dife-
rentes pontos de vista, onde € permitido
conceber os confrontos. E nesse sentido
que se evoca a atuagéo do critico de
arte carioca Ronaldo Brito que, apesar
do contexto mediatico opressivo, sem-
pre atuou politicamente através dos
préprios veiculos de mediacao da arte,
tais como em seus escritos sobre a arte
€ artistas, assim como nos catélogos
das exposig6es que acompanhavam o
processo das exposic6es.
Ao proporcionar 4 comunidade
formas de conhecimento e de informa-
‘s40 sobre 0 produto artistico, estimu-
land novas formas de posicionamento,
propicia-se a formacdo incontestavel de
Im Julzo fundamentacio através do in-
tercambio simbélico. Para isso, torna-se
imprescindivel que sejam repensadas as
novas constituigdes das exposicbes de
arte, seu material de apoio, assim como
‘0s espacos para uma nova critica que
atravesse perspicaz as opressivas bar-
reiras da midia, oportunizando diferen-
tes vivéncias da arte e especialmente
novos modelos para as suas formas de
mediagao.
———_____________Pratto Arte, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999
100 BB Monica Zietinsky
NOTAS
" Monique Sicard. “Eco-medio, la paire imparable”. Les Cahiers de Médiologie, n. 6, 1998, p. 91
2 Cf. Donald Kuspit. The new subjectivism. Art in the 1980", New York : Da Capo Press, 1993.
° Cf, Berard Lamizet. La médlation culturelle, Paris : L'Harmattan, 1999.
“ Régis Debray. Cours cle médiologie générale. Paris : Editions Gallimard, 1991, p. 15.
° CF. René Passeron. Philosophie de la création. Paris : Klincksieck, 1989. Nesta obra, 0 autor
situa a poiética como uma das ciénclas da arte que estuda o que “esta em processo de se fa-
zer, de se instaurar”.
® Jean Davallon. De exposition a lceuvre. Stratégies de communication et médiation symbo-
lique. Paris : L’Harmattan, 1999, p. 9. O autor faz referéncia nesta citacdo as exposicoes de
arte, mas refiro-me aqui 4 mediagao em geral.
7 Ronaldo Brito. “A arte pop de Antonio Dias”. O Globo, de 16 de 10 de 1987.
® Hal Foster lembra que o pluralismo € uma situago que concede uma espécle de equivalén-
cla; “a arte de diversas espécies passa a parecer mais ou menos igual”. In: Recodificagao. Arte,
espeticulo, politica cultural, Sao Paulo : Casa Editorial Paulista, 1996, p. 36.
° CE John Thompson. Los media y la modemidad. Barcelona: Ediciones Paidés Ibérica, 1998.
Segundo este autor, estes fluxos de comunica¢ao global tem sido estudacos mais minuciosa-
mente nas cigncias socials, a partir do final da cécada de 60,
"© Cf. Thompson, op. cit, p. 17.
"Cf. Walter Benjamin. “O narrador. Consideracdes sobre a obra de Nikolai Leskov". Obras es-
colhidas. Magia e técnica, arte e politica. Sao Paulo : Editora Brasiliense S. A., 1985.
"2 Walter Benjamin, “Sur quelques thémes baucelaiens”. Charles Baudelaire. Un poete Iyrique
4 Fapogée du capitalisme. Paris : Petite Bibliotheque Payot, 1979.
® CE. Thompson, op. cit. Segundo © autor. a busca de uma visibilidade na midia € uma das
caracteristicas centrais do processo social e cultural contemporsneo,
4 Emmanuel Kant. A critica da faculdade do juizo. Trad. Valétio Rohden e Antonio Marques.
Rio de Janeiro : Forense Universitaria, 1995. Sabe-se que Kant nunca chegou a encontrar efeti-
‘vamente respostas definidas a esta questo, quando se referia ao julzo estético.
' Marc Jimenez, La critique: crise de art ou consensus du culturel? Patis ; Editions Klincksieck,
1995, p. 77.
Porto Arte, Porto Alegre, v.10, n.19, p.93-101, nov. 1999.
Aarte e sua mediagao na cultura contemporanean Ml 101
°° CE. Hal Foster, op. cit. p. 36.
"7 Katharina Hegewisch. “Un médium a la recherche de sa forme. Les expositions et leurs dé-
terminations.” L art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du
XX éme siécle, Paris : Editions du Regard, 1998, p. 16.
'® Régis Debray, “Como as exposig6es se transformaram na propria obra de arte”. O Estadio de
Sao Paulo, Cademo 2 / Cultura, 2/4/00, p. D7.
'° Guy Debord, op. cit, p. 15.
2 Hannah Arendt. O que é politica? Fragmentos das obras péstumas compiladas por Ursula
Ludz. Rio de Janeiro : Bertrand do Brasil, 1998,
J, Thompson, op. cit, p. 327.
2 Cf]. Thompson, op. cit.
MONICA ZIELINSKY (Brasil: Doutora em Artes Plasticas e Ciencias da Arte (Estética)
pela Universidade de Patls I~ Panthéon ~ Sorbonne.
Professora Orientadora do Programa de Pés-Graduagio em Artes Visuals
do Instituto de Artes da UFRGS.
Porto Arte, Porto Alegre, v.10, 0.19, p.93-101, nov. 1999
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Alberro, Institutional Critique: An Anthology of Artists' WritingsDocument256 pagesAlberro, Institutional Critique: An Anthology of Artists' WritingsdreamopenerNo ratings yet
- Agamben Giorgio - Nudez-Livro PDFDocument56 pagesAgamben Giorgio - Nudez-Livro PDFlucampanaNo ratings yet
- 2019 - Cuadernos de Arte UC TransparenciDocument97 pages2019 - Cuadernos de Arte UC TransparencilucampanaNo ratings yet
- Artigo Caminhos Da Pesquisa em PoeticasDocument8 pagesArtigo Caminhos Da Pesquisa em PoeticaslucampanaNo ratings yet
- Historia Das Historias em Quadrinhos PDFDocument27 pagesHistoria Das Historias em Quadrinhos PDFlucampanaNo ratings yet
- A Crítica de Arte PDFDocument29 pagesA Crítica de Arte PDFlucampanaNo ratings yet
- Waldemar Cordeiro CordeiroDocument1 pageWaldemar Cordeiro CordeirolucampanaNo ratings yet
- A Origem Das EspéciesDocument442 pagesA Origem Das EspéciesWilson Nazareth100% (1)
- Barros ErnaRaisaLimaRodriguesde M PDFDocument219 pagesBarros ErnaRaisaLimaRodriguesde M PDFlucampanaNo ratings yet
- As Novas Regras Do Jogo o Sistema de Arte No Brasil PDFDocument72 pagesAs Novas Regras Do Jogo o Sistema de Arte No Brasil PDFlucampana0% (1)