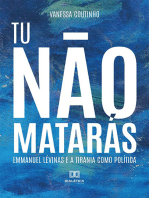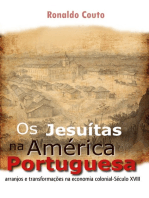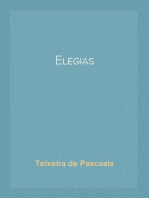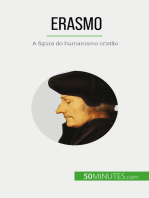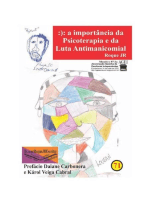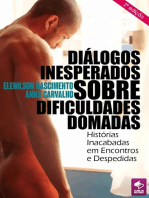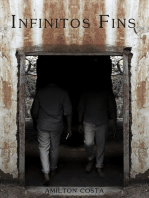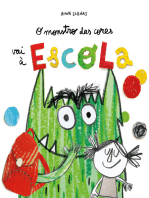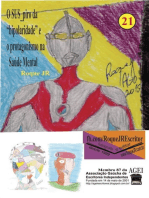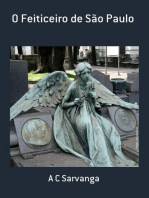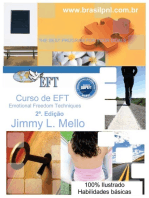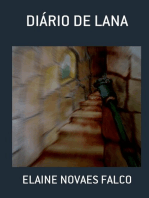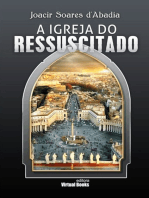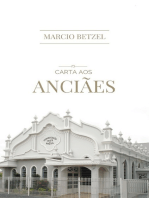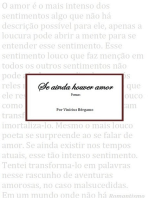Professional Documents
Culture Documents
RICOEUR, Paul. Leituras 2 PDF
RICOEUR, Paul. Leituras 2 PDF
Uploaded by
Ricardo Nonato0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views30 pagesOriginal Title
RICOEUR, Paul. Leituras 2.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views30 pagesRICOEUR, Paul. Leituras 2 PDF
RICOEUR, Paul. Leituras 2 PDF
Uploaded by
Ricardo NonatoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 30
Titulo original:
Lectures 2: La contrée des philosophes
| ae © Editions du Seuil, 1992
ISBN 2-02-019118-0
Edigdo de Texto:
| ‘Marcos Marcionilo
Revisao:
Luiz Paulo Rouanet
A REGIAO DOS
Projeto grafico’
Andréia A. Cust6dio
| FILOSOFOS
Edigées Loyola
Rua 1822 n° 347 — Ipiranga
04216-000 Sao Paulo — SP
Caixa Postal 42.335,
| 04299-970 Sao Paulo — SP
| © (O11) 914-1922
Fax.: (O11) 63-4275
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra
pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer
forma elou quaisquer meios (eletrénico, ou mecanico,
incluindo fotocépia e gravarao) ou arquivada em qual
‘quer sistema ou banco de dados sem permissao escrita
da Editora.
ISBN: 85-15-01334-7
© EDIGOES LOYOLA, Sao Paulo, Brasil, 1996
@ EIEANW/
Rezuzsio ranwema nerusco segursps emt Gapniet. Mancrs (1904) .. 47
O Trwtano De METAFISICA DE JEAN WanL. (1957) 65
(CAMUS, SARTRE, MERLEAU-PONTY, HYPPOLITE
(O Homes RevOLIADO (1956) ... 81
MORE 0 PERSONALISMO,
VOLTA A pEsson... (1983) ..
ABORDAGENS Da PESSOa (1990) ..
. _ 155
JEAN NABERT
QAGIR HUMANO
(© Maxx ve Mic, Hey (197
Erica & FILosoria pa piotocia emt Hans Jonas (1991) ..
229
2. POETICA, SEMIGTICA, RETORICA
MIKEL DUFRENNE,
A Nogho pea pmonrseunbo Mix, DuERENNe (1961)
‘UMA RETOMADA DA POETICA DE ARISTOTELES (1992) sssssssassassansnssans— 5
Nota Editorial
Entre Leituras 1, que reunia os artigos prefécios de Paul
Ricoeur tratando especificamente da questdo politica, e Leituras
3, que retine os textos sobre o trégico, a questo do mal, ou ainda
05 que destacam os lagos entre a filosofia e a nao-flosofia, nao
parece, a primeira vista, que Leituras 2 oferece ao leitor um volu-
‘me menos organizado? Em poucas palavras, esta segunda coleta-
nea nao parece ser apenas a ocasiao para publicar 0s outros tex-
tos de revistas ou prefacios de obras ainda dispersos e ndo publi-
cados? E mais particularmente os textos que Ricoeur consagrou
‘a0s pensadores franceses cuja leitura 0 acompanhou ao longo de
todo 0 seu itinerério filos6fico?
Longe de se apresentar como uma justaposigdo enciclopédi-
cade “figuras filos6ficas”, Leituras 2ofetece, ao contratio, a opor-
tunidade de compreender 0 papel que desempenharam na obra
de Ricoeur — mas também o lugar que ocuparam na Franca —
“os pensadores da existéncia” ligados & tradigao reflexiva. Se Jean
Nabert ¢ 0 seu principal representante na Franca, essa tradigao re-
monta ao pés-kantismo, e mais precisamente a Fichte, para quem
“a posicao do si é uma verdade que se poe a si mesma”, 0 que
significa, ao mesmo tempo, que ela é “a posigo de um ser e de um
ato, de uma existéncia e de uma operagao de pensamento”,
Enquanto Ricceur gosta de apresentar seu trabalho como
conversacao entre 0 pensamento germanico — marcado pelos
sucessivos encontros de Jaspers, Husserl, Heidegger, Gadamer,
Habermas —, a tradigao reflexiva francesa simbolizada pela obra
de Jean Nabert, e a filosofia analitica anglo-saxOnica nas suas
diversas variantes, 0 pensamento reflexivo é aquele cuja carga
Lerruras 2 — A REGO DOs FILOSOFOS 8
especulativa e influéncia sao mais delicadas de interpretar, a ponto
de permanecer mal conhecido e periférico na apresentacao con-
vencional da hist6ria da filosofia francesa depois da tiltima guer-
ra!, Nesse contexto, a primeira seqiiéncia de Leituras 2, que se
apresenta como uma sucessAo de artigos consagrados a
Kierkegaard, Gabriel Marcel, Jean Wahl, Albert Camus, Jean-Paul
Sartre, Merleau-Ponty, Jean Hyppolite, Emmanuel Mounier, Paul-
Louis Landsberg, Jean Nabert.... esclarece — em razio da con-
frontagao implicita que ela pde em cena entre esses diferentes
pensamentos — a originalidade dessa tradigao reflexiva. Mas tam-
bém o papel decisive que ela continuard a desempenhar na
“polémica” mantida por Ricceur entre essa tradigao ¢ as herangas
fenomenolégicas, hermenéuticas e analiticas.
Os dois textos de abertura, consagrados a Kierkegaard, sao
particularmente instrutivos: eles permitem, por um lado, compreen-
der como o existencialismo do pés-guerra se distingue do pensa-
‘mento reflexivo, e, por outro, inscrever esse pensamento na hist6ria
da filosofia, evitando reduzi-lo a este ou aquele autor singular. Em
“Filosofar ap6s Kierkegaard”, Ricoeur situa a contritouigao deste em
fungo de Kant, Fichte e Schelling: “Tais so as trés estruturas filo-
sGficas, recebidas de Kant, de Fichte e de Schelling, que dao ao dis-
curso kierkegaardiano sua dimensao filos6fica: primeiro a idéia
kantiana de uma critica da Razo pratica distinta de uma critica da
experiéncia fisica. Em seguida, a distincao fichtiana entre ato e fato,
assim como a definicao de uma filosofia pritica pelas condigoes de
possibilidade e de realizacao do ato de existir. Enfim a problemati-
ca schellinguiana da realidade finita, e mais precisamente a cone-
xdo entre finitude, liberdade e mal” (p. 37).
“Momento do desejo constitutivo do nosso ser”, segundo a
expressio de Jean Nabert, a reflexio acompanha um pensamento
do “si” que recusa — este ¢ o tema do primeiro capitulo de Soi-
1. Os artigos que tém por objeto a fenomenologia foram publicados em
AT école de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1986. 0 leitor encontraré artigos
sobre Karl Jaspers em Leituras 1. Quanto & filosofia analitica, muito presente
em Tempo e narrativa e em Soi-méme comme un autre, obra na qual ela
repesenta um “desvio” necessério, ela nao foi objeto de uma publicagao de
artigos justificando uma coletanea autonoma (ver, no entanto, varios textos
em Du texte a I’ action).
9 Nota eprronat.
‘méme comme un autre (1990) — a oscilagao entre a exaltagio
cartesiana ou a humilhagao nietzschiana do Cogito. Se a posi¢ao
do “si” € uma verdade que se pde a si mesma, ela se encontra
diante da obrigagao de se reapreender, isto é, de “se projetar no
espelho dos seus objetos, das suas obras e, finalmente, dos seus
atos". Nao podendo se dar na intuigao de uma consciéncia ime-
diata, o “si” deve se exteriorizar em atos ¢ em obras. Essa dupla
“deposicéo” do “si” nas obras e nos atos sublinha os lacos da
reflexao e da filosofia de Ricoeur que se apresentam como um
pensamento do agir, uma ontologia da acao, mas também como
uma hermenéutica®. Na linha das discussdes esbocadas aqui, o
papel do pensamento reflexivo e a influéncia profunda exercida
por Jean Nabert, o qual “redescobre o sentido do ético que € mais
préximo de Spinoza do que de Kant”, tendem a mostrar que a
heranga reflexiva é um dos principais fios de Ariadne do trabalho
de Ricoeur. Talvez o fio mais dificil de desembaracar em razao do
destino que coube a autores como Merleau-Ponty ou Jean Nabert
na Franca. Mas também porque a dimensao hermenéutica ocul-
tou sensivelmente “o imperativo reflexivo” que, contudo, voltou
com fora em 1990, em Soi-méme comme un autre, cuja ambicao
declarada é realizar uma “fenomenologia hermenéutica do si”.
Se os tiltimos textos da primeira seqiiéncia de Leituras 2
voltam a tratar da questao do agir e da praxis (ver os artigos sobre
Marx de Michel Henry ou a reflexao sobre a filosofia biolégica de
Hans Jonas), a segunda seqiiéncia de Leituras 2— prolongando
8 textos publicados em 1969 em O conflito das interpretacoes —
aborda os debates relativos ao “circulo hermenéutico” e a inter-
pretacdo. Refletindo sempre no ambito do par diltheiano exp!
car/compreender, Ricoeur discute essencialmente a antropologia
estrutural de Claude Lévi-Strauss e a semiética narrativa de AJ.
Greimas. O confronto com esta ultima — os trés textos substan-
2. Ver Paul Ricceur, Les métamorphoses de la raison hermeéneutique.
Sob a diregao de Jean Greisch e Richard Kearney, Paris, Cerf, 1991.
3. Aos trés textos publicados aqui, é preciso acrescentar “Lacte et le
signe selon Jean Nabert”, in Le Conflit des interprétations, Paris, Le Seuil,
1969, [Desses trés textos 56 um foi publicado nesta edigao, os dois que foram
excluidos foram “Préface a Eléments pour une éthique”, de 1962 e “Préface &
Le Désir de Dieu”, de 1966. N. do T.|
Lerrunas 2 — A neGiKo Dos FiLosoros 10
ciais consagrados a A. J. Greimas formam um todo e uma home-
nagem a esse autor recentemente desaparecido — ¢ particular
mente fecundo porque torna possivel a elaboragao de uma her-
menéutica geral cuja gramética narrativa representa uma variante
que se opie a de Gadamer e de Ricceur. “Uma inversao metodolégica
separa as duas hermenéuticas; mas vejo essa inversio operada no
interior de uma hermenéutica geral, para a qual a diferenca entre
explicar e compreender permanece insuperdvel” (pp. 435, 436). Na
6tica dessa hermenéutica geral, 6 o debate sobre a interpretagao
ao qual é consagrado um artigo — que é consideravelmente enti.
quecido a despeito da fraqueza da corrente hermenéutica na Fran-
a, “a teoria da interpretacao nao tendo conhecido ai o impulso do
qual ela se beneficiou na Alemanha” (p. 45)*.
Vé-se assim que Leituras 2, cujo subtitulo, “A regiao dos fil6-
sofos”, foi escolhido por Paul Ricoeur, permite antes de tudo
redescobrir — beneficiando-se da forga de penetragao de suas
leituras — pensadores um tanto exilados da cena filos6fica (de
Gabriel Marcel a Jean Nabert), mas também perceber uma das
molas do pensamento de Ricceur freqientemente desconhecida,
até mesmo ignorada, em beneficio da dimensao hermenéutica da
sua obra. Leitor assiduo, ele nao cessou de ler para melhor com-
preender o que ele mesmo se esforcava por pensar, e para avan-
car ainda mais na elaboragao de uma filosofia que encontrou toda
a sua dimensao em Soi-méme comme un autre, a obra de 1990 na
qual as diferentes filiagdes reivindicadas trabalham de maneira
concertada em vista de orquestrar uma ontologia do agir’.
OM.
PS: Todos 0s nossos agradecimentos a Sra. Thérése Duflot, que
permitiu que este segundo volume das Leituras pudesse
ser publicado nas melhores condigoes.
4. Textos nao reproduzidos aqui, intitulados respectivamente “Entre
herméneutique et sémiotique”, de 1990, e Interprétation”, de 1989 (N. do E.).
5. Sobre a coeréncia profunda da obra de Ricoeur e 0 papel que nela
representa a tradigao reflexiva, ver Olivier Mongin, Pau! Ricqwur, colecao * Les
contemporains’, Paris, Seuil, s.d
1
PENSADORES
DA EXISTENCIA
Kierkegaard e o mal
(1963)
Nao € tarefa isenta de riscos celebrar Kierkegaard, ele que
nfo teve piedade para com os pastores e professores. Sim, pode-
-se falar de Kierkegaard sem exclui-lo e sem se excluir? Estamos
aqui para desafiar honestamente e de maneira modesta esse ridi-
culo; afinal de contas, é preciso também ousar afrontar os sarcas-
mos de Kierkegaard; esta ainda 6 a melhor maneira de honré-lo;
em todo caso, é preferivel correr esse risco a Ihe dar razdo por
conveniéncia e convencio e entregar-se em seguida a seus pen-
samentos como se os possuisse.
Proponho dois encontros muito diferentes com Kierkegaard:
no primeiro, tentaremos escutar e compreender, pondo-nos sim-
plesmente diante de um pequeno ntimero de textos sobre os quais
projetaremos um raio de atenco tao estreito e intenso quanto
possivel: esses textos sdo extraidos de dois escritos: O conceito de
angiistia, que é de 1844, e A enfermidade mortal, publicado cinco
anos mais tarde, em 1849. Nesses dois ensaios, quero extrair 0
pensamento de Kierkegaard relativo ao mal, entregando-me a uma
exegese tao obediente quanto possivel dos textos; é entéo que
corremos o maior risco de nos excluir dessa explicacao de texto.
‘Na segunda conferéncia, tentarei explicar e aplicar o preceito que
Karl Jaspers ensinava ha cerca de trinta anos: “Nossa tarefa, dizia
ele, nds que ndo somos a excegao, & pensar em face da éxcegaa".Ten-
taremos, entao, dessa vez ndo excluir Kierkegaard, dado que abor-
daremos a questo: “Como € possivel filosofar apés Kierkegaard?”
Por que nos deter nesses dois tratados e por que a questo
do mal?
Lerrunas 2 — A neciko Dos riLdsoros 16
Primeiro, a questao do mal. £ desnecessdrio enfatizar que 0
mal é 0 ponto critico de todo pensamento filos6fico: se ele o com-
preende, este é 0 seu maior sucesso; mas 0 mal compreendido
nao é mais o mal, ele deixou de ser absurdo, escandaloso; & mar-
gem do direito e da razdo. Se nao o compreende, entao a filosofia
nao é filosofia, se 6 verdade que a filosofia deve tudo compreen-
der e se erigir em sistema, sem resto fora dele. No grande debate
entre Kierkegaard e 0 sistema — vale dizer, Hegel —, a questao do
mal representa uma incomparavel pedra de toque. £ sobretudo
este ponto que eu gostaria de tratar: é ele que nos conduziré ao
nosso segundo problema: pode-se filosofar apés Kierkegaard? &
importante, em vista dessa questdo de confianga, compreender
como o préprio Kierkegaard pensa em face do irracional, do ab-
surdo. Pois ele nao grita, ele pensa.
Haveria outra razao para falar do mal: ele nao é s6 a pedra de
toque para a filosofia, mas é também a ocasiao para surpreender
a qualidade do cristianismo de Kierkegaard, quero dizer o cristia-
nismo da Cruz, mais que da Pascoa ou de Pentecostes. Voltarei a
isto no final desse ensaio... Mas quero, sobretudo, tentar mostrar
como Kierkegaard fala e pensa sobre o Mal, isto 6, sobre o que ha
de mais oposto ao sistema.
Comego por uma observagao: nenhum desses dois livros
constitui, de qualquer modo que seja, um Diario, uma Confissao.
Nao se encontram tracos, nesses escritos, da terrivel confissao
feita pelo pai, daquele dia da sua infancia quando, guardando
seus rebanhos na planicie de Jutland, subiu sobre uma pedra e
amaldigoou a Deus. Nem tampouco do casamento precipitado
do pai vitivo com uma serva cortesd, nem de todas as mortes que
se abateram sobre a casa paterna, como um castigo pela blasfé-
mia, nem da melancolia de Soren, nem do espinho na carne.
Perderfamos nosso tempo se tomassemnos a via curta da biografia
psicanalitica e se buscassemos nesses escritos complicados e cheios
de raciocinios a transposi¢ao direta de uma vida emocional, repleta
de tormentas e de remorsos. Essa via direta, da vida a obra, € nos
absolutamente interditada; nao que uma psicanidlise de Kierkegaard,
ou pelo menos uma aproximacao psicanalitica fragmentaria, seja
impossivel. Mas para tanto seria necessdrio tomar resolutamente a
via inversa: ou seja, comecar pela exegese dos textos €, se posstvel,
7 KIERKEGAARD £ 0 SL
decifrar nos préprios textos algum segredo da vida. Isso quer dizer
que é preciso, de qualquer modo, comegar pelos textos e, talvez,
remontar dos textos a vida; pois hd mais nesses textos do que as
migalhas biogrdficas que possamos recolher.
Vamos diretamente aos textos. Esses dois tratados tém em
comum 0 fato de serem edificados sobre a base de dois sentimen-
tos, mais precisamente com base em dois sentimentos negativos
cujo objeto permanece indeterminado: a angtstia, 0 desespero.
Angiistia de qué? desespero de qué? Entretanto, é deles que se
deve partir, pois se adotéssemos como ponto de partida o que jé
sabemos sobre o mal, perderiamos precisamente 0 que nos pode
ser ensinado por esses dois sentimentos; partir do mal conhecido
seria partir de uma definic4o puramente moral da culpabilidade,
como transgressado de uma lei, como infragao. Ao contrdrio, a
questo é descobrir uma qualidade e urna dimensao do “pecado”
que so as tinicas a poderem anunciar essas emocGes profundas,
ordinariamente ligadas a melancolia ou ao medo. £ porque a de-
terminagao do mal se faz inteiramente na 6rbita desses dois sen-
timentos que 0 “conceito” do mal é profundamente diferente em
cada um dos tratados; a andlise da angtistia desemboca no con-
ceito do pecado-evento ou surgimento; a prépria anguistia é uma
espécie de deslocamento, de fascinacao na qual o mal se encon-
tra circunscrito, aproximado pela frente e por tras. Ao contrério,
0 Conceito de desespero — outro nome de A enfermidade mortal
— se estabelece no nticleo do pecado, nao mais como um salto,
mas como um estado; 0 desespero é, se podemos dizer, o mal do
mal, o pecado do pecado.
Consideremos sucessivamente essas duas vias de aproxima-
40. Tentaremos, para concluir, compreender a sua conjungao.
A primeira 6, deliberadamente, anti-hegeliana: salto, surgi-
mento, evento opondo-se a mediacao, sintese, reconciliagao. Por
isso mesmo rompe-se a mistura equivoca da ética e da légica:
“Na logica hd excesso, na ética falta; em parte alguma ele é justo
ao pretender sé-lo dos dois lados". Mas entao, quem falara justa-
mente do pecado? O metafisico? Ele 6, a0 mesmo tempo, muito
desinteressado ¢ muito compreensivo. O moralista? Ele cré de-
masiadamente no esforgo do homem e nao suficientemente na
sua mis¢ria, O pregador? Sim, talvez; pois ele se dirige ao isolado,
Lurruns 2 — A REGIAO Dos MLdsoFOs 18
de s6 a s6; mas entaa, ele s6 0 explica pressupondo-o: “No fundo,
observa Kierkegaard, 0 conceito do pecado nao encontra lugar
em nenhum conhecimento, s6 a segunda ética [isto é, aquela que
segue a dogmatica, que conhece o real e o pecado ‘sem frivolida-
de metafisica nem concupiseéncia psiquica’] pode tratar suas ma-
nifestagdes, mas nao suas origens” (p. 25). E, contudo, é como psi-
célogo que Kierkegaard vai falar; a fim de isolar o radical salto do
ato, 0 psicdlogo esbogard a sua possibilidade, aproximando de al-
gum modo a descontinuidade de um surgimento pela continuida-
de de um deslocamento, de uma passage.
© paradoxo, aqui, é 0 do comeco. Como 0 pecado entra no
mundo? Por um salto que se pressupée a si mesmo na tentacio.
Este 6.0 “conceito de angtistia”: uma psicologia muito préxima do
evento, uma psicologia que envolve de perto o evento como ad-
vento, uma psicologia da duragio em que a inocéncia se perde, ja
se perdeu, oscila e cai. Mas nés também nao conhecemos a ino-
céncia, nés apenas sabemos da sua perda; a inocéncia € “algo
que, mesmo quando se a destrdi, s6 se mostra por essa razéio e 86
entdo como tendo existido antes de ser destruida e sendo-o ago-
ra” (p. 41). Assim, eu s6 conheco a inocéncia quando perdida; do
salto do pecado, eu s6 conheco a progressdo. A angiistia é esse
ntermedidrio entre a inocéncia que se perde e um salto que pro-
cede.
Que dizer da propria anguistia? £ 0 nascimento do espirito:
desse espirito que a Biblia chama de discernimento do bem e do
mal; mas o espirito ai ainda est4 sonhando; nao ha mais inocén-
cia, nao ha ainda o bem ¢ o mal, Entéo com que sonha o espirito?
Com nada. Com o nada. Esse nada gera a angistia. E assim que
“a angtistia 6 a realidade da liberdade, porque é a sua possibilida-
de” (p. 46). Nada, possibilidade, liberdade... Como se vé, a ambi-
gilidade — a palavra é de Kierkegaard — é mais enigmatica do
que a ja demasiadamente moral concupiscéncia; antipatia sim-
patizante, simpatia antipatizante, prefere dizer o sutil Kierkegaard.
1. Cito Le concept de l'angoisse, trad. de Ferlov e Gateau, Paris, Gallimard,
Col. “Idées". (Cf. Oeuvres completes, t. 7: Le concept d'angoisse, trad. de
P.H. Tisseau, Paris, Ed. de 'Orante, 1973, pp. 123, 138-139, 144, 145, 146,
17)
19 Krenxscaann
E essa ambigitidade ele a chama de dialética, porém psicolégica
e ndo légica. Voltaremos a isso na segunda conferéncia. “Assim
como a relagdo da angustia com o seu objeto, com algo que é
nada (a linguagem 0 expressa também com forga: angustiar-se
com nada) pulula de equivoco, da mesma maneira a passagem
que se pode fazer aqui da inocéncia & falta sera, precisamente,
to dialética a ponto de mostrar que a explicagao é, exatamente,
© que ela deve ser: psicolégica” (p. 47).
Dir-se-4 que é a interdigao que suscita 0 desejo? Mas a ino-
céncia nao compreende a interdicdo; esta é, diz Kierkegaard, uma
explicagio posterior. Digamas antes que a interdigao 6 a palavra
— a “palavra enigmatica” — que cristaliza a angustia: 0 interdito
inquieta Adao porque desperta nele a possibilidade da liberdade.
9 nada se torna “possibilidade de poder’; é essa possibilidade
que ele ama e da qual foge.
Nao se deve dizer que Kierkegaard se compraz.no irracional,
no inefavel: ele analisa, disseca, transborda em palavras. Ele é 0
dialético da antidialética. E esse paradoxo dialético culmine na
representagéo do homem como sintese de alma ¢ corpo, reuni-
dos nesse terceiro termo: 0 espirito — espirito que sonha com
nada, espirito que projeta o possivel. O espirito é esse “poder
inimigo”, sempre perturbador da relacao que, contudo, nao exis-
tiria senao por ele; por outro lado, o espirito é uma “poténcia
amiga”, desejosa justamente de constituir a relagée: “Qual. é,
portanto, a relacao do homem com essa poténcia equivoca? Qual
a relacao do espirito consigo mesmo e com a sua condicao? Essa
relagio é a angtistia” (p. 48).
Assim, a psicologia chega muito cedo ou muito tarde: ela
conhece ou a angustia de antes, que leva ao salto qualitative —
anguistia de sonho, angiistia de nada —, ou a angiistia de depois,
que aumenta quantitativamente o mal — angustia de reflexao,
anguistia de alguma coisa, tornada de algum modo natureza, pelo
fato de ter assumido doravante um “corpo”; é assim que a angtis-
tia habita o sexo: nao que ela venha daf, mas porque ela chega ai.
A angiistia de sonho se fez carne e estende sobre todas as coisas
um “profundo luto inexplicado”. Cometeriamos um grande erro
se buscassemos aqui alguma repugnancia puritana pela sexuali-
Lerrunas 2 — A necito Dos midsoros 20
dade: antes de Max Scheler, Kierkegaard compreendeu que a
anguistia ndo vem do sexo, mas desce do espirito & sexualidade,
do sonho a carne; 6 porque o homem é atormentado no seu es-
pirito que ele se envergonha da sua carne; no pudor, o espirito se
inquieta e teme revestir a diferenca sexual. Assim o pecado entra
no mundo, faz-se mundo e cresce quantitativamente,
Mas nés nado conhecemos melhor o que é 0 pecado pela
angistia ulterior do que pela angtistia anterior; ele permanece
angustia, tomada de perto, mas vazia no centro: “Nenhuma cién-
cia pode explicar o como desses fatos. Mas € a psicologia que
mais se aproxima disso, explicando a sua tltima etapa aproxima-
tiva, 0 aparecimento para si mesma da liberdade na angiistia do
possivel, ou ainda no nada da angtistia” (p. 82).
O CONCEITO DE DESESPERO
A enfermidade mortal, ou O Conceito de desespero?, 6 ainda
um ensaio psicolégico. Mais precisamente, é, segundo o subtitu-
lo, Exposi¢ao psicolégica e crist@ para edificar e despertar. Esse
tratado associa, conseqiientemente, a psicologia, no sentido do
Conceito de angistia, e a edificagao, no sentido dos “discursos
edificantes”. J4 apontamos a diferenca que separa esses dois tra-
tados: 0 primeiro fala do mal como de um evento, de um salto; 0
segundo fala dele como de um estado de coisas. A substituigao da
2. Cito La maladie la mort (Le Concept de désespoin, trad. de Tisseau.
(Sygdommen til Déden.) Nao ha nogao de Tratado, nem de Conceito (além
disso de uso antes irOnico em Kierkegaard). Lembremos que “La Maladie &
Ja mort” € uma formula emprestada ao Evangelho de Joao (11, 4). Le Traité
du désespoir 6 uma "traducao” de Ferlov e Gateau; Tisseau indica Le concept
de désespoir, mas entre parénteses, sob o titulo que convém, e apenas na
capa, 0 que mostra que para ele isso nao era mais que uma indicagao temé-
ica assumida. A relacdo de forcas editorial fez 0 resto, e geracdes de estu-
dantes ou de leitores puderam ser enganadas por um titulo falacioso, mas
que se tornou célebre. Talvez esse sucesso tenha encontrado um aliado
cunstancial no andamento didatico da obra pseuddnima de 1849. No entan-
to, como sempre em Kierkegaard, 0 subtitulo que Paul Ricceur sublinha aqui,
concorre com o titulo (e eventualmente com o pseuddnimo) para esclarecer
a estrutura da obra.
2 KreaxEGAARD € © Se
angiistia pelo desespero exprime essa mudanga: a angustia tende
para... 0 desespero reside em...; a angtistia “ex-siste"; 0 desespero
“in-siste”. Que significa essa mudanca? f impossivel compreen-
der A enfermidade mortal sem voltar a um ensaio anterior Temor
€ tremor, que situa a significacdo da {é e do pecado além da esfera
ética; 0 pecado nao é 0 contrario da virtude, mas da fé, que é uma
categoria teol6gica: a fé é uma maneira de ser em face de Deus,
diante de Deus. Essa ligacao é elaborada em Temor e tremor, nao
através de uma discussao abstrata de conceitos teolégicos, mas
por meio de uma exegese: os conceitos novos sao decifrados atra-
vés da interpretagao de uma historia, a historia de Abraio; 6 0
sentido do sacrificio de Isaac que decide o sentido dos conceitos
de lei e de fé; 0 sacrificio de Isaac seria um crime segundo a moral;
ele é um ato de obediéncia segundo a fé. Para obedecer a Deus,
Abraio devia suspender a ética; era-Ihe necessdrio tornar-se 0
cavaleiro da fé que avanga sozinho, para além da seguranca da lei
geral ou, como diz Kierkegaard, do geral. Assim, Temor e tremor
abre uma nova dimensto da angiistia, que procede da contradi-
do entre a ética e a f6. Abraao 6 0 simbolo dessa nova espécie de
angustia, ligada & suspensdo teleolégica da ética.
Ora, 0 conceito de desespero pertence & mesma esfera, nao
ética mas religiosa, que a fé de Abraao; 0 desespero é 0 negativo
da fé de Abraao. Eis por que Kierkegaard nao diz primeiro 0 que
€ 0 pecado, depois o que é o desespero, ele constrdi e descobre 0
pecado no desespero como sua significagdo religiosa; a partir dai
© pecado nao é mais um salto, mas um estado estagnante, uma
maneira insistente de ser.
Segunda conseqiléncia: a questo nao € mais como “ele en-
trou no mundo” — pela anguistia, — mas como é possivel dele
sair. O desespero ¢ entao compardvel a um desses “estddios no
caminho da vida” explorados por Kierkegaard em outra obra; é
uma enfermidade; uma enfermidade da qual se morre sem mor-
rer; € a enfermidade “mortal”, do mesmo modo que a injustica,
segundo Platao, no Livro X de A Repiiblica, é uma morte viva e a
prova paradoxal da imortalidade. O desespero, segundo
Kierkegaard, é um mal mais grave do que a injustiga segundo
Plato, a qual se refere ainda a esfera ética; mas porque é mais
grave, ela est mais préxima da cura.
LerTunas 2 — A REGU pos FiLOsOFOS 22
Agora, como se pode falar do desespero? A andlise estrutural
de A enfermidade mortal deve nos aproximar de nosso problema:
qual é 0 modo de pensar de Kierkegaard? como ¢ possivel filoso-
far apds Kierkegaard? Com efeito, notar-se-d que Kierkegaard cons-
1r6i0 conceito de desespero. Um simples olhar sobre o sumério do
tratado revela um encavalamento de titulos e subtitulos. O plano é
curiosamente didatico. A primeira parte mostra que “a enfermidade
mortal é desespero”: sua possibilidade, sua atualidade, sua univer-
salidade, suas formas sao cuidadosamente distinguidas; mesmo as.
suas formas sao elaboradas de maneira bastante sistematica, do
ponto de vista da “falta de finitude” e da “falta de infinitude”, da
“falta de possibilidade” — vale dizer, de imaginagao e de sonho —
eda “fala de necessidade” — vale dizer, de submissio a tarefas ea
deveres gerais neste mundo. © mesmo equilibrio se renova por
ocasiao de novas distingdes; a mais sutil se anuncia assim: “O de-
sespero considerado sob o aspecto da consciéncia, segundo ele se
conhega ou nao se conhega”; assim, hd desespero “de nao querer
ser si mesmo", ou “de querer ser si mesmo”.
Depois, a segunda parte intitulada “O desespero ¢ 0 peca-
do”, elabora todos os caracteres do pecado de acordo com 0 mo-
delo do desespero e conduz a conclusao de que o “pecado nao é
uma negacao, mas uma posi¢o”. Detemo-nos nessa conelusio,
que oporemos ao nada da angistia.
Mas quero primeiro interrogar essa estranha estrutura do
tratado; 6 impossivel nao se impressionar com 0 aspecto laborio-
so e pesado dessa construcdo que se assemelha a uma disserta-
ao interminével e obliqua. Que significa isso? Somos confronta-
dos a uma espécie de simulacro estridente do discurso hegeliano;
‘mas esse simulacro 6, a0 mesmo tempo, o meio de salvar o dis-
curso do absurdo. Ele ¢ didatico porque nao pode mais ser dialé-
tico. Ou, noutros termos, ele substitui uma dialética de trés ter-
‘mos por uma dialética rompida, por uma dialética nao resolvida
de dois termos. Uma dialética sem mediagao, tal é 0 paradoxo
kierkegaardiano. Ou demasiadas possibilidades, ou muita atuali-
dade; ou muita finitude, ow muita infinitude; ou se quer ser si
mesmo, ou ndo se quer ser si mesmo. Mais ainda, como cada par
de contrarios nao oferece resolugao, nao € possivel edificar 0
paradoxo seguinte sobre o que o precede; a cadeia de paradoxos
23. Kiersncaann £0 seal
6, ela mesma, uma cadeia rompida; de onde 0 quadro didatico,
substitufdo a estrutura imanente de uma verdadeira dialética; a
Tuptura que ameaca esse discurso deve sempre ser conjurada,
compensada por um acréscimo de conceitualidade e de habilida-
de ret6rica; de onde, enfim, o estranho contraste: é 0 termo mais
irracional — o desespero— que pée em movimento a maior massa
de andlises conceituais. No nosso segundo estudo, partiremos
dessa estranha situagdo: um hiperintelectualismo ligado a um
irracionalismo fundamental.
Entremos um pouco mais nessa construcdo um tanto arre-
dia. O nticleo em torno do qual séo construidas as grandes
antinomias do desespero 6 uma definicao do si para a qual o con-
ceito de anguistia nos preparou quando ele chamava o espirito de
terceiro termo, de perturbador da relacao tranqiiila da alma com
0 corpo. Eis essa definicao na sua desconcertante abstragao: “O si
6 uma relago que se reporta a si mesma e nessa relacdo se repor-
ta a um outro”. Essa definicao traz a marca — por derrisdo ou
despeito amoroso? discutiremos isso ulteriormente — da dialéti-
ca hegeliana; mas, diferentemente de Hegel, essa relagdo que se
reporta a si mesma é mais um problema do que uma resposta,
mais uma tarefa do que uma estrutura; pois, 0 que se da no di
sespero é 0 que Kierkegaard chama de “desacordo”. Essa prio
dade do desacordo, em toda a andlise ulterior, repousa sobre a
estrutura da relagdo como uma tarefa impossivel: a possibilidade
do desespero reside na possibilidade do desacordo, vale dizer, na
fragilidade dessa relacdo que se reporta a si; € 0 que significa a
expresso “reportar-se a si ja é reportar-se a um outro”. Para essa
relaco, constituir-se ¢ desfazer-se. Jé podemos compreender que
forca pode dar a ret6rica kierkegaardiana do pathos essa unido do
sentimento e da andlise: 0 desespero existe ou, como tentamos
dizer, insiste nas figuras da ndo-relacao. Doravante tudo serd mais
complicado do que em O conceito de angtistia: a angistia era fas-
cinada pelo nada da pura possibilidade: “O desespero é um desa-
corda no seio de uma sintese que se reporta a si mesma. A sintese
nao é o desacordo, ela é simplesmente a sua possibilidade; dito
de outro modo, é na sintese que reside a possibilidade de um
desacordo... De onde, entdo, vem o desespero? Da relacao na qual
a propria sintese se reporta quando Deus, tendo feito do homem
Leruras 2 — A nEGiAO Dos FILOsOFOs 24
a relacao, a sintese que ele 6, deixa-o por assim dizer escapar de
sua M40; noutros termos, quando a relacdo se reporta a si mes-
ma” (A enfermidade mortal, pp. 11-12)’. Essa ultima frase permite
Jevar mais longe a explicagao da estranha expressao “uma relacao
que se reporta a um outro A medida que se reporta a si mesma”;
elase reporta a um outro porque é abandonada a si mesma; nesse
abandono, ela é reportada a si mesma como a um outro. A
derreligéo é 0 aspecto reflexivo desse abandono por Deus, que
deixa a relacao se desenvolver como se escapasse de suas maos.
Kierkegaard, antes do existencialismo, descobriu essa identidade
entre a reflexdo e a derreligao.
‘Toda a arte de Kierkegaard consistiré doravante em aplicar
sua sutileza psicol6gica as multiplas possibilidades oferecidas pela
dissociagéo dessa relacao que se reporta a si mesma reportando-
-se a um outro. O génio literdrio, psicolégico, filoséfico, teolégico
de Kierkegaard parece-me consistir nessa maneira meio abstrata,
meio concreta de por em cena possibilidades artificialmente
construidas, de fazer corresponder a esse jogo conceitual a “6pe-
ra fabulosa” dos estados de alma desesperados. O espanto do
leitor, seu mal-estar, sua admiracao e seu desgosto devem-se a
essa oscilacao constante entre a experimentacao imaginaria mais
aguda e a dialética conceitual mais artificial. Alguns exemplos: 0
homem, se nos diz, é uma sintese de infinitude e de finitude, de
possibilidade e de necessidade; 0 desespero desponta a partir do
momento em que a vontade de se tornar infinito é ressentida
como falta de finitude, e vice-versa. Esse jogo entre conceitos
opostos ¢ alimentado por um poder extraordindrio de criar tipos
humanos, dentre os quais reconhecemos os heréis das possit
dades fantasticas, do Don Juan do estdgio estético, o sedutor do
Didrio de um sedutor, 0 Fausto de Goethe, mas também 0 poeta
do estagio religioso, o explorador do aberto segundo Rilke, em
poucas palavras, 0 imaginario, berco de todo processo de
infinitizacdo. “O si, escreve Kierkegaard, € reflexao e a imaginacao
6a possibilidade de toda reflexao”. { entao que a perda do solo,
a distancia sem fim com relacao a si so sentidas como perda,
como desespero. O paradoxo abstrato torna-se um paradoxo
3. Cf. op. cit. t. 16, p. 174,
25 Kienkecanno £0 MAL
concreto: 0 “ou, ou" do infinito ¢ do finito é 0 “ou, ou” que con-
fronta 0 sedutor e, no seu lugar, o herdi, do dever descrito sob os
tracos do juiz Wilhelm. A falta de infinitude, a estreiteza de uma
vida mediocre, a perda de horizonte s4o possibilidades muito con-
cretas descobertas por qualquer um que ressinta a sua propria
existéncia como a de uma pedra solta sobre a margem ou de um
ntimero perdido na multidao.
Mas 6 talvez a tiltima dialética que esclarece todas as outras.
© pior desespero 6 “o desespero que ignora ser desespero”; 0
homem comum é desesperado, é desespero, mas ele nao 0 sabe.
Assim, € porque 0 desespero pode ser inconsciente que ele deve
set descoberto ¢ até mesmo construido; a dialética do incons-
ciente e do consciente desenvolve-se no interior do desespero
como no coragao de uma possibilidade Ontica, de uma maneira
de ser; a consciéncia nao constitui o desespero; 0 desespero exis
te, ou, como dissemos, insiste. Esta é a razao pela qual a propria
consciéncia se une ao desespero. O grande desespero, o desespe-
ro de si mesmo, que Kierkegaard chama de desafio, representa 0
liltimo grau no “constante crescimento de poder do desespero
Aqui, mais que alhures, essa possibilidade s6 pode ser experi-
mentada na imaginagao: “Vé-se raramente essa forma de deses-
pero no mundo; semelhantes figuras s6 se encontram de fato nos
poetas ¢, a dizer a verdade, entre os que emprestam a seus per-
sonagens a idealidade demoniaca, tomando essa palavra no sen-
tido estritamente grego” (p. 65)*. Na vida real, esse desespero
‘supremo 86 pode ser aproximada no desespero mais spiritual, 6
desespero que nao se refere mais a uma perda terrena, 0 deses-
pero de nao querer ser ajudado.
A ENFERMIDADE MORTAL
Podemos agora confrontar O conceito de angtistia ¢ A enfer-
midade mortal sobre a questo do pecado, circunscrito por duas
aproximagoes opostas.
Os dois tratados concordam nisso: 0 pecado nao é uma rea-
lidade ética, mas uma realidade religiosa; 0 pecado ¢ “diante de
4.C8 an. cit. 1.18, 1. 228.
Lerruras 2 — A neciko bos FIL6s0FOs 26
Deus”. Mas, enquanto O conceito de angiistia permanecia no ex-
terior dessa determinagao do pecado como algo “diante de Deus”,
A enfermidade mortal ja “edifica e desperta”, segundo 0 titulo.
Enquanto a angustia era um movimento para... 0 desespero &
pecado. Dizer isso ja ¢ ir além da psicologia: “Aqui pode ser intro-
duzido, na mais dialética fronteira entre 0 desespero e © pecado,
0 que se poderia chamar de uma existéncia poética em diregao ao
religioso
Essa “existéncia postica em direcao ao religioso” nao tem
nada a ver com uma efusdo mistica; “ela 6, diz Kierkegaard, pro-
digiosamente dialética e permanece numa confusio dialética
impenetravel quanto a saber a que ponto ela é consciente de ser
pecado”. Tudo o que sera dito doravante pertence a essa
reduplicagao da dialética quando ela passa da psicologia & exis-
téncia poética em diregdo ao religioso. Primeiro, a psicologia
designava o pecado pela experiéncia da vertigem como queda;
em seguida, ela 0 designava como uma falta, por conseqiéncia,
como um nada. Para a existéncia poética, o pecaco ¢ um estado,
uma condigao, uma maneira de ser; ademais, ela é uma posicao.
Consideremos essas duas novas dimensdes que nao podiam
aparecer em O conceito de anguistia; primeiro porque esse tratado
permanecia puramente psicolégico, depois porque ele se aproxi-
mava do pecado como um salto.
Que o pecado seja um estado, 6 0 que revela o proprio deses-
pero. Nao podemos dizer: a angtistia é pecado; podemos dizer; o
desespero é pecado. Desse modo, 0 conceito de pecado ¢ defini-
tivamente transportado da esfera ética da transgressao a esfera
religiosa da nao-f6; e, podemos também dizer, da esfera onde 0
pecado é carne a esfera onde ele ¢ espirito; é 0 poder da fraqueza
ea fraqueza do desafio. Doravante, o pecado nao é 0 contrario da
virtude, mas da {6. uma possibilidade éntica do homem, e nao
s6 uma categoria moral, segundo a ética kantiana, ou uma falha
intelectual comparavel a ignorancia, segundo a concepcao
socrdtica do mal. Noutras palavras, 0 pecado é nossa maneira
ordindria de ser diante de Deus; é a prdpria existéncia enquanto
5. Ch. op. cite t. 16, p. 233.
7 Kieaxecanno & 0 sa,
falta de totalidade, Hegel identificou a compreensao & negagao ou
melhor & negagao da negacao: 6 aqui que Kierkegaard opde seu
mais vigoroso protesto contra a filosofia, isto 6, contra a filosofia
hegeliana; se compreender é superar, vale dizer, passar além da
negagao, entéo o pecado 6 uma negacao entre outras ¢ o arrepen-
dimento uma mediacao entre outras; assim, negacao, depois, nega-
do da negacao tornam-se, ambas, processos puramente légicos.
Mas entao, se compreendemos somente quando negamos a
negacao, que dizemos e que compreendemos quando dizemos: “O
pecado é posicao!” Bis a resposta de Kierkegaard: “Eu nao faco
outra coisa sendéo manter firmemente a doutrina crista de que 0
pecado é uma posicao — nao como se prestando a concepcao do
entendimento, mas como paradoxo objeto de fé” (p. 90)'.
.. Um paradoxo no qual devemos acreditar. Com essas pala-
vras, Kierkegaard poe a questio do género de linguagem que
convém & existéncia poética: é uma linguagem que deve destruir
© que diz, uma linguagem que se contradiz.a si mesma. Assim
Kierkegaard transfere a antropologia a arma da teologia negativa,
quando ela tentava dizer, pela voz. da contradicao, que Deus
posicao — além do ser, além das determinacdes. Crer e nao com-
preender: ¢ verdade que Kierkegaard nao cita a teologia negativa,
nem a abolicao kantiana do conhecimento em favor da fé, mas a
ignorancia socratica.
Partiremos, na segunda conferéncia’, dessa situacao errante
do discurso filoséfico: uma elucidacao tortuosa da angtistia e do
desespera, uma dialética antidialética visando a uma espécie de
ignorancia socrdtica, a servicgo de uma “exposi¢ao cristéo-psico-
légica para edificar e despertar”.
E nessa situacao do discurso filoséfico que se poe a questac
“Como se pode filosofar apds Kierkegaard?”
6.CL op. cit, t. 16, p. 253.
7. Ver, neste volume, o texto seguinte.
Filosofar apé6s Kierkegaard
(1963)
Quando Kierkegaard comecou a ser conhecido na Alemanha,
gragas a corajosa traducao de Gottsched que parecia uma aposta
perdida; depois na Franga, gragas as admiraveis tradugées de
Tisseau e aos famosos Etudes kierkegaardiennes de Jean Wahl, 0
pensador dinamarqués foi imediatamente revestido da dupla fun-
gao do protesto e do despertar. Quem € ele, hoje em dia, trinta ou
quarenta anos depois dessa entrada na literatura filosdfica e teo-
légica européia?
E preciso reconhecer que temos hoje menos clareza sobre a
significagao filoséfica de Kierkegaard. Pensador de protesto? Mas
contra o qué? Em unissono repetimos, com o préprio Kierkegaard:
contra o sistema, contra Hegel, contra o idealismo alemao. Pen-
sador que desperta? Mas para qué? A onda de Kierkegaard nos
convida a responder: ao existencialismo. Gostaria de me empe-
nhar em levantar dtividas sobre essas duas evidéncias prévias, a
fim de esbocar uma segunda leitura, que foi preparada na prece-
dente meditagao — leitura que seria, talvez, suscetivel de dar um
novo futuro & obra de Kierkegaard, uma vez que a primeira jé
esgotou todas as suas possibilidades.
Comecemas pela primeira dtivis
tencialismo? Com o recuo de alguns decénios, essa classificagio
nao é mais do que uma ilusio, talvez a maneira mais habil de
aprisiond-lo, catalogando-o num género conhecido. Estamos hoje
melhor preparados para concordar que essa familia de filosofias
nao existe; ao mesmo tempo, estamos prontos a devolver a
rkegaard a sua liberdade, nesse ponto. Vemos nele um ances-
Kierkegaard, pai do exis-
Lerrunas 2 — A. REGO Dos mu6soros 30
tral de uma familia na qual Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Heidegger
e Sartre seriam primos. Hoje, a fragmentagao do grupo, se é que
ele existiu nalgum lugar além dos manuais, é evidente: o existen-
ismo, como filosofia comum, nao existe, nem nas suas teses
principais, nem no seu método, nem mesmo nos seus problemas
fundamentais; Gabriel Marcel prefere ser chamado de neo-
-socraitico e Jaspers reafirma solidariedade com a filosofia classica;
a ontologia fundamental de Heidegger desenvolveu-se na diregio
de um pensamento meditante, arcaizante e poético. Quanto a Sartre,
ele considera seu proprio existencialismo como uma ideologia a ser
reinterpretada no quadro do marxismo; esses dois casos extremos
sao indicadores de que é menos esclarecedor, hoje mais do que ha
vinte anos atrés, tomar o existencialismo como uma chave para uma
interpretagao penetrante de Kierkegaard.
Essa primeira duivida é encorajada pela nossa leitura de O
conceito de angistia e de A enfermidade mortal, encontramos ai
um pensador que transpde uma experiéncia viva numa dialética
aguda, que imagina abstratamente estagios da existéncia, mais
construfdos do que vividos, e os elabora por meio de uma dialé-
tica rompida: finito-infinito, possivel-atual, inconsciente-conscien-
te, etc. Ocorreu-nos a suspeita de que essa dialética rompida
pudesse ter mais afinidade com seu melhor inimigo — Hegel —
do que com seus pretensos herdeiros.
Mas essa suspeita 6 imediatamente barrada por uma convie-
cdo aparentemente mais forte: entende-se que Kierkegaard 6 anti:
-hegeliano; ele o diz; ele talvez s6 diga isso; mais ainda, entende-
se que ele inaugura uma nova era de pensamento, depois do idea-
lismo alemao: a era da pés-filosofia; tem-se assim por adquirido
que a filosofia alcancou seu fim com Hegel, que 0 discurso filos6-
fico se completa com e por ele e que, depois de Hegel, algo dife-
rente aparece, que nao é mais discurso. Essa interpretagao do
pensamento moderno é encorajada pela convergéncia dos ata-
ques de Marx, de Nietzsche e de Kierkegaard contra o idealismo.
A protecao do individuo isolado diante de Deus, o niilismo euro-
peu e a transmutagao dos valores, a realizacao da filosofia como
praxis revoluciondria, essas trés grandes tendéncias do pensamen-
to modemo representariam o fim da filosofia, concebida como
discurso total, e 0 comego da pés-filosofia,
a1 Frosorar ards Kiexecaann
Essa associagdo de Kierkegaard com Nietzsche e Marx é mais
esclarecedora do que a sua incorporacao ao pretenso existenciali
mo? Nao estou certo de que esse conceito do fim da filosofia se}
mais claro do que o do existencialismo. Minha divida é dupla: quem
termina a filosofia? Hegel? E certo isso? Quanto a tilogia da pés-
filosofia, ela é realmente exterior e estranha ao idealismo alemao?
Sim, quem termina a filosofia? Admitimos que Kant, Fichte,
Schelling e Hegel formam uma tinica seqiiéncia que alcanga seu
cume na Enciclopédia das ciéncias filosoficas de Hegel; mas essa
pressuposicao ja é uma interpretacao hegeliana do idealismo ale-
mio; esquecemo-nos de que Schelling enterrou Hegel e, se ouso
dizer, bem fundo; negligenciamos toda a riqueza inexplorada de
Fichte e do tltimo Schelling: e, sobretudo, nés nos enganamos so-
bre o proprio Hegel. Talvez, afinal, sejamos vitimas da ma leitura
que Kierkegaard e Marx fizeram dele. Uma nova leitura de
Kierkegaard é, sem duvida, soliddria de uma nova leitura de Fichte,
de Schelling e do proprio Hegel. Mas quero levar mais adiante mi-
nha dtivida relativa ao proprio conceita de acabamento da filosofia
ocidental e sugerir que as pretensas pés-filosofias pertencem a era
filos6fica do idealismo alemao. Heidegger mostrou com alguma ve-
rossimilhanga que Nietzsche realiza uma das aspirag6es do pensa-
mento ocidental; se esse pensamento é animado pela magnificagao
da subjetividade, pelo cumprimento do subjectum como sujeito,
Nietsche realiza essa exigéncia filoséfica do pensamento ocidental.
Se dizemos, ao contrério, com Marx desta vez, aue a filosofia até
agora “considerou 0 mundo sem transformé-lo”, Kierkegaard e
Nietzsche pertencem ainda as filosofias do discurso. Para Nietzsche,
por sua vez, Marx ainda é devotado aos ideais da massa, & mitologia
da ciéncia — “nossa tiltima religi Ultimo rebento do cristia-
nismo e do platonismo. Para o leitor de Kierkegaard, Marx ainda é
um hegeliano, mas por razdes completamente diferentes: na medi-
da em que a dialética da histéria ainda ¢ uma l6gica da realidade,
Marx representa 0 cumprimento do postulado hegeliano de que 0
real é racional ¢ 0 racional real.
Se joguei Schelling contra Hegel, Hegel contra si mesmo,
Niewzsche, Kierkegaard e Marx um contra o outro, foi apenas para
tornar duvidosa a idéia de cumprimento ou de fim da filosofia
ocidental e para libertar a leitura de Kierkegaard desse esquema-
Lerrumas 2 — A aectto Dos m16soros 32
tismo e desse preconceito, Estamos agora prontos para a quest
como filosofar apés Kierkegaard? Nao somos mais constrangidos
a separar seu destino do destino do idealismo alemao e a torna-
lo tributdrio do existencialismo.
Minha resposta comporta trés etapas. Quero primeiro por de
lado os aspectos propriamente irracionais de Kierkegaard. Em
seguida, considerar sua contribuigao a uma critica das possibili-
dades existenciais. Enfim, quero por em relagao essa critica com
0 ideal do discurso filos6fica como sistema.
A “EXCEGAO”
Ha um aspecto de Kierkegaard que nao pode ser continuado
nem pelo fildsofo nem pelo tedlogo. Essa parte é sua existéncia
incomunicavel; mas ha uma parte que pode ser continuada, por-
que pertence a argumentacao filos6fica, & reflexao e & especula-
40; essa parte é representada pelos pseudnimos. Nao se pode
filosofar apés o existente Kierkegaard, mas talvez apés os seus
pseuddnimos na medida em que eles pertencem 4 mesma esfera
filoséfica do idealismo alemao.
Consideremos a primeira face desse paradoxo. De um lado,
Kierkegaard se mantém fora da filosofia e da teologia. A questo
com a qual somos aqui confrontados é a da genialidade, como fonte
nidio-filosdficx da jflosofia. Concedo que 0 campo dessa genialidade
€muito extenso: ele cobre nao s6 0 Kierkegaard real —e desconhe-
cido —, mas também o Kierkegaard mitico criado por seus proprios
relatos. Todos concordam que 0 romance de sua existéncia efetiva
constitui algo de tnico na hist6ria do pensamento: o dandi de Co-
penhague, o estranho noivo de Régine, 0 celibatario com o aguilhao
na came, o insuportavel censor do bispo Mynster, a dolorosa vitima
do Corsério, © agonizante do hospital piblico — nenhum desses
personagens pode ser repetido nem mesmo corretamente compre-
endido. Mas, que existéncia poderia?
Mas o caso de Kierkegaard 6 mais singular ainda: ninguém
como ele conseguiu transportar sua prépria biografia numa espé-
cie de mito pessoal; por sua identificagao com Abraao, com J6,
33, Funosoran ar6s KEnkecaany
com Ahasverus e com outros personagens fantasticos, ele elabo-
rou uma espécie de personalidade ficticia que encobre e dissimu-
la inteiramente sua existéncia real; essa existéncia paética é tao
pouco situada no quadro e na paisagem da comunicagao comum
quanto o personagem de um romance ou, melhor, quanto um
personagem extremo da tragédia shakespeariana. Sim, 0 que é
oferecido e recusado 4 compreensio filoséfica 6 uma figura, um
personagem, criado por suas préprias obras; é um autor, filho de
stias obras, um existente que se tomnou irreal e que assim se sub-
traiu ao dominio de toda disciplina conhecida. Pois ele nao per-
tence sequer a seus préprios “estagios no caminho da vida”; ele
no foi suficientemente Don Juan, nao foi sedutor o bastante para
ser esteta; ele nao conseguiu ser o homem da ética, porque nao teve
profissao para ganhar a vida, porque nao foi esposo nem pai e se
excluiu do programa da ética tracado pelo conselheiro Wilhelm; sua
familia tinha razdo: “Como nao ser melancélico quando se dilapida
desse modo sua prépria fortuna?” Mas, foi ele religioso no sentido
em que ele mesmo fala? O cristianismo que ele pinta é tao extremo
que ninguém pode pratica-lo; 0 pensador subjetivo diante de Deus,
© puro contemporaneo do Cristo, crucificado com Ele, sem Igreja,
sem tradigao, sem culto, esté fora da hist6ria. “Eu sou 0 poeta do
religioso”, diz ele. Penso que se deva levé-lo a sério. Mas que isso
quer dizer? Nao sabemos. Kierkegaard est nalgum lugar, nos inter-
valos dos seus estégios, nos espacos intermediarios, nas passagens,
como um resumo do estagio estético e do estagio religioso que sal-
taria o estagio ético. Ele escapa assim a alternativa que ele mesmo
pos em Ou... ou. Nao se pode encontrar Kierkegaard segundo suas
préprias categorias. Seria preciso conceber a coincidéncia inaudita
da ironia, da melancolia, da pureza de coracao, da retdrica corrosiva
eacrescentar a isso uma ponta de bufonaria, enfim coroar tudo pela
identidade do estetismo religioso e do martirio.
Sim, Kierkegaard é uma “excecdio"; & preciso nao sé repetir,
mas aprofundar essa convicgao, vale dizer, ler Kierkegaard, de-
pois deixé-lo ser o que ele é onde ele esta: fora da filosofia e fora
da teologia. Repito: deixé-lo ser o que ele 6; de nada adianta cor-
rigi-lo, refuté-lo, completa-lo. Ah! diz alguém, se ele tivesse um
pouco mais de senso do perdao e um pouco menos de senso da
culpabilidade; um pouco mais de culpabilidade coletiva e um pou-
Lerrunis 2 — A nEciio pos rixdsoros 34
co mais de sentido eclesial! Ah! diz outro, se ele tivesse um pouco
mais de senso da comunidade, do didlogo! Ah! diz. um terceiro,
acrescentando, se ele tivesse um pouco mais de senso da histéria,
um pouco mais de respeito pela massa e de afeicao pelo povo! Ah!
diz ainda outro, se ele tivesse um pouco mais de simplicidade, de
clareza, de coeréncia! Quem de nés, filésofos, politicos ou tedlo-
gos no murmurou nesse sentido contra Kierkegaard? Todos sen-
tem que tudo isso é ridiculo e vao: corrige-se Otelo ou Cornélia?
ou o gentil Burgués? Nietzsche dizia: “Nao se refuta um som!” O
que nao se refuta, em Kierkegaard, é 0 existente, o existente real,
autor de suas obras, e o existente mitico, filho de suas obras. Nao
refuta Kierkegaard quem o Ié, medita, e em seguida faz a prépria
tarefa, com “o olhar fixo na excegdo”.
Mas o que quer dizer, para o fildsofo, prosseguir sua tarefa
com os olhos fixos na excecao? Penso que é em primeiro lugar
redescobrir a relacdo intima de todo pensamento filos6fico, de
todo trabalho filoséfico, com a nao-filosofia. A excegao
Kierkegaard, 0 génio ret6rico-religioso, 0 dandi mértir ndo cons-
tituem uma situagao tinica. A filosofia sempre tem a ver com a
nao-filosofia, porque a filosofia nao tem objeto préprio. Ela refle-
te sobre a experiéncia, sobre toda experiéncia, sobre o tado da
experiéncia: cientifica, ética, estética, religiosa. A filosofia tem suas
fontes fora de si mesma, Digo suas fontes, nao seu ponto de par-
tida; a filosofia é responsdvel por seu ponto de partida, por seu
método, por seu acabamento; a filosofia busca seu ponto de par-
tida; ela vai para o seu ponto de partida; sobre isso, Pierre
Thévenaz, nosso querido e sempre pranteado Thévenaz, disse
coisas convincentes, decisivas: a filosofia tem seu ponto de parti-
da diante dela. Mas, se ela busca seu ponto de partida, ela recebe
suas fontes; ela dispde de seu ponto de partida, nao dispoe de
suas fontes, vale dizer, do que a revitaliza e instrui pela base. £
assim que compreendo a frase de Karl Jaspers: “N6s que nao so-
mos a excecao, devemos filosofar com o olhar fixo na excecao”.
Kierkegaard, enquanto genialidade estético-religiosa, é uma des-
sas fontes, mas ao mesmo titulo que Stimner, Kafka, Nietzsche,
porquanto 0 préprio Nietzsche deva ser também tratado como
genialidade filos6fica — 0 que o caracteriza tao pouco completa-
mente quanto a Kierkegaard (mas penso aqui no Nietzsche de
35 Fuosoran ards Kienkecaano
Sils-Maria, no Nietzsche que se demite da sua catedra de Bale, no
solitério da Engadine, no autor dos aforismos, no Nietzsche in-
ventado por Zaratustra, no Nietzsche interlocutor de Dionisio
do Crucificado, no Nietzsche mergulhado na loucura, semelhante
nisso ao insultador do bispo e ao martir Kierkegaard). Digo por-
tanto: a filosofia esta em debate com Kierkegaard como com todo
génio nao-filos6fico; sua tarefa propria 6 buscar o principio ou 0
fundamento, a ordem ou a coeréncia, a significacao da verdade e
da realidade; sua tarefa € reflexiva e especulativa.
Esta é a primeira resposta; mas todos sentem que essa ma-
neira de reconhecer 0 genio estético-religioso de Kierkegaard é
também uma maneira de exilé-lo para fora da filosofia. Todos
sentem que Kierkegaard nao é — ou nao 6 apenas — 0 nao-fil6-
sofo. Kierkegaard nos embaraga porque se mantém, relativamen-
te a filosofia, ao mesmo tempo do lado de fora e dentro.
A CRITICA DAS POSSIBILIDADES EXISTENCIAIS
Kierkegaard entrou por conta prépria no ambito da filosofia
e da dogmatica crista; isso torna mais desconfortavel, mais insu-
portavel a relagdo que temos com ele. O que devemos considerar
agora nao ¢ mais a sua genialidade — real ou ficticia, biografica
ou mitica, a do Didrio ea da transposicao postica da sua expe-
riéncia viva —, mas sua argumentacdo. J4 fomos conduzidos a
essa face inversa da questo kierkegaardiana pelo enigma dos
pseudénimos; se Kierkegaard se mantém de fora da filosofia,
Contantin Contantius, Johannes de Silentio, Virgilius Haufniensis
—nomes alegados de Soren Kierkegaard — sio autores filoséfi-
cos. Ora, o problema dos pseudGnimos ¢ 0 da comunicagao indi-
reta; esta, por sua vez, repousa sobre um modo proprio de argu-
mentagaio. Nao podemos, portanto, nos limitar a reconhecer em
Kierkegaard a excecao, e depois despedi-lo sob o pretexto de que
ele 6 a excegao genial; ele proprio exige ser um dos nossos por seu
terrivel poder de argumentagdo. Somos novamente confrontados
com uma questio que tivemos de deixar sem resposta acima:
Kierkegaard, dizfamos, nao s6 argumenta, mas elabora conceito:
conceito da angtistia, conceito do desespero, conceito do pecado,
Lerruras 2 — A REiAo bos F1L6s0r0s 36
conceito de posigdo. Ele sequer se limita a edificar conceitos; ele
constr6i, ademais, sobre o préprio terreno da dialética hegeliana,
uma antidialética feita de oposigdes nao resolvidas, que ele chama
de paradoxos; ora, o paradoxo ainda é uma estrutura légica, a que
convém ao tipo de demonstracao requerida pela problemética do
existente, do individuo diante de Deus. Seria preciso considerar aqui
amais extraordindria obra de Kierkegaard, o Post-scriptum ndo-cien-
tifica as “Migalhas filoséficas’. Aqui temos desenvolvimento de
toda uma rede de categorias: a eternidade e o instante, o individu,
© existente, a escolha, 0 tinico, a subjetividade, o estar diante de
Deus, 0 absurdo, Nao se trata mais da ndo-filosofia, mas da hiper-
filosofia, até o extremo da caricatura e da derrisao. Contudo, é nesse
nivel, o das categorias do existente, que se poe o problema decisivo,
que é 0 da légica do discurso kierkegaardiano.
Ora, esse problema nao pode se encarado de frente sem uma
total reavaliacdo das relacdes ente Kierkegaard e 0 idealismo ale-
mao. A segunda leitura de Kierkegaard é necessariamente também
uma segunda leitura do idealismo alemao. Porém, essa leitura re-
quer primeiramente que seja deslindada a aparente légica da se-
qiéncia “de Kant a Hegel”, para lembrar o titulo do grande livro de
Kroner. Farei algumas sugest6es visando a essa segunda leitura.
Em certo sentido, Kierkegaard j4 pertence ao movimento ge-
ral da filosofia alema, depois de 1840, que foi chamado de “o
retorno a Kant”. A frase que citamos no primeiro estuda: “O pa-
radoxo requer a fé, nao a compreensao”, remete inegavelmente &
famosa sentenca de Kant: “Eu tive de abolir o saber para dar lugar
afé”. O campo de compreensio deve ser ampliado: a funcao filo-
séfica do paradoxo, em Kierkegaard, é proxima da funcao filos6-
fica do limite em Kant; pade-se mesmo dizer que a dialética rom-
pida de Kierkegaard tem alguma afinidade com a dialética
kantiana, compreendida como critica da ilus4o. Nos dois casos, 6
por meio de um discurso rompido que o essencial deve ser dito,
Assim hé algo, em Kierkegaard, que nao pode ser dito sem um
pano de fundo kantiano e algo, em Kant, que s6 adquire seu sen-
tido por meio da luta kierkegaardiana com 0 paradoxo.
Concedo que esse confronto com Kant & menos satisfatério
do que todos 0s confrontos que vamos considerar; 6 s6 numa
37 Fuosoran aos Kiercecaano
perspectiva filos6fica na qual a tinica alternativa seria entre Kant
e Hegel que esse parentesco se impde. Em ultima andlise,
Kierkegaard nao é um pensador critico no sentido kantiano da
palavra: as questdes sobre as condigdes de possibilidade nao Ihe
interessam, pelo menos enquanto problema epistemolégico. Mas
nao se pode dizer que suas categorias da existéncia constituam
um novo tipo de critica, uma critica da existéncia, e que elas re-
metam a possibilidade de falar da existéncia? Ser um existente
nao é, de modo algum, uma experiéncia mistica que condena ao
silencio; Kierkegaard nao 6, absolutamente, um intuicionista; é
um pensador reflexivo. Para estabelecer um parentesco mais pro-
fundo entre Kierkegaard e Kant ¢ preciso ultrapassar uma segun-
da oposi¢ao, que concerme precisamente & estrutura da reflexao;
areflexdo kantiana obedece a um modelo preciso, fundado sobre
a dissociagio, no proprio interior da experiencia, entre 0 @ priori
€ 0 a posteriori; esse formalismo tem, talvez, um sentido e uma
fungao no campo da experiéncia fisica; ndo quero discutir esse
ponto aqui; mas sua transposicao do dominio da fisica ao da ética
6, talvez, a chave de todos os fracassos da filosofia pratica de Kant:
essa filosofia pratica se constréi sobre o modelo da filosofia teé-
rica e remete o problema critico da agao a formalizacao do impe-
rativo. Assim, nao poderiamos dizer que as categorias
kierkegaardianas da existéncia constituem uma resposta aos pro-
blemas da Razao pratica levados a um impasse por Kant? As cate-
gorias da existéncia sao para a ética o que as categorias da objetivi-
dade so para a fisica. Elas so as condigbes de passibilidade de uma
experiéncia, nao da experiéncia fisica ou de uma experiéncia para-
lela & experiéncia fisica, mas de uma experiéncia fundamental, a da
realizagao de nosso desejo e de nosso esforco em vista de ser.
Ora, essa libertagao da razao pratica da canga do formalismo
nos leva de Kant a Fichte. Como disse no inicio, Fichte e Schelling
sao os pensadores mais desconhecidos desse periodo e, também,
0s mais constantemente pilhados. Tudo o que € sdlido e valido na
filosofia moderna e que nao vem nem de Kant nem de Hegel foi
-engendrado por Fichte e por Schelling. Estou convencido de que
irigida a Fichte e a Schelling poderia renovar
nossa leitura de Kierkegaard. Dou apenas duas amostras dessa
Jeitura renovada; como se sabe, Fichte opde a Tathandlung &
Lerrunas 2 — A REciio Dos ETLOsOFOs 38
Tatsache, o ato ao fato. Essa distingao entre ato e fato fornece 0
solo filoséfico para toda teoria da aco, para toda ética que nao se
reduza a uma simples teoria do dever. A tarefa de uma filosofia da
existéncia seria, entdo, elaborar as condigdes de possibilidade e
as condigées de realizacao desse ato de existir. Nao digo que todo
Kierkegaard esteja implicado nessa problematica fichtiana, digo
apenas que a estrutura da problematica fichtiana determina 0
campo, 0 solo no qual e sobre o qual a experiéncia kierkegaardiana
pode ser dita. Nao é a experiéncia kierkegaardiana como tal que
esta em questdo aqui, mas 0 discurso kierkegaardiano que encon-
tra aqui o instrumento filos6fico da sua comunicacao.
Vamos mais longe, com uma segunda observacdo que néo
concere apenas a Fichte, mas também a Schelling. Estamos dema-
siado habituados a considerar 0 idealismo, 0 idealismo alemao, como
um_puro jogo de abstragdes. Ora, 0 grande problema do “idealis-
mo” foi, a0 contrério, o problema da realidade. O idealismo signiti-
ca, primeiro e radicalmente, que a distingao entre ideal ¢ real é, ela
mesma, puramente ideal, Com a tiltima filosofia de Schelling, a
finitude humana, enquanto dotada de uma estrutura prépria, tor-
na-se irredutivel & limitagéo de um objeto por outro, e a conexio
entre finitude, liberdade e mal recebe uma significagao filosGfica
propria. O problema nao é mais s6 emocional, patético, vale dizer,
poético: é 0 problema filos6fico da realidade finita.
Tais so as trés estruturas filos6ficas, recebidas de Kant, de
Fichte ¢ de Schelling, que dao ao discurso kierkegaardiano sua
dimensao filos6fica: primeiro, a idéia kantiana de uma critica da
Razao pratica distinta de uma critica da experiéncia fisica.
Em seguida, a distingdo fichtiana entre ato e fato, assim como
a definicao de uma filosofia pratica pelas condicaes de possibili-
dade e de realizacao do ato de existir.
Enfim, a problematica schellinguiana da realidade finita, e
mais precisamente a conexao entre finitude, liberdade e mal.
Parece-me, pois, que filosofar apds Kierkegaard 6, a0 mesmo
tempo, voltar atras de Kierkegaard, na direcao dessa triplice pro-
blematica, liberté-La do jugo hegeliano e mostrar que ela s6 rea-
liza seu sentido — ou, pelo menos, um dos seus sentidas — na
experiéncia viva de Kierkegaard.
39 Fuosoran ards Kisnwecaano
CRITICA E SISTEMA APOS KIERKEGAARD
Agora estamos prontos para um ultimo confronto: 0 con-
fronto no qual se reflete, para nés, 0 conflito, dramatico, existen-
cial, que opde totalmente Kierkegaard a Hegel. Esse tiltimo con-
fronto nos conduz a nosso ponto de partida. Partimos de uma
oposicao simples e ingénua entre Kierkegaard e Hegel. Essa opo-
sigdo no pode ser contestada.
Nao se trata de atenud-la, mas de pensd-la como uma opo-
sigdo significante, Essa oposicao faz parte da compreensao de
Kierkegaard. Ela significa que Kierkegaard, decididamente, nao
pode ser compreendido sem Hegel. O fato de ser impensdvel sem
Hegel nao é apenas um trago biogrifico, um encontro fortuito,
mas uma estrutura constitutiva do pensamento kierkegaardiano.
Compreender corretamente essa situagao paradoxal 6 a condicao
Ultima de uma nova leitura de Kierkegaard.
Partamos do que diz — ou poderia dizer — o pensador
hegeliano sobre Kierkegaard: segundo ele, o discurso kierkegaar-
diano é apenas uma parte do diseurso hegeliano; é até mesmo
possivel situd-lo com grande precisdo no sistema: é 0 discurso da
“consciéncia infeliz”; seu lugar, seu lugar légico nao se encontra
nem sequer no final, mas no inicio da Fenomenologia do espirito;
a prova de que Kierkegaard est inclufdo no sistema € fornecida
pelo proprio discurso kierkegaardiano: como ele perdeu a chave
de uma dialética auténtica, que seria 0 préprio movimento dos
contetidos, a propria superacao desses contetidos pela contradi-
cdo e pela mediacao, Kierkegaard esta condenado a substituir essa
dialética auténtica por um jogo artificial de paradoxos, por uma
dialética rompida que permanece ret6rica do pathos, ocultada por
uma didatica laboriosa. Assim considerado, Kierkegaard é apenas
© parasita do sistema, que a cada passo 0 recusa e inventa um
simulacro derris6rio dele.
O pensador kierkegaardiano deve aceitar essa réplica hegeliana
como suscetivel de ter um sentido. Ser o “buffio”, 0 “traidor” da
filosofia, também isso pertence 4 vocacdo de Kierkegaard. S6 0
homem que tem a coragem de assumir esse papel pode se chamar
asi mesmo de pensador existencial e escrever algo como um “post-
Lerrunas 2 — A Recto Dos FiLdsoros 40
scriptum definitivo e nao-cientifico as Migalhas filaséficas". O pr6-
prio titulo indica que a derrisdo pertence a estrutura do discurso
kierkegaardiano; essa é a razo pela qual o destino desse discurso
nao pode ser separado do destino da filosofia hegeliana.
Mas essa ligacao através da derrisio 6 0 sinal de uma relacao
ainda mais intima que s6 pode ser discernida por meio de uma
segunda leitura do proprio Hegel. A alegagao do pensador
hegeliano segundo a qual Kierkegaard ou é excluido do sistema
por seu proprio discurso, enquanto desprovido de sentido, ou in-
cluido nele a titulo de discurso parcial — digamos, 0 da “conscién-
cia infeliz” — pressupde a existéncia do sistema. Ora, devemos
redescobrir que a possibilidade do sistema é, a0 mesmo tempo, uma
Pressuposicao e uma questo para o proprio Hegel. A verdade da
oposicao entre Kierkegaard e Hegel nao pode ser entendida sem
que © sistema seja posto em questao pelo préprio Hegel.
Assim, Kierkegaard e Hegel devem ser postos em questo
juntos e um pelo outro. Consideremos apenas trés pontos criticos
que resultam desse mtituo estremecimento.
1. A Fenomenologia do espirito serviu-nos para por em ques-
tao o préprio sentido do empreendimento de Kierkegaard. Mas
qual é, por sua vez, a situagao real da Fenomenologia do espirito
no sistema total? Nao podemos nos contentar em dizer que ela €
uma propedéutica a légica; ndo existe uma secreta discordancia
entre uma hist6ria exemplar do espirito e uma logica do absolu-
to? A prodigiosa riqueza dessa histéria, que constitui por assim
dizer o gigantesco romance da humanidade, nao excede a toda
recapitulagao pelo sistema?
Em favor desse mtituo pér-se em questo, no préprio nivel
da “consciéncia infeliz”, um curioso parentesco se desenha entre
Kierkegaard ¢ o Hegel da Fenomenologia do espirito: nao esto
eles do mesmo lado, contra toda espécie de racionalismo rasteiro,
contra a Aufkldérung? A \uta entre Hegel e Kierkegaard aparece
assim sob nova luz. Kierkegaard nao é nem incluido nem exclui-
do pelo sistema, que permanece uma questo em si mesmo;
coniflito entre duas espécies de dialética levanta uma questao para
cada uma: uma dialética rompida pode ser pensdvel sem uma
filosofia da mediacao? Uma filosofia da mediagao pode ser conclu-
al Firosoran ands Kisreecaan
siva? Desse modo, a oposicao entre a dialética hegeliana e a dia-
lética kierkegaardiana torna-se, ela mesma, uma figura dialética
que exige ser compreendida em si mesma e que exige a constitui-
ao de uma nova estrutura do discurso filoséfico.
Se aceitamos essa interpretagao geral da relacao entre Hegel
e Kierkegaard como uma oposigao que deve se tornar, ela mes-
ma, um momento do discurso filos6fico, talvez seja possivel des-
cobrir uma significacao mais profunda, ao mesmo tempo de Hegel
¢ de Kierkegaard, sobre dois outros pontos fundamentais: 0 da
critica da ética e 0 da significagao da f¢ religiosa,
2. Insisto inicialmente sobre o primeiro ponto que poderia ser
omitido ou desconhecido: a situagao paradoxal consiste no fato de
que se encontra, em Hegel e em Kierkegaard, uma critica do estagio
6tico da exist@ncia. Mas se o kantismo, considerado em conjunto,
representa para Hegel a “visio ética do mundo”, o hegelianismo,
por sua vez, representa para Kierkegaard o “estagio ético da existén-
cia”, Esse encontro e esse desconhecimento so plenos de sentido.
Hegel responde: é a oposigao entre o ideal ¢ o real, a difama-
do do real em nome do ideal, e, em tiltima anélise, toda posigao
de transcendéncia exilada da realidade razodvel; é essa transcen-
déncia que torna possivel a consciéncia julgadora, a consciéncia
que disciimine e cadens. Pare Hegel, conseqilentemente, toda
filosofia que recorre & oposicao entre o céu e a terra, entre Deus
eo mundo, entre transcendéncia e imanéncia ¢ ainda uma visio
ética do mundo e deve ser superada: nesse sentido, o “diante de
Deus” de Kierkegaard procede ainda da visio ética do mundo e
deve ser superado; o pensador hegeliano acrescentaré a essa cri-
lica um reconhecimento: se Kierkegaard supera sua préptia visio
ética do mundo, € porque introduz uma nova idéia, a de
contemporaneidade entre aquele que cré e o Cristo; mas é uma
relagao postica que poe em curto-circuito 0 discurso; ela s6 po-
deria se pensada como interiorizacao do “diante de Deus” pela
qual a filosofia da transcendéncia é superada numa filosofia do
amor; mas se esta tiltima pode ainda ser dita, ela deve também
ser pensada. Como ela poderia sé-lo senao nas categorias que
Lerrunas 2 — A ncito pos ridsoros 42.
atestam o triunfo da religido do Espirito sobre a religiaa do Pai,
pela mediacao da morte do Filho? Ora, esse 6, exatamente, o tema
da filosofia hegeliana da religido. Tal ¢ a leitura hegeliana de
Kierkegaard, que deve ser aceita pelo pensador kierkegaardiano,
do mesmo modo que ele teve de aceitar a sua propria inclusio na
Fenomenologia do espirita sob 0 titulo da “Consciéncia infeliz”.
Mas essa segunda critica e essa segunda tentativa de incluir
Kierkegaard sao tao pouco decisivas quanto as primeiras. £ preci-
so ouvir aqui a critica kierkegaardiana do estagio ético, a fim de
compreender o proprio Hegel: Hegel permanece no estagio ético,
porque reduz o individuo ao geral, o pensador subjetivo ao pen-
samento objetivo impessoal. A principal proposicao de toda a fi-
losofia hegeliana — “o racional ¢ real, o real ¢ racional” —, ressoa
como a prescrigao de todo pensamento ético que reduz o indi
dual ao geral. Ora, essa proposigao exprime a omissdo hipécrita
do existente Hegel ou sua assuncao delirante ao nivel do espirito.
Penso que essa oposicao entre Hegel e Kierkegaard deve ser
introduzida como tal no discurso filoséfico. De um lado, a distan-
cia entre o totalmente outro e 0 homem nao pode ser pensada
sem a idéia de uma relagdo inclusiva que poe fim a idéia de pura
transcendéncia; quando se fala de transcendéncia, pensa-se numa
totalidade que envolve a relacao entre o Outro e eu mesmo; nesse
sentido, a idéia de transcendéncia se suprime a si propria. Hegel
terd sempre razao contra toda pretensao de pensar a distancia
infinita entre o absolutamente outro e o homem; nesse sentido
também, toda visdo ética se nega a si mesma a partir do momen-
to em que tenta se enunciar. De outro lado, esse ponto de vista
sem ponto de vista de onde se veria a identidade profunda entre
© reat eo racional, o existente e o significante, o individuo e 0
discurso nao se encontra em parte alguma. E preciso sempre, com
Kierkegaard, voltar a esse reconhecimento: eu nao sou o discurso
absoluto; existir é nao saber, no sentido forte do termo; a singu-
laridade renasce sempre a margem do discurso. £, portanto, ne-
cessdrio outro discurso que o leve em conta e que o diga.
3. Uma nova fase da mesma luta se declara a propésito do
problema da fé religiosa. Para Hegel, a religido ¢ apenas uma in-
trodugao a filosofia, concebida como saber absoluto. Para
Kierkegaard, ndo existe além da fé, pois ela é a resposta, de Deus,
43. Finosoras anos KIERKEGAARD
por meio da graga, ao mal do qual nao existe ciéncia; a oposigao
parece, pois, total. Mas, estamos seguros de que essa oposiga0
seja uma alternativa? Nao devemos tomar como um todo as duas
filosofias opostas da religiao? Nao é mais no nivel da “consciéncia
infeliz” que devemos nos manter, mas no nivel do cap. VII da Feno-
menologia do espirito, que contém a verdadeira filosofia da religiao
de Hegel e que nao mudou nada até as Licdes sobre a filosofia da
religido de 1820-1821. Esse capitulo pe um problema que ilumina
Kierkegaard e que ¢ iluminado por Kierkegaard: 0 problema da lin-
guagem religiosa e, em geral, o da representagao. Em certo sentido,
a religido nao pode ser transcendida — pelo menos a que Hegel
chama de a verdadeira religiao ou religido revelada — porque ela 6,
a0 mesmo tempo, a agonia da representacao ¢ a representagao da
agonia, no limiar do saber absoluto. Mas esse saber absoluto nao é
© nosso; s6 podemos dizer 0 seguinte: existe 0 saber absoluto; eis
porque a representagao é, ao mesmo tempo, superada e mantida.
Assim, a religido nao poderia ser abolida por algo exterior a ela; dela
6 exigido viver sua propria agonia e compreender seu sentido como
sendo o da sua prépria supressdo. Mas ela €, precisamente, essa
supressdo, essa morte dos idolos, das figuras, das representagoes,
essa morte de Deus que ela deve viver e pensar como sua propria
verdade, na comunidade religiosa ¢ no culto
Alcangamos assim 0 ponto no qual a oposigio entre a siste~
ma hegeliano e o pensador subjetivo e passional tornou-se plena-
mente significante. A prépria relacdo entre Hegel e Kierkegaard
tornou-se um paradoxo; a razio desse paradoxo reside na fungao
filoséfica da idéia de sistema; talvez tenhamos descoberto ou
redescoberto que o sistema é, ao mesmo tempo, a exigéncia tilti-
ma da filosofia e sua meta inacessivel. A religido é esse lugar do
discurso filoséfico onde a necessidade de transcender as imagens,
as representagGes e os simbolos pode ser contemplada, ao mes-
mo tempo que a impossibilidade de desfazer-se delas. E aqui “o
lugar” onde Hegel e Kierkegaard lutam um com 0 outro; mas essa
luta faz, doravante, parte do discurso filos6fico.
Gostaria agora de reunir as respostas parciais que sucessiva-
mente dei a questao: “Como se pode filosofar apés Kierkegaard?”
Primeiramente, a filosofia est4 sempre em relacdo com a ndo-
filosofia. Nesse sentido, o lado irracional da experiéncia de
Lerruras 2 — A REGiAO Dos FILOsoras 44
Kierkegaard é uma fonte da filosofia ao mesmo titulo que toda
genialidade. Se cortarmos o lago vital entre filosofia e nao-filoso-
fia, a filosofia corre o risco de nao ser mais que um simples jogo
de palavras e, no limite, um puro niilismo lingiifstico.
Em segundo lugar, Kierkegaard nao é s6 0 génio romantico,
0 individuo, o pensador apaixonado; ele inaugura uma nova ma-
neira de filosofar que chamamos de critica das possibilidades exis-
tenciais. Esse discurso sobre a existéncia néo 6 mais a expressio
poética de uma emogao, é um género de pensamento conceitual
que possui suas préprias regras de rigor, seu proprio tipo de
coeréncia e que exige uma l6gica propria. Poderiamos dizer, ser-
vindo-nos de um termo heideggeriano, que o problema € passar
do existencial ao existéntico, da decisao pessoal a estruturas an-
tropolégicas. A elaboragao desse discurso requer a leitura con-
junta de Kierkeggard e do idealismo alemao. Nesse sentido,
Kierkegaard realiza a exigéncia kantiana da filosofia pratica, dis-
tinta da critica da experiéncia fisica; ao mesmo tempo, sua and-
lise existencial encontra seu solo filoséfico, primeiro na distingdo
fichtiana de ato e fato (do ato de existir e dos fatos existentes), em
segundo lugar, na filosofia schellinguiana da realidade, que foi a
primeira a unir os problemas da finitude, da liberdade e do mal.
Em terceiro lugar, voltamos, para concluir, ao problema ini-
cial da oposigao entre o individuo e o sistema; esse conflito pare-
ceu-nos ser algo totalmente diferente de uma alternativa diante
da qual estarfamos condenados a escolher. Uma nova situacao
filos6fica procede desse conflito e nos convida, de um lado, a
reler a Fenomenologia do espirito e a Filosofia da religiao de Hegel
a luz da dialética kierkegaardiana e, de outro lado, a situar os
paradoxos de Kierkegaard no campo da filosofia hegeliana da
“representagao” e do saber absoluto.
Que essas respostas parciais possam nos impedir de ceder A
desastrosa alternativa entre o racionalismo e o existencialismo. A
ciéncia nao é tudo. Mas, além da ciéncia, ida existe 0 pensa-
mento. A questao da existéncia humana ndo significa a morte da
linguagem e da logica; ao contrario, ela requer um acréscimo de
lucidez e de rigor. A questao: “Que é existir?” nao pode ser sepa-
rada dessa outra questao: “Que 6 pensar?” A filosofia vive da
unidade dessas duas quest6es e morre da sua separacao.
Entre GasBricL MarceEL
E JEAN WAHL
Reflexado primeira e reflexao
segunda em Gabriel Marcel
(1984)
‘A Sociedade Francesa de Filosofia desejou comemorar publi-
camente o décimo aniversdrio da morte de Gabriel Marcel e con-
fiou-me o encargo de evocar esta noite alguns tracos maiores do
pensamento daquele que foi um dos meus mestres, e por quem
guardei um reconhecimento que nao se apagou no curso dos anos
ou, melhor dizendo, dos decénios.
© ponto de partida da minha contribuigao foi o seguinte:
observei 0 quanto ¢ facil transformar em férmulas feitas e exan-
gues 0 que foi para Gabriel Marcel o objeto de dura conquista e
de uma pesquisa indefinidamente retomada e jamais satisfeita
consigo mesma. Assim, expressdes tais como: fidelidade, Tu su-
ptemo, desespero, traicao, mundo rompido, ser e ter, recusa e
invacagao, problema e mistério etc., flutuam em torno da mem6-
ria de Gabriel Marcel como emblemas de um passado morto. Meu
problema consiste em reavivar o espirito de exploracao, em res-
tituir o estilo de itinerancia que esses termos embalsamados
ameagam ocultar. Como digo na minha “Ementa”, quero refletir
sobre os aspectos da obra de Gabriel Marcel que fazem, ao con-
trério do seu autor, “um pensador dificil, incbmodo, rebelde as
repetigdes edificantes”. Para fazer isso, propus-me a acompanhar
as pesquisas que conduzem de uma critica da reflexdo primeira &
elaboracao fragmentaria e precaria de uma nova espécie de refle-
xo, chamada de segunda, constitutiva do momento propriamen-
te filoséfico do pensamento marceliano, Numerosos textos de
Gabriel Marcel atestam que esse tema da reflexdo segunda tomou
Lerrunas 2 — A REGiMO Dos FiLOsoFos 48
o lugar da dialética aguda ¢ laboriosa do Journal métaphysique',
sustentada entre 1913 e 1914. Nao hé sequer um tema do pensa-
mento de Marcel que nao seja conquistado a partir de um primei-
ro movimento reflexivo, no qual ele discerne um obstéculo, um
principio de ocultamento, opostos a descoberta das experiéncias
fundadoras, que por sua vez opdem uma resisténcia a resisténcia.
Dai resulta que essas experiéncias fundadoras néo podem se trans-
formar em posse tranqilila; elas nem sequer podem, de inicio,
encontrar uma linguagem adequada, tanto os conceitos usuais ¢
as palavras da nossa filosofia permanecem tributarias da reflexdo
primeira. S6 um labor de pensamento que sera, ao mesmo tem-
po, um trabalho de linguagem poder, mediante uma acumula-
Gao de retificagdes, sugerir o conceito aproximado, a palavra
menos inadequada, que restituiré o equivalente reflexivo das ex-
periéncias fundadoras. A reflexdo segunda, chamada algumas
verzes de reflexao recuperadora, nao ¢ sendo esse trabalho de re-
tificagao, no nivel dos conceitos e das palavras, pelo qual o pen-
samento tenta se igualar ao que eu chamo na minha “Ementa” de
os micleos de irredutibilidade, constitutivos das experiéncias fun-
dadoras. Esse ritmo de pulsacdo, que faz altemar a marcagao dos
obstaculos opostos a experiéncia viva, o acolhimento dessa expe-
riéncia (ou, como se diré adiante, dessas experiéncias cardeais), 0
trabalho do conceito e da linguagem suscitado pela restituigao
reflexiva dessas experiéncias, definem o estilo de pesquisa as ve-
zes tao desnorteante de Gabriel Marcel.
Porque o pensamento é imantado pelas experiéncias consi-
deradas irredutiveis ele ¢ afirmativo, no sentido de que Jean Nabert
falava de afirmacao originéria; mas, porque essa afirmacao s6 pode
ser captada novamente no trabalho de conceitos e de palavras da
reflexao segunda, esse pensamento nao é dogmatico. Inversamen-
te, na medida em que a reflexao segunda procede por intermédio
de uma retificagao sem fim do discurso, esse pensamento é um
pensamento exploratério, um neo-socratismo, como Gabriel
Marcel aceitou chamé-lo; mas, porque a pesquisa é garantida por
experiéncias maiores, nao se trata de um pensamento interrogativo,
no sentido forte dado a esse termo pela prezada Jeanne Delhomme,
1. Paris, Gallimard, 1927.
49 REFLEXAO PRIMEIRA E REFLEXO SEGUNDA EM GaBmiet, MARCEL,
que partilhou nossos primeiros encontros com Gabriel Marcel, ¢
que, se ela se distanciou do nosso mestre, jamais rompeu com
ele, Acrescentarei ainda, antecipando o que sera meu tiltimo pon-
to, se o pensamento de Gabriel Marcel se anuncia a si mesmo
como um pensamento do mistério, esse termo, segundo uma
amivel observacao do autor, nao equivale a etiqueta: proibido
tocar! Ele assinala, antes, o convite a pensar mais, como diz Kant
a respeito do simbolo na Critica da faculdade de julgar, sensivel
a0 mistério, direi conseqiientemente, esse pensamento ¢ rebelde
ao hermetismo. Para acabar de caracterizar esse estilo de investi-
gacdo, gostaria de dizer que o que mais horrorizava Gabriel Marcel
€ que ele chamava de o espirito de sistema ou, mais geralmente,
© espirito de abstracao — do qual ele me acusava as vezes amiga-
velmente —, jamais caucionou nele um laxismo da reflexao ¢ da
expressao. A lembranga mais viva que conservo das reuniées de
trabalho, que ele generosamente dirigia em sua casa em beneficio
de estudantes como nés, depois, de jovens e de menos jovens
pesquisadores, é a de um tom de pesquisa marcado pela preocu-
pacdo com o exemplo tépico, com a explicagao rigorosa, com a
expressao precisa e justa. Concedo de bom grado que esse estilo
singular de pensamento e de escrita nao pode encontrar melhor
‘medium de expresso do que o jornal e o ensaio breve ou longo.
Mesmo 0s livros nos quais se recolhem esses artigos nao carecem
nem de articulagao nem de progressao regrada. Mas essa forma
literdria ndo deve ser atribuida a um pensamento relapso, ¢ sim a
esse estilo de investigacao que resumo como segue na minha “Emen-
“Um pensamento afirmativo; mas nao dogmiatico; sensivel ao
mistério, mas rebelde ao hermetismo; hostil ao espirito de abstra-
40 e de sistema, mas preocupado com a precisao”.
Dito isso, gostaria de insistir em seguida sobre o que chamarei
com um termo geral de cardter nao-coordendvel tanto dos dominios
nos quais se exerce a reflexao primeira quanto dos niicleos de
irredutibilidade constitutivos das experiéncias que afiancam a in-
vestigacao e que, segundo uma expressao usada acima e tomada de
empréstimo ao proprio Gabriel Marcel, resistem a resistencia. Esse
carditer descontinuo do front filosdfico pareceu-me, na tltima releitura
que acabo de fazer da obra de Gabriel Marcel, como uma das cha-
ves do caréter ndo-sistemdtico que tanto aproxima 0 pensamento
de Gabriel Marcel ao de seu amigo Jean Wahl.
Lerrunas 2 — A neciso os m16soros 50
Chamou-me a atengao, em primeiro lugar, o fato de que a
delimitagao das resisténcias da reflexdo primeira, que se desen-
volve ao longo de todos os escritos de Gabriel Marcel e que é
coextensivo do reconhecimento das experiéncias-micleo, se faz
por uma série de sondagens bem distintas: nesse sentido, poder-
se-ia falar tanto de nticleos de resisténcia da reflexio primeira
quanto de nticleos de irredutibilidade da experiéncia fundadora.
Existe uma espécie de afinidade e de conivéncia entre esses ni-
cleos — e direi algo sobre isso ao falar das experiéncias-passare-
las —, mas o espirito de preciso do qual falava acima exige que
se as circunscreva pacientemente.
Desde o primeiro Journal méthaphysique, vé-se o complexo
aparelho dialético do primeiro modo de Gabriel Marcel gravitar
em tomno a dois pélos distintos: de um lado, o sentir, a sensacao,
considerada a pedra de toque do indubitavel, e, de outro lado, a
‘fé que situa o movimento de confianga além da opiniao revogével,
da simples crenga. Duas espécies de desenraizamento — que eu
chamo de nao-coordendveis — se desenham: a primeira é um
arrebatamento a existéncia, pelo qual responde a hipéstase da
objetividade; a segunda é uma cegueira ao ser, da qual ¢ responsé-
vel a redugdo ao utensilio, a funcdo, & tecnicidade do manipulével.
‘Ve-se assim eristalizar-se sucessivamente uma temética da existén-
cia, resistente a resisténcia da objetividade, depois uma tematica do
ser e do mistério ontol6gico, oposta a universal pretensao de gerar
© problematico ou, melhor, 0 problematizdvel. Os dois ensaios
intitulados Existence et objectivité e Position et approches concrétes
du mystere ontologique testemunham essa polaridade inicial da me-
ditagdo marceliana: na minha “Ementa”, adio até o meu terceiro
ponto a questo da possibilidade de se estabilizar numa dialética
ascendente de cardter linear um movimento que iria de urn indubi-
tavel em certo sentido horizontal, ligado ao sentir e a encamacao,
que depois passaria pelo reconhecimento do tu humano na invoca-
do e na fidelidade, para se elevar enfim a um irredutivel vertical,
que seria o mistério ontoldgico. Se descarto como demasiado
‘esquemitica essa figuragao linear do itinerdrio de Gabriel Marcel é
porque nem os focos de resisténcia da reflexdo primeira nem as
experiéncias nodais que afiancam a pesquisa me parecem consti-
tuir um front continuo de progressao.
BL Rerusx\o pRiMERa £ REFLEXMO SEGUNDA ext Gasniet, ManceL
E esse front descontinuo que pretendo explorar em primeiro
lugar, tanto da perspectiva dos pontos de resisténcia da reflexao
primeira como da perspectiva dos nticleos de experiéncia que dao
© que pensar sobre o modo da reflexao segunda.
Escolhi trés pontos de sondagem, para ficar no ambito das
metéforas marcelianas.
ataque contra o Cogito cartesiano constitui uma critica tao
virulenta que, nos Encontros que eu tive a honra de partilhar com
Gabriel Marcel em 1968, ele decidiu temperar um pouco sua cri-
tica. Mas, vindo do idealismo — bradleyano, é verdade —, era
contra 0 ancestral de todos os idealismos modernos, isto é, contra
Descartes, que Marcel devia se levantar em primeiro lugar: um
Descartes lido através de Kant e do neocriticismo de Brunschvicg,
para quem o “Eu penso” seria o sujeito transcendental senhor de
todo sentido e 0 suporte de toda objetividade. Conhecemos a
famosa f6rmula sobre 0 Cogito, guardiao do “limiar do valido”.
Essa avaliagao negativa conclui um longo movimento de pensa-
mento iniciado na segunda parte do Journal methaphysique, pen-
samento segundo 0 qual 0 objeto é uma espécie de ausente, a
flanco de um didlogo que desenvolvo com alguém que sou eu
mesmo. Ora, 0 que a posigao de objetividade esvazia é a indubi-
tavel certeza da existéncia atestada pela sensagao. A critica se faz
aqui critica da critica, no sentido de criticismo; ela denuncia em
todo idealismo 0 desejo de anular o sentir e a existéncia. Mas
preciso acrescentar ogo em seguida que essa critica da critica
nao é nunca adquirida, tao complexas sio as ramificagées do
idealismo. De certo modo, nao se acaba com a relacao sujeito-
objeto, como nos ensina alhures Heidegger. £ preciso desmante-
lar por suas duas faces 0 bloco do Cogito-cogitatum. Do lado do
-objeto, é preciso reconquistar a primazia do sentir; do lado do
sujeito, a da encarnagao. De fato, Gabriel Marcel comecou pela
apologia do sentir, antes de perceber que uma filosofia do sentir
era correlata de uma filosofia do corpo proprio. Ora, as resistén-
cias sio muito maiores nesse nivel primitive do que no nivel da
objetividade cientifica ou racional, onde se exercem os prestigios
do valido ou, melhor, da validade. Espontaneamente, construi-
mos a sensacdo como uma mensagem saida de um emissor ¢
captada por um receptor — sendo que o sujeito observa essa rela-
Lerrunas 2 — A necito Dos riLasoros 52
do objetiva em posicéo de sobrevéo, como diria Merleau-Ponty.
Nao menos tenaz.é a tese correlata que faz: do corpo um instrumen-
to que nao prolongaria nenhum 6rgao, mas que seria manipulado
de lugar nenhum por um sujeito desencarnado. Chama a atengao
aqui a correlacao entre uma teoria da sensagiio-mensagem e uma
teoria instrumentalista do corpo. Como se o pensamento objetivante,
desalojado de uma posigao, se refugiasse noutra mais recuada, Por
trds dessa correlacao, 0 que é preciso despistar é a pretensao &
autoposi¢ao de um sujeito exilado, de um sujeito especular, nao
implicado na rede de relagoes constitutiva da objetividade.
Mas pereebe-se imediatamente 0 quanto é dificil recuperar,
numa reflexdo segunda, a indubitéivel existéncia sobre cujo fundo
se destaca a relacao sujeito-objeto, Prova disso € a extrema fragi-
lidade de todo enunciado sobre a existéncia. Encontramos pelo
menos trés formulagoes sobre esse primado da existéncia: toma-
da do lado do objeto, dir-se-4 que ela marca a indistingao entre
aexisténcia e 0 isto, sob pena de fazer da existéncia um predicado,
a caracterizacao de algo qualquer captado separadamente do seu
existir. Tomada do lado do sujeito, dir-se-4 que ela é a indivisio
do eu e do souno ete existo encarnado. Tomada do lado da relacao
sujeito-objeto, dir-se-4 que a existéncia 6 0 hd indiviso, que é
igualmente universo, corpo, eu. De trés modos ¢ preciso recupe-
rar a unidade da existéncia e do existente numa certeza compacta
nao-pormenorizavel. O perigo de um retorno ao mutismo, que
Hegel denuncia no inicio da Fenomenologia do espirito, 6 aqui
sem cessar cotejado: lemos em Existence et objectivité®: “O ‘eu
existo’ assim entendido e separado de toda acepcao privativa,
tende a confundir-se com uma afirmacao como ‘0 universo exis-
te’, sendo 0 universo, também ele, a negagao de ‘algo particular’,
sem por isso reduzir-se necessariamente a uma generalidade abs-
trata” (p. 313). Mas Gabriel Marcel também evita pregar um re-
toro ao imediato. Nao por acaso ele fala, preferentemente, de
indubitdvel, termo de reflexo segunda, enquanto o imediato se-
ria o termo de um dogmatismo pré-critico. O indubitavel s6 pode
ser recuperado por oratio obliqua, diria eu, isto 6, mostrando a
inconsisténcia de toda reformulagao, em termos de objetividade
2. Apéndice ao Journal métaphysique, op. cit, pp. 309-329,
53 Riruexto Prive & REPLEXMO SEGUNDA EM Gasniet, MARCEL
e de subjetividade transcendental (¢ a mesma coisa), tanto da
sensagao como do corpo proprio. E aqui que o trabalho de pen-
samento e de linguagem é mobilizado, na linha da dialética do
primeiro Journal méthaphysique, que 6, a meu ver, a arma da
reflexdo segunda, se esta ndo deve se anular a si mesma no ine-
favel. $6 se recupera a existéncia dissolvendo do interior a tese
objetivista e a tese subjetivista, correlatas uma a outra. Dai o pri-
mado das negacdes: a sensagdo nao é uma mensagem — sob pena
de exilar ao infinito 0 sujeito que enuncia a relacao entre dois pos-
tos objetivados; tampouco o corpo é um instrumento: ele ndo esta
nem fora nem dentro. Deve-se mesmo dizer que eu sou e nao sou
‘© corpo; que eu o tenho e nao o tenho. Em poucas palavtas, 0 in-
dubitavel s6 é recuperado por uma espécie de mostracao, de exibi-
cdo da inconsisténcia do pensamento enquistado na relagio sujei-
to-objeto. Nesse sentido, 6 sempre suposta certa obrigagio de nao
se contradizer, de manter um discurso coerente; se ela é exigida da
tese do Cogito e do objetivismo que é 0 seu correlato, ela é igual-
mente requerida do pensamento que pretende dar conta, dar razao
das experiéncias-niicleo.
Contudo, nao é por deducdo, por implicacao necesséria que
se passa da reflexao primeira & reflexao segunda. 0 préprio di-
namismo das experiéncias-nticleo que rege tanto a fase critica
como a articulagao conceitual. Mas sobretudo — e este é 0 ponto
central da minha comunicacao — nao ha laco de implicacao entre
os lugares onde emergem essas experiéncias maiores e, portanto,
entre os préprios momentas criticos.
Vou me referir agora a um tema ainda proximo do tema do
Cogito, e que pode parecer uma variante deste: quero me referir
a0 tema da liberdade. Os dois temas estao tao intimamente liga-
dos em Descartes, que é impossivel discernir nele entre a afirma-
Gao da liberdade e a filosofia do juizo, ela mesma envolvida no
Cogito. Mas nés também aprendemos de Kant que a questao da
liberdade nao se decide no plano da razao tedrica e que ela pro-
cede de uma reflexdo de outra ordem, essencialmente pratica, de
uma reflexdo sobre a autonomia. £ precisamente sobre o terreno
da autonomia que Gabriel Marcel continua uma investigagao
tica que recoloca em questo a pr6pria alternativa entre autono-
mia e hereroonomia. O que pode e deve ser contestado é que
Lerrunas 2 — A Reso Dos rILosoros 54
liberdade e escolha sejam duas nogdes idénticas. Aqui, Gabriel
Marcel enfrenta adversarios fortes, pois afronta nao s6 Descartes
e Kant, mas Kierkegaard, Jaspers e Sartre. £ verdade que encon-
tramos em Gabriel Marcel textos que testemunham uma aprecia-
cao positiva da vontade, enquanto negacao ativa dos “mas”: “Que-
rer, diz ele, 6 cessar de se tratar como ele”, Mas uma diivida abala
essa seguranca demasiado altiva: “Quando se ama, escolhe-se
amar?” O que move aqui Gabriel Marcel é uma conviccao seme-
Ihante a que 0 conduziu a afrontar o Cogito, a saber, a suspeita de
que a auto-afirmagao da liberdade que se pie a si mesma expri-
me e consagra um exilio comparavel da subjetividade, exilio nao
mais distante das terras generosas do sentir, mas separado das
poténcias que suscitam, despertam e fazem crescer, das quais nao
somos senhores. A certeza mais forte € a de que eu sou dado a
mim mesmo. Mas, ainda uma vez, essa certeza s6 se mantém
quando apoiada, de um lado, na critica interna da idéia de auto-
nomia, de outro, nos sinais esparsos da primazia da liberdade-
dom sobre a liberdade-escolha. A este respeito, nada 6 mais pe-
rigoso do que se encantar com férmulas tais como estas: “Minha
resposta é livre na medida em que é libertadora”. Ninguém se
instala numa certeza tao alta. Donde a laboriosa dialética pela
qual se desprende dos prestigios do “ou...ou”: ndo repousa o poder
dos contrérios sobre possibilidades que 0 tempo todo pressupdem
a si mesmas e s6 podem determinar-se mediante um salto absur-
do? Pior: nao cabe a uma liberdade de indeterminacao determi-
nar-se para o pior: Talvez seja de minha esséncia poder nao ser 0
que eu sou; simplesmente, de poder me trair” (op. cit., p. 223).Tem
sentido escolher entre o desespero e a esperanca, entre a traigao
ea fidelidade? Afinal de contas, direi 4 margem de Gabriel Marcel
sem comprometer seu pensamento, Spinoza nao esté mais na
verdade do que Descartes, quando identifica liberdade e necessi-
dade interior? Gabriel Marcel nao é, certamente, spinoziano quan-
to a0 conjunto do seu pensamento. Mas, seria abusar das aproxi-
macées se eu dissesse que Gabriel Marcel € mais proximo de
Spinoza do que de Descartes quando escreve em Apercus sur la
liberté: “Eu seria tentado a dizer que a liberdade nao é
indeterminada, mas, ao contrario, sobredeterminada” (op. cit., p.
223). O que é propriamente marceliano e nao pode mais ser
spinoziano € o pressentimento de que ha algo de virtualmente
55 REFLEXKO PRIMEIRA £ REFLEXAO SEGUNDA Ext Gabel. MARCEL
destruidor na autoposi¢do do ato livre, em virtude de um desgar-
ramento, de uma deiscéncia, pela qual eu me privo do socorro de
energias criadoras das quais participo fundamentalmente. Toda a
reflexo segunda, nesse segundo front metafisico, consistiré em
reunir as abordagens concretas da liberdade-dom, contidas em
algumas experiéncias-testemunho, como a disponibilidade, a
admiraco, a resposta a um apelo, a aceitacao, 0 consentimento,
das quais podemos nos perguntar como por sua vez elas se dei-
xam dizer e, até certo ponto, conceitualizar. £, mais uma vez,
todo o regime de pensamento e de linguagem da reflexao segun-
da que é posto em jogo aqui. Seja-me suficiente dizer que nada
aqui € definitivamente adquirido, na medida em que, precisa-
mente, é possivel que a liberdade se arranque a seu solo nutridor.
Justamente porque a possibilidade de trair nao é nunca abolida,
a reflexao segunda nao cessa de apelar da liberdade-escolha a
liberdade-dom, e jamais escapa ao paradoxo paralisante segundo
© qual a alternativa entre fidelidade e traicao deve ser superada,
enquanto alternativa, por um ato de reflexdo que podemos recu-
sar, a0 mesmo tempo que nao esté em nosso poder engendrd-lo,
mas somente acolhé-lo. £ possivel que s6 no vocabulério da liber-
dade-escolha seja possivel dizer esse movimento de recusa a in-
vocacao. Assim lemos em Etre et avoir, p. 175: “A ordem ontolégica
86 pode ser reconhecida pessoalmente pela totalidade de um ser
comprometido num drama que é 0 seu, embora superando-o
infinitamente em todos os sentidos — um ser ao qual foi dado 0
poder singular de se afirmar ou de se negar, segundo ele afirme o
ser e se abra a ele — ou o negue e, por isso, se feche: pois é nesse
dilema que reside o essencial dessa liberdade”. O que quer que
seja dessa aporia, deve-se poder dizer, por pardfrase, que a liber-
dade-escolha guarda o limiar da traigao e do suicidio, como 0
Cogito guarda 0 limiar do valido.
Termino aqui minha reflexdo sobre a liberdade segundo
Gabriel Marcel; néo quis tratar o problema em si mesmo, mas
apenas enfatizar a distingao das frentes de ataque e de surgimen-
to das experiéncias-nticleo, distin¢ao compensada apenas por cer-
ta semelhanca no nivel do estilo dialético; em cada registro, a
escansao é a mesma: critica das resisténcias, surgimento das ex-
periéncias diretoras, retomada em reflexao segunda.
Lerrunis 2 — A necito pos ritésoros 56
Gostaria de confirmar essa sugestao, relativa a descontinui-
dade dos pontos de apoio da reflexao assim como a semelhanga
do estilo dialético, por um terceiro exemplo familiar aos leitores
de Gabriel Marcel, a saber, a dupla do tu e do ele.
Assim, vé-se desenvolver, no Journal, uma reflexao sobre 0
tue 0 ele & margem da reflexdo sobre o sentir, polarizada pela
meditagao sobre a confianga absoluta, sobre a oracao, portanto,
sobre 0 Tu absoluto, Disse acima que essa segunda linha de pen-
samento tinha por horizonte um pensamento do ser cuja relagao
ao pensamento da existéncia permaneceu por muito tempo nao
decidida. Antes de retomar esse fio, gostaria de insistir sobre certa
autonomia do tema da comunicagdo ao qual remete a meditagdo
sobre o fu, entendido no sentido do outro humano, com rela¢do
ao tema do sentir, da sensacao, e da unidade indivisivel entre a
existéncia e o existente. Nao se encontra em Gabriel Marcel ne-
nhum equivalente da constituigao da objetividade sobre uma base
intersubjetiva, como em Husserl na quinta Meditagdo cartesiana.
Esta seria uma maneira de envolver a relaco ao outro numa
problematica considerada devedora da relacao sujeito-objeto, que
se trata, justamente, de por novamente em questao, O tema royciano
da relaco triangular entre 0 eu, 0 tu, 0 objeto € rejeitada como um
sintoma da exaustéo do conhecimento por objeto, a coisa sendo
reduzida ao papel de terceiro exorbitado com relacao a uma con-
versagao, ela mesma exaurida pela retirada da existéncia. E nesse
sentido que digo nao haver implicacao necessdria do tema do outro
pelo tema do sentir. O tema do outro tem suas dificuldades pré-
prias, que nao sao as de uma gnosiologia, mas de uma dramaturgia
da existéncia. A este respeito, a meditacao sobre 0 tu se desenvolve
sobre o terreno jé explorado pelo teatro. Ela visa recuperar para a
reflexo 0 que a pratica da escrita, dramitica jé superou, a saber,
essa justia superior feita as diferentes dramatis personae, as suas
convicgées, as suas paixdes, aos seus fracassos, as suas expectativas,
aos seus desesperos. Quanto a isso, muitos o disseram antes de
mim —a saudoso padre Fessard, Joseph Chenu e outros —, 0 teatro
foi para a filosofia de Gabriel Marcel, singularmente para a filoso-
fia do tu, 0 laboratério de uma diversidade de experiéncias de pen-
samento, 0 tubo de ensaio para uma variedade de temas dos quai
muitos foram antecipados, sob 0 modo de fico, e pronunciados
57 Renexio pantsna & REFLEXAO SEGUNDA Ew Gasniel, MARCEL
por personagens de ficcao, antes de ser assumidos pelo proprio autor
sob 0 modo da conviccao procedente da experiéncia metafisica. A
reinscricdo dessas experiéncias de pensamento do plano teatral no
plano da reflexao filosGfica foi, evidentemente, favorecida e tornada
urgente pela pritica efetiva da amizade — para nao dizer nada do
amor conjugal — e por uma atengao excepcional aos destinos indi-
viduais, Nao falarei sobre isso, para me concentrar sobre as proprias
condigdes dessa reinscrigao na reflexao.
O que aproxima a questo do 1u a do sentir ndo é tanto uma
implicagao tematica, da qual acabo de apontar a fragilidade, mas
0 paralelismo no tratamento dialético. Um mesmo ritmo escande
a recuperacao da experiéncia-nticleo, uma mesma resisténcia &
resisténcia. Aquilo sobre o que a atestagdo da segunda pessoa
deve continuamente se reconquistar é a redugao do tu ao ele,
entendido como um repertério de informagées que eu consulto,
‘ou como uma bateria de caracteristicas que descrevo, em poucas
palavras, como um inventario de predicados. Pode-se, certamen-
te, considerar um caso de objetivagao essa queda do ru no ele, €
assim restabelecer certa continuidade entre as problematicas do
sentir e do tu. Num sentido amplo, pode-se mesmo dizer que as
duas esferas de pesquisa procedem da mesma retomada da exis-
téncia sobre a objetividade. Mas essa afinidade profunda entre os
dois regimes reflexivos ndo deve mascarar o que ha de t6pico, de
especifico nas “abordagens coneretas”. Uma coisa é a critica do
sentir assimilada a uma transferéncia material de mensagem en-
tre lugar emissor e lugar receptor, completada pela critica da re-
ducdo do corpo préprio a um instrumento de uso, outra coisa 6
a critica da redugao do tw ao ele. Nao é a indubitabilidade da
existéncia global nem a do eu encarnado que resiste a resistencia,
mas é um incontornavel de outra espécie, a saber, a reciprocid:
de na relacao entre questao e resposta. Insisto neste ponto:
se pode dizer que 0 tu seja indubitével; uma outra fonte de diivi-
da além da que procede do pensamento por objeto mina a con-
fianca no outro; assim o citime proustiano. A resposta a essa
divida é da ordem da confianga, do crédito ilimitado aberto a
capacidade do outro de me responder e de me responder since-
ramente: “Nao me dirijo a segunda pessoa senao como ao que é
olhado por mim como suscetivel de me responder... Onde ne-
Lrrurss 2 — A nEGIO Dos FILOSoFos 58
nhuma resposta ¢ possivel, s6 hd lugar para o ele” (Journal métha-
physique, p. 138). A esse respeito, se se quisesse encontrar uma
prolongamento do pensamento de Gabriel Marcel sobre o tema
do tu, seria preciso buscar em duas diregGes distintas uma da
‘outra; a primeira seria a de uma ética a maneira de Emmanuel
Lévinas, que eleva a dialética dos grandes géneros do Mesmo e do
Outro uma experiéncia imediatamente qualificada no plano
axiol6gico, a experiéncia da exterioridade do rosto e da exigéncia
de responsabilidade vinda do outro diferente de mim, exigéncia
que me institui a mim mesmo como sujeito; a segunda direcao,
muito diferente pelo menos em primeira aproximacio, seria a de
uma pragmatica do discurso, tal como se desenvolve na filosofia
analitica, impulsionada pela andlise dos atos de discurso. A cléu-
sula de sinceridade de John Searle, a dial6gica de Francis Jacques
atestam que 0 discurso 86 6 possivel como alocucdo e interlocugio
se dou crédito ao outro, se creio que ele significa o que ele diz,
que o seu dito testemunha o seu querer-dizer. Alids, as duas li-
nhas de pensamento se cruzam num ponto, na medida em que a
relacdo dial6gica entre questao e resposta, explorada pela prag-
mitica do discurso, ¢ fortemente axiologizada pela cléusula de
sinceridade. Certa circulagao tematica se estabelece assim entre a
filosofia da lealdade vinda de Royce, a meditagao buberiana so-
bre o Eueo Tu, a meditagao marceliana sobre o tu eo ele, a ética
da responsabilidade e a pragmatica do discurso. O que, nesse
concerto, me parece caracterizar a meditagao marceliana é, mais
uma vez, 0 estilo dialético, a saber, a delimitacao das resistencias,
surgimento das experiéncias que afiancam a pesquisa da rela-
Gao ao outro, e a identificagéo por oratio obliqua dessas mesmas
experiéncias. Nesse sentido, diria que a meditagao marceliana se
desenvolve numa zona subjacente a ética da responsabilidade e a
pragmatica do discurso na sua estrutura dialgica. Quanto a isso,
© pensador mais préximo de Gabriel Marcel é, certamente,
Heidegger nos capitulos de Ser e Tempo consagrados ao salto do
Mitsein para fora do anonimato do “se”. A conquista sobre a
inautenticidade desempenha aqui o mesmo papel desempenha-
do em Gabriel Marcel pela resisténcia a resisténcia; particular-
mente, a meditacao heideggeriana sobre o “se” concorda com a
meditacao marceliana sobre o “ele”, no fato de sublinhar as per-
59 [REFLEXAO PRIMEIRA E REFLECAO SEGUNDA EM Gass, MARCEL
versdes da linguagem que sao, ao mesmo tempo, 0 efeito e a causa
do fracasso da relagdo intersubjetiva: equivocidade, tagarelice, cu-
riosidade. A famosa exclamagao de Gabriel Marcel: “O repert6rio
60 ele”, equivale & dentincia heideggeriana da pura curiosidade.
E também como coesse que Gabriel Marcel fala do tu sob o regime
da reflexdo segunda.
Quero voltar & sugestio feita acima, segundo a qual a ques-
tao do outro, a da liberdade-dom e a do sentir constituem pontos
de surgimento descontinuos, mesmo se um parentesco de estilo
dialético os aproxima no plano da reflexdo segunda; um texto do
Journal méthaphysique, segunda parte, o diz bem: “Existe o tu?
Parece-me que quanto mais eu me situ no plano do tu, menos
a questao da existéncia se pée... O tu é para a invocagdo 0 que 0
objeto é para o juizo; ele nao pode ser separada do que se deve
considerar como sua funcdo sem deixar de ser tu” (op. cit., p.
277). Deixo de lado a questao de saber se a existéncia convém
mais as coisas que as pessoas. Sobre esse ponto, 0 pensamento
ulterior de Gabriel Marcel operou uma inversao indiscutivel; le-se
em Etre et avoir: “Direi mesmo que é da esséncia do outro exis-
tir’; mas, desta vez, ele o diz com relagao ao eu: “Seria absurdo
dizer que o eu enquanto subsistente 6 existe enquanto se trata a
si mesmo como sendo para outro, por relacao a outro, conse-
qientemente, na medida em que reconhece que ele escapa a si
mestna” (op. ait, p. 152). Nesse mavo contexta, a existéncia toma
© sentido que tem em Heidegger, onde caracteriza 0 Dasein por
‘oposigao aos outros entes que sao apenas vorhanden ou zuhanden.
Nesse sentido, as coisas s6 seriam existentes na medida em que
aparecem no ambiente dos existentes que somos nés. Mas 0 que
me importa aqui nao é esse deslocamento da nogao de existéncia,
essa transferéncia da esfera do sentir onde foi afirmada a
inseparabilidade da existéncia e do existente na esfera do tu. O
que me importa € 0 tipo de proporcionalidade que se exprime na
assergao: “O tu é para a invocacao 0 que 0 objeto é para o juizo
essa declaragao mostra bem o paralelismo dialético que aproxi-
ma os diferentes registros de pesquisa sem confundi-los. 0 que
nao impede uma circulagao entre eles e uma espécie de irrigacao
de um pelo outro, de um através do outro, como se nao se pudes-
se recuperar o indubitavel aferente ao sentir, sem recuperar a
Lervurss 2 — A Rectto pos rtdsoros 60
atestagao da liberdade-dom e a capacidade de resposta do tu sobre
05 maitiplos modos de redugao do tu ao ele. A afinidade de estilo
opera aqui como uma sustentaco mtitua, um socorro recfproco,
comparavel ao que se prestam tropas operando separadamente
sobre frentes diferentes de resisténcia e de avango. Vencer 0 juizo
no ele, cessar de avaliar criticamente, de fazer o balanco das exce-
lencias e das deficiéncias do outro é um procedimento homélogo
aquele pelo qual eu deixo o sentir afirmar seu direito diante das
operaces objetivantes que o esvaziam. Como se dird adiante, esses
procedimentos, embora distintos, so igualmente metacriticos,
metaproblematicos. Eis por que, no plano do vocabulério, que nao
discuto aqui, vé-se Gabriel Marcel falar nos trés casos de participa-
cdo, como ademais ele o faz a propésito da ligagdo nao mais a exi
téncia, mas ao ser. Essa transferéncia de vocabulério atesta o trans-
bordamento muito dos campos de pesquisa, transbordamento afi-
angado precisamente pela semelhanga da ritmo dialético que se
observa entre as frentes descontinuas de investigacao.
Gostaria agora de confirmar essa caracteriza¢ao do estilo fi-
los6fico de Gabrie! Marcel, voltando a polaridade evocada no inicio.
deste estudo entre filosofia da existéncia e filosofia do ser. Em
certo sentido, os trés temas que acabo de evocar — encarnacao,
liberdade-dom, invocagao — competem a uma filosofia da exis-
téncia. Mas esses trés temas, tomados individualmente ou em
bloco, estao imbricados num movimento de transcendéncia que
faz passar de uma filosofia da existéncia a uma filosofia do ser. A
nogao de participacao, trés vezes mencionada, preenche precisa-
mente essa fungdo. Mas essa implicacao da filosofia do ser na
filosofia da existéncia é sobretudo visivel no plano da liberdade-
dom’. Com efeito, é s6 por abstragao que se pode distinguir esse
tipo de liberdade do que é chamado sumariamente de mistério
3, Retornando a dificil questao da relagdo entre existencia e ser, na
segunda série das Gifford Lectures, Gabriel Marcel mantém, contra 0 proprio.
Gilson, a distingdo entre a exigéncia de ser e a demarcacao da existéncia no
corpo; depois ele desloca a interrogacao para “a articulagao da existéncia e
do ser’, para declarar que 0 que “intervém justamente na unio do ser e da
existéncia” é a liberdade (Le Mystere de Etre, Paris, Aubier, 1951, t. Il, p. 31).
Em suma, a relagda entre os dois termos parece “nao apenas irredutivel, mas
envolta em ambigtidade” (ibid, p. 35)
61 ReFLExso PRIMERA E REFLEXAO SEGUNDA EM GaBiirt. Mancet
ontolégico; a liberdade-dom 6, fundamentalmente, um consenti-
mento ao ser. Mas essa implicagao da filosofia do ser na filosofia
da existéncia, no momento da atestagao do tu, nao é em vao
chamada de invocacdo, tanto a questao da oracao dirigida ao Tu
absoluto esta entrelacada com a do reconhecimento do outro,
enquanto o Tu transcende o Ele. E, contudo, ha ai dois vetores
diferentes da filosofia marceliana. Desde 0 meu primeiro trabalho
sobre Gabriel Marcel et Karl Jaspers, impressionou-me a incon-
gruéncia dos dois vetores, atestada pela diferenca dos vocabulé-
ios na época dos dois ensaios iniciais: Existence et objectivité
Position et approches concrétes du mystere ontologique. Sem falar
de transcendéncia como Jean Wahl, tema que escandalizou Gabriel
Marcel, nao se pode negar que a tese da indistincao da existéncia
e do existente se aplica ao universo no seu conjunto; do mesmo
modo 6 0 sentir, a sensacao, o lugar dessa indistingao — e a en-
carnacdo sua marca ontol6gica. A questo do ser, em contrapar-
tida, ¢ aspirada incontestavelmente pela do Absoluto ou de Deus.
Compreende-se o porqué: ela tem seu proprio agarramento em
experiéncias negativas que assinalam 0 desabamento do apetite
de ser, tal como a redugao de todas as relacdes humanas 2 utili-
dade, a funcao, a tendéncia a ceder as sugesties de desespero e
suicidio que se elevam do espetaculo do mal e da infelicidade, O
sentido do ser é exatamente a réplica a esse convite ao desespero,
a traigdo, ao suicidio, que procede do curso das coisas. Gabriel
Marcel, tao pouco inclinado a se enganar a si proprio e a esbanjar
palavras, nao tem diliculdade em reconhecer essa incongruencia
entre as duas tematicas da existéncia e do ser. Etre et avoir esté
repleto de textos nos quais os dois vocabularios se afrontam,
F entao que um leitor vido de sistema poderia ser tentado
a por em ordem os temas marcelianos segundo a disposigao li-
near de uma dialética ascendente de estilo platénico, ou mesmo
agostiniano. Teriamos assim, embaixo, a teoria da encarnacio,
no centro, como eixo ou pivd, a teoria do tu, em cima, a fé na sua
expressdo mais confessional, mais pericrista, dito de outro modo,
© mistério ontologico. Gostaria de precaver contra essa
‘esquemiatizagao que deforma cada um dos termos. A encarnac
nao é de modo algum um timulo, embora cla constitua, como se
dira em seguida, uma prova; ha em Gabriel Marcel uma alegria de
Lerrumas 2 — A necio 0s Fux6s0F0s 62
viver, uma gl6ria da criagdo que os seus amigos sempre souberam
discernir e saudar. A esperanca, se ela é um recurso, nao é nunca
uma evasao. Quanto ao tema do Tu e da fidelidade, ele nao po-
deria ser despojado da sua consisténcia propria por alguma fuga
para qualquer lugar. O drama inter-humano conserva sua densi-
dade, a ponto de nao haver esperanca que nao seja uma esperan-
¢a para ti, para nosso amor e nossa amizade. Deve-se, portanto,
deixar na indecisdo as relacdes entre existéncia e ser e recusar
tudo o que poderia parecer uma sistematizacao que transforma-
ria as regides atravessadas em zonas abandonadas. Mais uma vez,
todas as frentes sao importantes, e a meditacao sobre a esperanca
nao abole nem o drama da intersubjetividade nem o debate entre
existéncia sensivel e objetividade. Nao existe experiéncia, mas
experiéncias, experiéncias plurais. O experiencial, para retomar
uma palavra proposta por Bugbee e adotada por Gabriel Marcel,
© experiencial nao constitui sistema. E pelo contrério, na medida
em que respeitamos certa heterogeneidade das experiéncias nti-
cleo que somos mais sensiveis ao que, em minha “Ementa”, cha-
mo de experiéncia-passarelas. Nomeei algumas delas, de passa-
gem: assim, entre o sentir e o sentido da transcendéncia ontolégica
hd a experiéncia da provagio, que traz a encarnacao para o lado
do desespero e solicita os recursos da esperanga. A admiracdo, 0
maravilhamento nao sao senao um sentir transfigurado pelo sa-
grado. A isso corresponde o tom Grfico de certas paginas pr6xi-
mas de Rilke, de Péguy ou de Claudel, celebrando a juntura do
vital e do espiritual. Mas o sentir se volta também para o lado da
intersubjetividade, quando 0 espaco de habitagao que dé a encar-
nagao os contornos de um ambiente, de um meio, se faz espago
de acothida, meio de hospitalidade; 0 em — em mim, em ti—
alcanca 0 no da encaracao e 0 com da comunicacao. A atestagdo
seria outra dessas experiéncias-passarelas, enlacando 0 eu que
testemunha, 0 tu que é tomado como testemunha e o ser teste-
munhado. Mas de nenhum modo o acento posto sobre essas
experiéncias-passarelas poderia abolir as descontinuidades irre-
dutiveis. £, mais uma vez, tarefa da reflexio segunda demarcar
essas passarelas, restituir a especificidade das experiéncias de tran-
sigdo, tanto quanto a das experiéncias-niicleo, e produzir o traba-
Iho de pensamento e de linguagem que a todo momento oferece
a cada uma 0 conceito apropriado e a justa expresso.
63 RerLeXKo PRIMEWUA £ REFLEXAD SEGUNDA EMt GastEL MARCEL
£ pelo cuidado de respeitar as descontinuidades, as transi-
Goes vivas e o trabalho de pensamento e de linguagem que da
conta de umas e de outras, que guardei para a conclusdo da mi-
nha exposicao a dialética do problema e do mistério. Essa dialé-
tica nao poderia ser separada da relagdo entre a reflexio segunda
e a critica da reflexao primeira, sob pena de fazer evaecer essa
mesma dialética e de substituf-la por uma disjungao empobrece-
dora, como se se pudesse abandonar o problemitico e se instalar
no mistério. Tanto quanto o poeta ou o autor de aforismos po-
dem privilegiar a disjungao, porque usam uma linguagem apro-
priada, uma linguagem de evocagao e de invocagao, de celebra-
40 e de hino, ou de lamentacao e de nostalgia, na mesma medi
da 0 filésofo, por dever de estado, é destinado a pensar e a dizer
juntos o problematico e 0 mistério. A expresso de metaproblema-
tico, como acima a de indubitével, testemunha isso. Nesse senti-
do, arfiscarei dizer que o préprio termo mistério é um termo de
reflexdo segunda, uma vez que ele é explicado pelo termo
metaproblematico. A resisténcia a resistencia é a sua marea, Leio
em Position’ et approches concretes du mystere antologique’: “O
ser 6 0 que resiste — ou seria o que resistiria — a uma anilise
exaustiva sobre os dados da experiéncia e que tentaria progressi-
vamente reduzi-los a elementos cada vez. mais desprovidos de
valor intrinseco ou significativo (¢ uma andlise dessa ordem que
se realiza através das obras teéricas de Freud por exemplo)” (p.
262). Insisto no carater ndo-dogmatico das diferentes formula-
GOes progressivamente testadas. Assim se diz, no mesmo ensaio,
que a passagem ao ser como mistério ¢ 0 reconhecimento de “certa,
afirmagio de que sou mais do que a profiro: proferindo-a, eu a
quebro, eu a fragmento, eu me apresso a trair” (p. 262). E contu-
do, eu a profiro, mas em reflexdo segunda; fazendo isso, eu a
reinscrevo no discurso, enquanto metaproblemdtica. £ a reflexao
segunda, conseqiientemente, que, por uma espécie de passagem
ao limite, reconhece o primado da afirmacao origindria, como t
dito Jean Nabert, sobre a propria questo do ser. Aqui, o filésofo
se reconhece vencido: a Art poétique de Claudel tem sucesso onde
0 fil6sofo fracassa em dizer. Ha ainda o rastro do movimento de
4. Em Le Monde cassé, Paris, Desclée de Brouwer, 1933,
5. Ibid.
Lerrunas 2 — A REGiKO 0s FL6s0FOS 4
resisténcia a resistencia, a saber, que o ser nao figura como solu-
do a uma questao que seria a do sentido do ser. De onde a se-
gunda formulagao que se Ié um pouco adiante, e que quase pode
ser considerada como um talisma: “Um mistério é um problema
que se apropria dos seus préprios dados, que os invade e por isso
mesmo se supera como simples problema” (ibid., p. 267). Mas 0
fantasma da regressio ao infinito nao tarda em aparecer: como
compreender, como dizer a indissociavel identidade de ser afir-
mado e da afirmagao do ser, sem fazer disso um novo contetido
de pensamento, do qual perguntamos como se relaciona ao que
6 Resta circunscrever por uma série de exemplos 0 que a dialé-
tica resolve em palidas abstragdes: sao as famosas “abordagens
concretas” visadas pelo titulo do ensaio (mistério da uniao da alma
¢ do corpo, mistério do mal, mistério do encontro, mistério do
recolhimento, etc.). $a0 elas idéias? Sim, pois significamos a cada
vex alguma coisa; nao, pois, sob o regime do metaproblemitico,
“estamos [...| numa zona onde nao é mais possivel dissociar a
idéia e a certeza ow o indice de certeza que a afeta. Pois essa idéia
6 certeza, ela 6 seguranca de si, nessa medida ela é outra coisa e
mais que uma idéia” (ibid, p. 272). Portanto, nao é por acaso que,
para retornar ao problema, o mistério deva se moldar numa di
versidade de “atitudes” — no sentido da Logica da filosofia de
Eric Weil —, as quais operam o que chamarei de réplica de uma
parénese a impossibilidade de articular conceitualmente e de es-
tabilizar verbalmente a transi¢ao do problema ao mistério. Quan-
to aiisso, nao se poderia encerrar Gabriel Marcel numa metafisica
da presenga, se por presenca se entende uma perfeita transpa-
réncia a si do pensamento no momento da sua mais elevada afir-
macao. O mistério, ou melhor, a posigao do mistério, permanece
uma intuigao “cegada”, que sé se atesta na reconquista sobre 0
proprio proceso de problematizacao e com os recursos dessa
mesma problematizacao, levadas ao seu ponto de ruptura. E 0
que significa 0 meta — de metaproblematico. Este prefixo, que
nos vem da alta Antigiidade, exprime a identidade profunda da
reflexdo segunda e da prépria filosofia em Gabriel Marcel.
O Tratado de Metafisica'
de Jean Wahl
(1957)
Pode-se escrever um tratado de metafisica na metade deste
século? Por acaso, nao estamos encerrados na seguinte alternati-
va: ou se compde um sistema no qual cada idéia, nogao ou cate-
goria encontra seu lugar necessdrio num desenvolvimento logic
esta é a via seguida por Hegel, Hamelin, Eric Weil; ou se renuncia
a toda estrutura, joga-se fora idéia, no¢ao, categoria, fala-se sem
rigor e sem ordem do homem, do mundo, de Deus ¢ substitui-se
a uma l6gica uma ret6rica da filosofia: € a esse fracasso que se
condenaria um tratado de metafisica puramente existencial. Jean
Wahl tentou escapar dessa alternativa e se manter a meio cami
nho entre a ordem légica e a composigao ret6rica; a organizacao
de seu tratado se conforma com a interpretacao que ele mesmo
propoe da filosofia, que deve poder escapar a alternativa do l6gi-
co e do existencial. E essa interpretacao que vamos trazer & luz,
indo do exterior ao interior, da ordem aparente desse Tratado a0
princfpio dessa Metaftsica.
0 “SUTIL” E 0 “OPACO”
Exteriormente, o tratado se apresenta como um diptico: a
primeira parte (livro I) apresenta uma teoria da realidade na qual
figuram em certa sucessao os conceitos diretores da filosofia oci
dental (devir; substancia, esséncia e ser; relagao e negacao;
1, Paris, Payot, 1953.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- A expressão da religiosidade nos poemas de Adélia Prado: um estudo literário e teológicoFrom EverandA expressão da religiosidade nos poemas de Adélia Prado: um estudo literário e teológicoNo ratings yet
- Tu não matarás: Emmanuel Lévinas e a tirania como políticaFrom EverandTu não matarás: Emmanuel Lévinas e a tirania como políticaNo ratings yet
- Buscadores do diálogo: Itinerários inter-religiososFrom EverandBuscadores do diálogo: Itinerários inter-religiososNo ratings yet
- ARS METAPHYSICA: Francisco de Holanda e o Neoplatonismo no Século XVIFrom EverandARS METAPHYSICA: Francisco de Holanda e o Neoplatonismo no Século XVINo ratings yet
- La petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseFrom EverandLa petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseNo ratings yet
- Diálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasFrom EverandDiálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasNo ratings yet
- Análise Matemática No Século XixFrom EverandAnálise Matemática No Século XixNo ratings yet