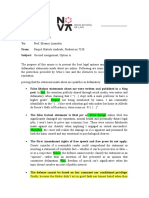Professional Documents
Culture Documents
Livro PDF
Livro PDF
Uploaded by
Raquel Duarte0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views26 pagesOriginal Title
livro.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views26 pagesLivro PDF
Livro PDF
Uploaded by
Raquel DuarteCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 26
arte I
FILANTROPIA E SISTEMA PENITENCIARIO (1820-1852)
1-0 VINTISMO E © MUNDO PENAL: HERANGAS, DEBATES I POLITICAS
Na Europa do principio do século xix, nao era ainda evidente que a prisao fosse
a forma capaz de dar resposta as novas exigéncias colocadas a punigéo. Embora as
prisoes constituissem um t6pico importante no debate sobre a reforma penal, a sua
eficdcia e viabilidade na repressao do crime, ou a sua eventual utilidade na correc-
cao dos criminosos, nao eram temas determinantes de polfticas penais.
Em Inglaterra, por exemplo, a necessidade de assegurar a ordem e os direitos
de propriedade fez aumentar o numero de crimes punfveis com a morte de 160,
em 1765, para cerca de 225, no fim das Guerras Napoleénicas, compreendendo
desde 0 homicidio a falsificagéo de bens patenteados, passando pelo pequeno
roubo’.
Por seu turno, em Franga, 0 cédigo penal napolednico de 1810 restabeleceu
algumas penas do Antigo Regime abolidas pelos cédigos da Revolugao, nomeada-
mente o corte da mao e a marca com ferro em brasa, e impés a pena de morte para
os crimes de roubo considerados mais graves. E certo que este cédigo implicou,
simultaneamente, um agravamento das penas de privagio de liberdade, passando a
admitir-se também a sua perpetuidade. Mas mesmo aqui, no caso da prisao penal, o
modelo seguido foi, nao o da priséo penitenciaria ou disciplinar (isto 6, com um
objectivo correccional), mas o da grande priséo-manufactura. As famosas centrales
(como Vilvorde, Clairvaux, Fontevraud ¢ Loos), concebidas para o encarceramento
de um ntimero elevado de condenados - que empregavam numa ocupagao «titil» e
pretendidamente rentavel -, eram organizadas mais como empresas do que em con-
formidade a uma l6gica correccional””.
Em Espanha - destes, 0 pais porventura mais compardvel a Portugal - as penas
de galés e trabalho nas minas de merctirio haviam ja desaparecido nos anos 1780.
Porém, as penas que as vieram substituir - 0 presidio e os trabalhos publicos -
estavam longe de ser de tipo disciplinar. E se durante 0 interltidio liberal de Cadiz,
9s liberais espanhdis aboliram, em 1812, 0 uso da tortura no processo, Fernando
VIL, no retorno ao absolutismo, aboliu grande parte da legislagao liberal e restabele-
ceu certas penas geralmente associadas ao Antigo Regime, mormente a pena dos
a¢oites. Sabemos, de resto, que, mesmo com a transigao do absolutismo para ©
liberalismo, se mantiveram algumas das praticas penais que a historiografia tem
tradicionalmente descrito como proprias do Antigo Regime”.
No que respeita & crenga na eficécia das pris6es como resposta a criminal
s Est 0% 8 stam i
alguns Estados americanos contrastam ¢ dade,
mi os. No et vaga de construgho de penitenciéi PEUS aci.
‘a citados, No entanto, a vaga de construc P clarias na década de 1
parece ter correspondido, inicialmente, a uma preocupagio pela reforma do gj,
rma legal, mais do que a um desejo de impor um modo disciplinar de tratamento qe.
criminosos"’, Com efeito, a ideia de que 4 aplicagio dos principios da certe,
Chumanidades das penas seria a condigho nec ssaria - © também suficient, ®
diminuicao da criminalidade dominou 0 movimento reformista até a segunda de,.°
oca.
da do século xix. As prisdes constitufam um elemento importante no novo Sistem,
ema
penal, mas a sua organizagao interna era uma questéo ainda secundéria, ou
vezes mesmo ausente, para a maior parte dos politicos intervenientes' », Por
De igual modo, em Portugal, a priso disciplinar nao foi uma solugao 6byig var
aqueles que, ainda no periodo do Antigo Regime, se empenharam na reforma Pena,
Ribeiro dos Santos, por exemplo, activo defensor da aboligao da pena de fae
propés, em sua substituigao, nao a penitenciéria, mas os trabalhos Plblicog’
E. efectivamente, durante a regéncia e reinado de D. Joo VI, as condenagées a."
te comutadas, nao em penas de prisao, ae
tais passaram a ser sistematicament
pena de galés ou degredo**. ~ -_ /
Estes aspectos, se, por um lado, vém matizar a ideia de que a prisao disciplinay
se impés, quase naturalmente, como a pena da modernidade, por outro, chamam a
atengao para 0 facto de que 0 nascimento das penitencifrias foi acompanhado, sendy
precedido, por um movimento de reforma da lei penal e coexistiu com outros tipos
fe penas, Torna-se, pois, necessério distinguir ts processos que, a partir das dua
iiltimas décadas do século xvi, contribufram para mudar a face do mundo penal:
uma tendéncia, decorrente de vontades politicas em contextos precisos, para amo.
deragao das penas, nomeadamente nos seus aspectos cénicos e cruéis; a reelaboragig
doutrinal dos fundamentos da lei penal e a incipiente reforma legislativa dai deri-
vada; e o desejo, com algumas realizagoes pontuais, de introduzir no castigo penal
certas légicas que, na linha de Michel Foucault, podemos designar de disciplinares.
Devemos, talvez, ainda acrescentar 0 movimento filantrépico, ligado, sobretudo, ao
nome do escocés John Howard, que procurava denunciar e corrigir as més conti-
goes fisicas e morais das cadeias.
Estes processos actuaram de forma autonoma, ainda que imbricada. Na verds-
de, parecem corresponder a logicas distintas, e muitas vezes a actores e momentos
diversos. No Portugal do fim do Antigo Regime, e apesar de encontrarmos jé algu-
mas iniciativas no sentido de melhorar as condigées das cadeias e af introduzit
certos principios de cardcter disciplinar, sobressai a vontade de moderagio das p>
nas e de reforma da lei penal, no sentido da sua certificagao e sistematicidade
O reinado de D. Maria I marcou, de facto, o inicio de um processo de atenuagio®
«humanizagao» das penas. A partir da década de 1770, registou-se um decréscim®
significativo da aplicagao da pena de morte"®, E quanto aos tipos de pene se
das, de acordo com o mais destacado penalista da época, Pascoal de Melo Freie
década de 1790 teriam jé cafdo em desuso todas as formas de execuga? cruel es
ladas nas Ordenagoes"’.
A Melo Freire coube, de resto, a tarefa de redigir um projecto de
nal», que ~ consagrando o principio da proporcionalidade entre delit
doa crueldade desnecessaria ¢ injusta ou equiparando os crimes pe
independentemente do estatuto social dos seus praticantes ~
cia das concepgdes iluministas da penalidade, em particular daquelas propostas
Beccaria"®. A reforma legislativa nao viria, no entanto, na forma, completa
sistemética, de um cédigo criminal; teve, pelo contrario, uma concretizagao relati
vamente modesta, mas nem por isso menos significativa, afectando, sobretudo, al-
gumas praticas do processo penal",
Na sua Historia do Compo, Jorge Crespo defende que a transigéio do século xvii
o seguinte tera correspondido a um perfodo de importante reflexa
condigées de higiene e disciplina das populagées. Aquilo que designa de «civiliza-
go do corpo» projectava-se do espago restrito da corte para a escala do pais, confi
do um verdadeiro projecto de regeneragio nacional. Os seus agentes - médicos
e educadores ~ sublinhavam a afinidade entre a satide fisica e a formagao moral,
defendendo que, tal como os excessos das paixdes tinham efeitos nocivos sobre a
satide, a insalubridade era simultaneamente causa e consequéncia da indisciplina”.
E, de facto, possivel encontrar formulagées juridicas desta vontade de discipli-
nar 0 corpo social. Num outro projecto de cédigo legal - 0 Codigo do Direito Publico
de Portugal — Pascoal de Melo Freire propunha, numa parte designada por «Policia»,
em 67 parégrafos, a aplicagéo de medidas de vigilancia e disciplina social. Esta
inclufa a introdugao do trabalho nas prisées*'. E no ja referido Ensaio do Codigo
Criminal, o autor mencionava prisdes especificas para «doidos» e «casas de correc
ao»®, Na Casa Pia, fundada por Pina Manique em 1780, existia jé, de resto, uma
secgao de correcgao para «mendigos e vagabundos»*, medida que se inseria, segun-
do Albino Lapa - e a par da inspecgao médica das prostitutas, de medidas de hi-
giene publica e moralizagéo dos costumes, de repressao do crime e da vadiagem
-numa espécie de «cruzada pela ordem e moral publicas»*,
Sabe-se também que foi projectada, ainda no reinado de D. Maria I, uma priséo
onde os jovens delinquentes e as mulheres seriam mantidos em secgées proprias e
separados dos restantes presos. Aos primeiros seriam administrados «o ensino do
trabalho e uma boa educagao»; e a todos deveria ser dada uma «ocupagio»**, Porém,
se estes objectivos contém uma boa parte daquilo que mais tarde integraria as cha-
madas técnicas correccionais, a sua incidéncia é demasiado localizada e desligada
de uma visdo geral da penalidade para que se possa falar de uma légica penitencid-
tia. A nova cadeia era basicamente uma resposta as condigdes de degradagao e
insalubridade das cadeias portuguesas. E mesmo na sua concepgao, o eventual va-
lor correccional da prisdo era claramente secundério face 4 preocupagao de segu-
Tanca e salubridade que deveria orientar o trabalho dos arquitectos*. Em suma, a
‘sciplina do espaco prisional era apenas um entre muitos outros elementos inte-
ees de um projecto alargado, mas ainda vago e abstracto, de uma «disciplina
cial»,
S6.a partir da década de 1820 viria a questao da «disciplina social» a ser olhada
‘partir do interior da questao penal, isto 6, a cruzar-se claramente com os temas da
«cdigo crimi-
10. © pena, rejei-
la sua natureza,
viria a acusara infludn
i yal, COMO EM Muit,
» penal. Em Portugs Milos
sou, de facto, a sor,
erior do debate,
OUttos
ONSidgy
MAIS Vastg, tid
Como uma das questdes fundamentais no int
Problema do crime e da desordem publica.
Disso mesmo ¢ reveladora & intermindvel d ee eee
tenciério, que, iniciando-se nos Estados Unidos, se estend oe rapidamente 4
aes os dos chamados sistemas auburniano » filadelfig,
Pa, € que opés os defensores d eferéncia o reg a
Pensilvanico). Os primeiros tomavam como referéncia 0 regime «
na priséo de Auburn, no estado de Nova lorque, entre nee : 1823, ¢ em
prisdo de Sing-Sing, traduzindo-se resumidamente a correcc tonalisme
a separago celular durante a noite e trabalho em comum, ¢ em silencio, g
© dia. Os segundos defendiam o sistema adoptado nas penitenciarias dy Pittsbuge
fom 1828, e Filadlfia (Cherry-Hill), em 1829, de correcedo dos criminosgg
da rigoros sparaio celular tanto de noite como de dia e a oa inong
presos de comunicarem entre si ou com outras pessoas. De inicio, 0 sistema ottadicg,
0 trabalho como elemento regenerador. Posteriormente integrot-o, ainda yn iy
cido na solidao da cela, juntamente com a possibilidade de og presos comunicares
com quem se considerasse contribuir para a sua edificacéo (a este regime ¢ che
mou de «filadelfiano corrigido» ou «moderado»). =
O sistema auburniano valorizava, sobretudo, o trabalho como
cao, embora admitisse ainda o castigo fisico (os agoites) como forma coerciyg de
impor a disciplina ¢ 0 siléncio. Podemos dizer que corporizava grosso modo omo-
delo organizacional da fabrica. A forma de correcgao que veiculava baseava-se na
imposigao de habitos de trabalho, revelando uma concepgao um tanto mecanicsia
da disciplina dos corpos. O sistema filadelfiano, por seu turno, concebido ns inte
ior do protestantismo quaker, instrumentalizava as préticas religiosas de tipo
ascético, valorizando as técnicas do siléncio e da contemplagao da prépria culpa,
como meio de fazer face ao perigo do «contagio moral» ¢ de obter a desojada regne
ragao interior. Tratava-se, pois, de uma abordagem correccional distinta pelo inter
~ visando a «alma» dos individuos.
Em Portugal, os anos do Vintismo foram de intenso debate sobre as queslies
criminal e penal, vindo os seus actores a beneficiar da reflexao doutrinal lentamen-
te elaborada ao longo das quatro décadas anteriores. Pouco depois da sua abertura,
0 Congresso expressou uma condenagao unanime do texto que representava a of
dem penal do Antigo Regime —o Livro V das Ordenagées Filipinas. E logo em Mano
de 1821, com a supressao do Tribunal do Santo Oficio, ficava patente 0 desejo de
uma nova orientagao em termos de politica penal, De acordo com os liberais ae
a penalidade deveria decorrer dos grandes princfpios estruturantes SE ria
social, nomeadamente o da legalidade, o do contrato social e o da utilidade Lips na
da actuacao do Estado, No dominio da punigéo, estes principios traduzinn 20
rejeigao das penas corporais e infamantes, na igualdade de todos Pera iia
habeas corpus, na tansparéncia do acto processual, ¢ na graduagio » Pi, pens
das penas”. A nova politica penal integrava, pois, alguns contributes '
ee Pp juns anclts™
mento iluminista, com Beccaria ¢ Bentham como principais referén
do em torno do typi,
ime
Staby
factor de come.
Algumas destas orientacdes depararam com forte oposigio dos poderes instala
dos. O principio da legalidade, em particular, implicava a redugao da margem de
manobra ~ na condugao do processo e aplicagao das penas — dos magistrados. Nao
6, pois, de estranhar que a magistratura e parte do funcionalismo ptiblico se tenham
constituido como os grandes focos de resisténcia & nova politica penal”. Se a isto
acrescentarmos que o mesmo principio da igualdade visava também reduzir o di-
reito de graca do rei, limitando-o na sua fungao judicial, compreendemos que, para
além das questoes penais, se tratava, na realidade, de um fenémeno mais vasto de
reorganizacao do poder politico.
No ambito da teoria da separacao dos poderes, estas implicagées do principio
de legalidade estabeleciam o primado claro do poder legislativo sobre o judicial,
despojando este ultimo, tanto quanto possivel, do seu contetido politico. Se ao pri-
meiro, exercido através dos representantes eleitos da nagao, era atribuida a fungao
dinamica do poder — isto é, directamente modeladora da ordem social -, aos tribu-
nais caberia a conservagao dessa ordem. Nao representando nenhuma forga socio-
politica, o poder judicial deveria apenas garantir o funcionamento do sistema de
limitagoes e cedéncias reciprocas entre a pluralidade de liberdades individuais e
politicas. Nesse sentido ia, de resto, a propria definigao de liberdade na Constitui-
ao de 1822, pela negativa e recortada pela presenga, essa positiva, da lei: «A liber-
dade consiste em nao serem obrigados a fazer o que a lei nado manda, nem a deixar
de fazer 0 que ela nao profbe. A conservagao desta liberdade depende da exacta
observancia das leis.»
Nesta formulagao, o valor considerado fundamental ao liberalismo (a liberda-
de) afirmava, na pratica, o primado politico-normativo da lei (0 princfpio da lega-
lidade). Entre liberdade e legalidade estabelece-se, pois, um vinculo inquebravel
~cada uma s6 existe mediante a outra. Ao poder judicial passaria a caber apenas a
garantia da conservagao desse vinculo, instituindo-se como agente vigilante dos
limites dos espagos de liberdade, quer dos individuos quer dos outros poderes
politicos, definidos pela lei. A sua fungao, teorizada como de defesa dos direitos,
liberdades e seguranga dos cidadaos, deveria, por conseguinte, ser exercida de forma
essencialmente repressiva™,
A matriz em que se redefiniu, nestas linhas, o modo de actuagao do poder judi-
cial foi, a partir do Vintismo, estruturada pelas varias experiéncias constitucionais
e de acordo com o ideal da codificagao legal. As duas constituigdes da década de
1820 fixaram as condigées e os limites de actuagao do poder judicial, nomeada-
mente o habeas corpus, o princfpio de igualdade perante a lei, a proporcionalidade
entre o delito e a pena, entre outros*. Para aplicar estes princfpios, alguns deles j4
Consagrados na chamada Lei de Imprensa, de 14 de Julho de 1821 - primeiro texto
juridico onde se definiam as grandes linhas da nova penalidade -, foi nomeada uma
comissao para preparar, com a maior brevidade possfvel, um Cédigo de delictos e
Penas, e da ordem do processo criminal”.
No plano das préticas penais, ressalta 0 contraste entre o lugar ainda reduzido
da prisdo, enquanto tipo de pena aplicada, ¢ a defesa, nos debates do Congresso, da
Sua extenséo e predominancia. De acordo com 0 estudo de José Manuel Subtil, a
prisdo representou, para os anos de 1821 a 1823, 15,9% da distribuigao das Penass
A pena aplicada a maior ntimero de condenados foi 0 degredo, de mai
punitiva mais frequente ja no fim do Antigo Regime. A sua vulgari
tudo, recente, constituindo o essencial da resposta ao problema de
sobrelotacao das cadeias nos reinados de D. MarialeD. J
pela dificuldade em realizar uma reforma penal
uma solugao de recurso, aliviando a situacao das prisdes sem impor grande
ou reformas. Era, no entanto, alvo de criticas por
E, com efeito, entre as primeiras medidas das C
efeitos retroactivos, da pena de degredo na de te
medida tenha tido, na pratica, grande dificuldade
crédito em que incorrera junto dos legisladores lib
$40 da populacao activa e provocava efeitos nefastos nas colénias™.
_ Apenade morte foi, mais do que o degredo, alvo das eriticas dos liberais vintistas.
: nte intimidatéria, nao emendava 0 criminoso nem Teparava 0
mal praticado. Entre os abolicionistas, duas posicoes se delinearam: os que defen-
diam a aboligéo total desta pena e os que as restringiam aos crimes contra a ordem
© 0 Estado. Nos debates sobre a questi, a obra de Bentham constituiu para os
defensores da aboligao, pelo seu argumento da utilidade das penas, a referencia
central. Forjaz de Sampaio, por exemplo ~ contra a orientagio da comissao, que
integrava, encarregue da elaborago do cédigo penal -, tomou partido pelos
abolicionistas, avangando o argumento da inutilidade da pena capital (nao servia
para a emenda do culpado) e 0 postulado politico, extrafdo da obra de Beccaria, de
que «se nao péde convencer de que os homens quando entréo em pacto social,
transmittao a outro o direito sobre a sua vida, que elles mesmos nao tem». No
entanto, tal como na Assembleia Constituinte francesa em 1791, a pena de morte
foi mantida®.
Sobre a prisao penal, a Constituigdo de 1822 limitou-se a reafirmar a necessida-
de do melhoramento da higiene e salubridade das cadeias, apenas prevendo, no
plano da sua organizagao interna, a separagao dos presos «conforme as suas qua-
lidades e a natureza dos seus crimes». Ainda que nesta medida esteja implicita a
teoria do «contégio criminal», denunciando a presenga de um objectivo Correccio-
nal, a seguranga permaneceu, no texto constitucional, como a principal fungao
isoes”®,
‘ss A pristo foi, na realidade, objecto de uma pluralidade de discursos muitas ve-
zes de sentido divergente. Em certos casos, por exemplo, predominou a imagem
depreciada da situagao prisional, o que tornava a prisio em sin6nimo de seston
lizag4o» ou do «contagio criminal», Noutros, a prisio encarnava as vintudes a
filosofia penal, sendo, pois, colocada no centro da penalidade. Se estes iscusoss
intersectaram e convergiram nalguns t6picos, nomeadamente oO da necessidade de
melhoramento das cadeias, parecem igualmente ter produzido efeitos de forma re-
lativamente auténoma. O tépico das prises como focos de corrupeao apontou ve
um uso mais cauteloso desta forma penal. E medidas como a pratica coe ies
crimes graves, passando a exigir a promincia sob detengao), e as leis de hal
degradagao »
Joao VI, problema agravady
de fundo. O degredo constituta
‘abalhos publicos"’, Embora esta
de aplicagao, testemunha o des-
erais, jé que implicava a diminui-
corpus: regulando a detengao, inscreveram-se no seu espago discursivo™. O elogio
$ otencialidades da Prisdo, por seu turno, colocou em evidéncia a sua capacida-
e adaptacao a um sistema de graduagées das penas, o seu cardcter mais iguali-
acima de tudo, as suas virtualidades correctivas. Neste caso, 0 discurso
prisdo implicava a sua vulgarizagéo enquanto pena e a sua inclusao em
projectos de disciplina social.
para além do plano estritamente penal, o t6pico das prisées adquiriu relevo no
dominio da satide publica, zona de debate claramente diferenciada pelo menos
desde a segunda metade do século xvi, incluindo temas como os da doenga e con-
tagio. @ salubridade do meio ambiente, a medicina curativa e preventiva e a assis-
tencia pablica. A «insalubridade» e o «perigo de contégio» constituiram a maior
preocupagao, no tocante as prisdes, da Comissio de Satide Publica (1821-1823),
criada com 0 objectivo de delinear medidas para a conservagao da «satide publica
dos povos>. Vista como foco de epidemias e factor de «corrupgao», a prisdo repre-
a um perigo do «contégio» que adquiria uma dimensdo moral e ameagava,
a sociedade.
ded
tario &
sobre 4
sentavé
nao s6 os criminosos ainda nao totalmente corrompidos, mas toda
A pattir destes t6picos, tomou forma um conjunto de prioridades para a construgao
das cadeias, entre as quais se contariam, para além da seguranga, a satide e a moral
dos presos; e de principios para a sua organizacao interna, nomeadamente a separa-
eclassificagao dos criminosos, e o combate a «ociosidade», considerada um dos
primeiro factores de «desmoralizacao»*,
Mas seriam estas medidas jé resultantes de uma visdo propriamente peniten-
cidria da organizagéo penal ou provinham de uma légica mais marcada pela vonta-
de filantropica? Impossfvel, neste periodo, fazer a destringa. A Comissao de Satide
Pablica, por exemplo, recebeu varios planos de cardcter filantrépico no sentido de
remover das ruas os «indigentes e mendigos» e simultaneamente melhorar as con-
digdes fisicas das cadeias®. E o desaparecimento da «casa de forga» anexa a Casa
Pia, durante as Invasdes Francesas, suscitou neste periodo varias iniciativas no sen-
tido de albergar, e ao mesmo tempo obrigar ao trabalho, os individuos acusados de
gio
vadiagem*.
Foi também dentro de um espirito declaradamente filantrépico que as Cortes
Constituintes criaram «Comissdes de Exame e Melhoramento das Cadeias», uma
para cada comarca, em finais de 1821“. O seu principal objectivo era o melhora-
mento das condigées fisicas e morais das pris6es, contando para isso com a contri-
buigdo de pérocos, notéveis locais, juristas e deputados. Simultaneamente, foi
diversas vezes proposta a aplicagéo de meios de tipo disciplinar, nomeadamente a
separagdo e a classificagao dos presos, o trabalho, a educagao elementar e a instrugao
religiosa. A referéncia a obrigatoriedade do siléncio revela o conhecimento das expe-
tiéncias penitenciérias que se faziam noutros paises, havendo mesmo noticia de um
Projecto para uma nova priso segundo o modelo panéptico de Jeremy Bentham*.
_ Embora a falta de meios e de continuidade do trabalho das comissdes tenha
impedido a concretizagao destes projectos, algumas medidas foram tomadas. De
forma pontual, parece ter havido alguma preocupagao com as condigoes das ca-
, em particular com a situag4o dos doentes e velhos; organizaram-se recolhas
jidou-se mais da assisténcia Teligiosa e a
plinar, foi dada alguma atengay a"
os de separacio dos presos. A Comissio da Comarca de Lishon
aspecto,particularmente activa ao conseguir distrbuir os presos por pring
rentes de acordo com o sexo. Assim, 0 Aljube, antiga prisdo eclosidstica, fey
tido em cadeia para mulheres e modificado na sua arquitectura de
reclusas do exterior e entre si. Também no Limoeiro se construiu
isolar a prisdo do exterior e se introduziu o trabalho, medida c
continuidade desconhecemos".
Em 1826, 0 entao ministro da Justiga criou novas comiss6es para a promogio ¢,
reformas nas cadeias. O perfodo miguelista e a guerra civil viriam a determinar y i"
interregno na politica penal do liberalismo. Em 1834, D. Francisco de Almeida,
autor de um dos primeiros textos a tratar especificamente a questao da onganizacag
das prisdes em Portugal, avaliava os resultados do trabalho das comissées da déca-
da anterior nos seguintes termos:
ete
S dite,
‘ODVep.
forma a isolar 5,
1 uM muro parg
uja incidéncia .
«FFlorao porem de breve duragéo aquelles melhoramentos, ¢ os homens a cujo saber ¢
zello elles erao devidos fordo substituidos por empregados de notoria incapacidade.»*”
2 — GUERRA CIVIL E EX{LIO
Ao entrar em Lisboa no dia 24 de Julho de 1833, uma das primeiras medidas
do exército liberal foi a libertagao dos presos politicos do perfodo miguelista. Nas
suas Memérias, 0 marqués de Fronteira recorda a impressao causada pela «fisio-
nomia» dos presos libertados dos calabougos do Limoeiro, que denunciava «os
sofrimentos e fomes por que tinham passado», lembrando que grande parte deles
eram «individuos da primeira sociedade»". Os da Torre de S. Juliao eram, por seu
turno, muito mais numerosos do que os do Limoeiro «e mais importantes pela sua
posigao social».
Em 1833 e 1834, Joao Baptista da Silva Lopes publicava quatro volumes descre-
vendo os tormentos sofridos pelos presos da Torre de S. Juliao da Barra, onde perso-
nalidades importantes do Vintismo, como Pedro de Melo Breyner e Manuel Borges
Carneiro, vieram a encontrar a morte. A Histéria do Cativeiro dos Presos de Estado,
obra utilizada por Oliveira Martins como principal fonte para a descrigdo do «terror
miguelista», figuraria entre os testemunhos liberais mais expressivos da utilizagéo
da prisao pelo regime absolutista durante a guerra civil. Embora a forca tenha sido
provavelmente o seu aspecto mais visivel, o ntimero de execugoes — 115, segundo
Henriques Seco — foi relativamente pequeno (Oliveira Martins compara-o ao ntime-
ro de guilhotinados da fase de terror da Revolugao Francesa). O «terror miguelista»
teria assentado, sobretudo, nas perseguicées, na falta de garantias juridicas e no
regime das prisdes, repletas de presos politicos™.
Se a prisdo de Antigo Regime, enquanto espaco onde o poder parecia exercel”
-se arbitrariamente, se havia j4 constitufdo em signo de uma ordem social a abatet,
arcere miguelista veio, de algum modo, ampliar esses atributos. A equivaléncia
entre 08 elementos que constitufam a negatividade do conceito de «cArcere» e 0
aspect? tiranico e desordenado do absolutismo é testemunhada por D. Francisco de
‘Almeida em 1834:
«Nao estao longe de nés os tempos calamitosos em que o cruel marquez de Pombal (1) fez
morrer hum grande numero de innocentes, nao s6 sobre o cadafalso, mas em carceres
subterraneos, immundos, sem luz, sem ar, sem nenhuma especie de alivio [...»
Em nota (1), 0 autor referia que «{o] marquez de Pombal, de horrorosa memoria,
estabeleceo em Portugal hum governo nao sé absoluto, mas arbitrario»™.
A passagem de muitos liberais pela prisdo parece, pois, ter contribuido para a
reactivagao e politizacao, no pés-guerra civil, do t6pico iluminista da reforma das
risoes. Certo € que a realidade da prisao entrou no campo da experiéncia social da
futura classe dirigente. E isto é tanto mais significativo quanto tivermos em conta
que, pelo menos na capital, a experiéncia da prisao era, no inicio do século x1x,
essencialmente a de uma populagao urbana proletarizada. Segundo o Mappa Geral
dos prezos relativo as cadeias de Lisboa, por exemplo, em 1807, os grupos mais
representados entre os 419 presos eram o dos trabalhadores nao especializados (93),
o dos que nao declararam oficios (87) e 0 dos vadios (35), seguidos por maritimos
(4) e militares (32) e os varios oficios de extracgdo urbana®. Os grupos sociais
dominantes escapavam, pois, ao mundo prisional do Antigo Regime; e, nas raras
ocasides em que com ele se cruzavam, o sistema permitia-lhes manter as suas posi-
des de privilégio no interior do espago prisional®*. A énfase do marqués de Frontei-
ra na alta posigdo social dos presos do Limoeiro e da Torre de S. Juliéo da Barra
tinha, pois, uma dimensao politica. Ao mesmo tempo, 0 autor tocava numa questao
importante da organizagao penal: o uso do carcere como instrumento de opressao
pelos miguelistas subvertia a regra tacita da prisio de Antigo Regime —a garantia da
manutengao da hierarquia social. A prisao miguelista oferecia-se assim ao discurso
liberal como signo da ilegitimidade penal e sociopolitica.
Um outro tipo de experiéncia, também ligada a guerra civil, que marcaria forte-
mente o movimento reformista da penalidade, apés 1834, foi o exilio™. Em Londres
ou Paris, o exilio permitiu aos liberais portugueses 0 contacto com os importantes
desenvolvimentos que, na esfera penal, se observavam na Europa e nos Estados
Unidos desde a década anterior. Uma anélise muito breve das obras onde foi abor-
dada a questao penal, publicadas no contexto do exilio, sera suficiente para preci-
sarmos um pouco melhor a sua importancia no desenvolvimento dos discursos e
Politicas penais em Portugal.
Em 1832, José Ferreira Borges publicou as Instituigdes de Medicina Forense, obra
apresentada como stimula de conhecimentos adquiridos em Londres®. Com efeito,
@ medicina legal tera sido a primeira disciplina cientffica em que foram tratadas
Quest6es como as da inimputabilidade penal e os efeitos juridicos da «alheagéo
Mental», questoes que implicavam novas praticas de observagao dos criminosos.
No mesmo ano, D. Francisco de Almeida publicou as Breves Consideragdes sobre
a Necessidade e Meios de Melhorar as Prisées em Portugal, obra onde tratava q
organizagao interna das prisdes e onde encontramos uma das primeiras tentativas
em Portugal, de contribuir para o projecto de uma ciéncia penitencidria. Dois anog
depois, vinha a lume o Manual do Cidadéo em um Governo Representativo, de Si).
vestre Pinheiro Ferreira, onde a questao das prisées era tocada a propésito do tema
da liberdade individual®.
Estas trés obras permitem colocar a hipétese de que a experiéncia do exilio teve
impacto em trés locais da articulagao dos discursos ¢ praticas penais: a teoria jurt-
dica da organizacao social, sobretudo o direito constitucional, administrativo e penal;
a ciéncia da prisao penal, ou ciéncia penitenciédria; e as ciéncias médico-criminais,
areas do saber em formagao que constituiam em objecto, ao mesmo tempo que se
constituiam a si prdprias, a figura do «criminoso».
Adiante avaliaremos, com maior detalhe, a importancia destas zonas do debate
publico na elaboragao dos discursos e politicas penais. Por agora, limitemo-nos a
sublinhar outro aspecto sugerido por estas publicagées — a importancia da Franca
no desenvolvimento das concepg6es penais em Portugal. Com efeito, 0 exilio e a
monarquia de Julho amplificaram o ascendente da Franga sobre os liberais portu-
gueses, constituindo-a no campo politico-penal, entre outros, como modelo ou me-
diador de conceitos penais desenvolvidos noutros paises. Da andlise das obras
publicadas nos anos 1830 e 1840 resulta, por exemplo, que as ideias e técnicas
correccionais desenvolvidas nas penitencidrias norte-americanas chegaram a Por-
tugal, em grande parte, pela mediagao de autores franceses. E as diversas cambian-
tes da filantropia em Franca, a guarda da qual todo o discurso penal se colocou,
vieram pouco depois a reflectir-se em Portugal.
3 — O PROBLEMA DA «ORDEM»
Em 1837, José Manuel da Veiga, no prefacio do seu Cédigo Penal, aludia a «im-
punidade e alluviao de crimes, que tem innundado a sociedade»”. No ano seguinte,
Alexandre Herculano referia-se a «crimes que como uma torrente alagam Portu-
gal»**, Representativos dos muitos testemunhos onde se manifestou a preocupacao
com os problemas da ordem, estas duas citagées ilustram a percepgao entre os gru-
pos sociais dominantes de que o pais saido da guerra civil mergulhara na desordem
e anarquia. Essa desordem era caracterizada pelo aumento da criminalidade e da
inseguranga e tinha uma ligacdo estreita com as perturbacées da vida politica.
Com efeito, a dificuldade do Estado liberal em afirmar a sua autoridade dere
lugar a organizacao de «clientelas» e «guerrilhas» (na formulagao de Oliveira Martins),
que disputavam entre si a ocupacao de um vazio de poder®. Apesar do caréctet
lacunar das estatisticas, hd de facto indicios de um aumento da criminalidade vio
lenta, nomeadamente de crimes contra pessoas, nos tiltimos anos da década de
1830. De acordo com Maria Joao Vaz, este tipo de crimes — sobretudo homicidios
ferimentos e rixas - representavam 31,6% dos delitos. Ainda assim, os crimes a
tra a propriedade apresentavam um valor ligeiramente superior (32,8%)- Até 8
yerificou-se um aumento percentual dos crimes contra pessoas (36,5% em 1838 e
29 em 1839), embora, Como refira a autora, esse aumento possa ser atribuivel a
* gub-registo de crimes considerados menores”,
A dificuldade do Estado em assegurar a ordem publica tornava-se particular-
mente evidente no eumertto da incidéncia de um tipo particular de crimes contra as
s: 08 casos eufemisticamente designados de «justica popular», Ainda em 1867,
odeputado Faria Rego lembrava, por exemplo, que nos anos de 1836 e 1837 haviam
aumentado as formas de justica popular que «prendeu e matou sem processo nem
gentenga> mais de 40 individuos s6 no Minho",
Nao surpreende, pois, que algumas das primeiras medidas tomadas no sentido
de combater 0 crime e repor a ordem social se tenham ligado a reorganizagao das
forgas policiais. Logo em 1834, criou-se a Guarda Municipal para substituir a Guar-
da Real da Policia®*. Porém, muito dos discursos e politicas dirigidos a esses fins
jnscreveram-se mais no campo restrito da penalidade. Encarada como prova de
uma superioridade moral do liberalismo, a reforma das instituigdes penais consti-
tuiu um factor importante de demarcagao relativamente ao absolutismo. Este as-
pecto ¢ evidente em varios textos juridicos dos anos 1830, incluindo o periodo da
guerra civil, em que vigorou um sistema judicial e penal de excepgéo. Podemos
citar, a titulo de exemplo, o Decreto de 29 de Julho de 1832 de Mouzinho da Silveira,
que, mesmo estabelecendo penas extraordindrias para a situagdo de guerra e
estatuindo a pena de morte para assassinos e incendiérios®, incluia um relatério
que o distanciava assim da penalidade miguelista:
«(Eum decreto] contrario a todos os excessos, em nada se parece com aquellas sanguinarias
alcadas, e horrorosas comissées, que a usurpagio inventou; e a malificagdo das penas
que nestas circumstancias indica A Nagao Portuguesa a differenga que existe entre a
legitimidade e a tyrania.»*
Ao longo dos anos 1830 e 1840 foram tomadas diversas medidas no sentido da
reforma da penalidade. As questes julgadas prioritdrias foram a elaboragdo de um
cédigo penal e o melhoramento das condigées das cadeias, com introdugao de pro-
cedimentos disciplinares na prisao penal. Num segundo plano, devemos referir a
importéncia atribufda a criagdo de um sistema de informagao sobre a aplicagao das
penas.
O projecto da codificagao legal foi retomado pelos liberais ainda durante a guer-
Tacivil, vindo mais um decreto de Mouzinho da Silveira, datado de 18 de Agosto de
1832, a criar uma comissdo para redigir dois cddigos, comercial e criminal. O cédi-
80 criminal deveria substituir o Livro V das Ordenagées Filipinas «aonde foram a
smo copiadas as leis de Caligula, e Néro»®. No texto do decreto, considerava-se
que a severidade das penas estatuidas nas Ordenagées levava, na pratica, a impuni-
dade dos delitos ou a desproporgao das penas em relaco aos crimes. O cédigo era
Portanto justificado pela necessidade de um sistema de graduagao de penas que as
‘omasse certas e justas. Ora esse sistema s6 seria conseguido através da pena de
Privagao de liberdade, cuja medida - o tempo — podia ser rigorosamente distendida
ou seccionada. E como observaria um deputado alguns anos mais tarde, 0 Livro v
das Ordenagées atribuia a prisdo apenas a fungao de segurar 0 Téu OU, enquanto
pena, um carécter meramente acessério™. O cédigo ligava-se assim, de forma estrej-
ta, com o processo de expansio da prisdo na penalidade.
Para a elaboragao de um cédigo penal, voltou-se aos sistemas de prémios e das
comissées jé experimentado, sem sucesso, na década anterior. Em 1835, foi aberto
concurso para um projecto de cédigo penal. Entretanto, em 1833, o jurisconsulto
José Manuel da Veiga ofereceu ao Governo, a titulo independente, um projecto
de cédigo criminal. Este Projecto ficaria esquecido até ao Setembrismo; em final de
1836, foi recuperado e, depois de revisto por uma comissao que integrava 0 seu
autor, promulgado como Cédigo Penal da Nagao Portuguesa por decreto de 4 de
Janeiro de 1837. Porém, este Cédigo Penal, que vigoraria sé enquanto um projecto
considerado melhor nao fosse aprovado, nunca chegou a ser posto em pratica’”.
Aelaboragao de um cédigo penal estava estreitamente associada com os t6picos
do «progresso» e da «suavizagao» das penas. No Cédigo de José Manuel da Veiga,
por exemplo, apesar de se manter a pena de morte, considerada ainda necesséria,
colocava-se como horizonte — quando o «progresso da civilizagéo» 0 permitisse ~
sua abolicao. Nele emergia jé o tema da substituigao da pena capital pelo sistema
penitenciério como simbolo de «civilizagao». Mas, sobretudo, mostrava que uma
das questées mais dificeis com que a elaboragéo de um cédigo teria de lidar era, em
termos praticos e simbélicos, precisamente a da pena de morte. Tratava-se, como
vimos, de um modo punitivo julgado defeituoso a luz da cultura penal do liberalis-
mo vintista.
Ainda que se mantivesse na lei, a pena capital nao foi aplicada desde o fim da
guerra civil até 1837. Neste periodo foi apresentado o primeiro projecto de lei para
a abolicao desta pena, embora ainda com excepgoes®®. Contudo, em 1837 a pena de
morte voltou a ser aplicada. Em 1839, o Didrio do Governo publicava a noticia oficiosa
de uma execugao no Porto e de outra a ocorrer em Coimbra. As justificagdes que a
acompanhavam constituem um indicio da logica que esteve por detrs da reactivacio,
dois anos antes, da pena capital: «Tem-se dado assds a clemencia, era necessario
satisfazer a justiga, e que a brandura e a impunidade dexassem de ser uma provoca-
Gao indirecta ao delicto.» O texto prosseguia garantindo que o Governo estava
firmemente empenhado em fazer respeitar as leis e estabelecer a ordem e a segural
Ga, 0 que s6 poderia ser obtido «quando ao crime se seguir indefectivel a pen»”.
Assim, contra as convicgées de alguns liberais (nomeadamente Alexandre Hercule
no), a reactivagao da pena de morte parece ter residido na conjugagao de dois fact”
Tes: a percepcao de desordem e de desrespeito pela lei e autoridade do Estado, 1"?
se traduziam no aumento dos indices de criminalidade; e a falta de instrument
Penais de intimidagéo, em particular a garantia de que ao crime se seguirlé a a
castigo, gerando um sentimento de impunidade e as chamadas formas do it
Popular. A pena capital deveria ser simultaneamente uma pena intimidatont 0
a fungao de fazer respeitar a lei, e um modo de afirmar a autoridade do B00,
que se sabe, a pena de morte deixou de ser aplicada, para os crimes civis, @ we od?
1846. De acordo com 0 Relatério da Comissao do Cédion Penal de 1861: 22
e decorreu entre 1837 e 1846 foram executados 34 individuos, tendo a diltima
ave“ ¢ao.na metr6pole, por um crime civil, ocorrido em Abril de 1846 na cidade de
71, No perfodo pés-revolucionério, a necessidade de se encontrarem formas
astjamar a utoridade do Estado assumiria carécter de urgénecia
No respeitante a prisao penal, embora nao tenha havido nenhuma reforma de
fundo durante as décadas de 1830 e 1840, a situagéo degradada das cadeias mere-
ceu alguma atengao por parte da classe politica, sobretudo no ambito de preocupa-
pela higiene e satide ptiblica. Os governos setembristas foram particularmente
activos neste dominio. Entre final de 1836 ¢ 1839 foram promulgados varios di-
plomas regulamentando a «policia interna» e a inspecgao das cadeias’’; e em 1837,
Passos Manuel criou o Conselho de Satide Publica, primeira medida global para
onganizar 0S servigos de higiene a escala do pais”. No inicio da década de 1840,
tiveram lugar alguns melhoramentos nas Cadeias Civis de Lisboa e Porto. Porém,
rapidamente viriam a ser considerados insuficientes. Em relagao 4 Cadeia do
Limoeiro, por exemplo, denunciava-se a incapacidade de separar os presos em
rocesso dos condenados e a sua localizagao no centro da cidade, considerada
inconveniente para o publico e para os reclusos”. Outro problema, nesta cadeia,
era o da sobrelotagao, que se tera agravado com a transferéncia dos presos do
Presidio de Cova da Moura, apés a sua extingao em 1843. O Limoeiro tornara-se,
além de local de cumprimento de penas de prisao, «depésito geral» dos condena-
dos de todo o reino em transigdo para o degredo’*.
A publicagao destes diplomas manifesta a intengao de introduzir uma légica
disciplinar no espago prisional. Nesse sentido, podemos relaciond-la com a criagéo
de duas instituigées com objectivos correccionais. Em 1836, foi estabelecido no
antigo Convento dos Capuchos, em Lisboa, um Asilo de Mendicidade para onde
seriam remetidos os «vadios e vagabundos» que, sem autorizagao de pedir esmola
segundo a lei vigente, reincidissem na mendicidade’*. E trés anos depois seria pro-
mulgado o primeiro projecto penitenciério em Portugal. Tratava-se de uma casa de
correcco a instalar numa parte do edificio do Convento de Xabregas”’, para cerca
de 200 presos, na sua maior parte em regime comum, prevendo-se entre 40 e 50
celas individuais. Segundo Fonseca Magalhaes, que assinou 0 seu regulamento en-
quanto ministro da Justica’®, o regime de separagao celular nocturna s6 poderia ser
introduzido na Casa de Correcgao de Xabregas mediante uma despesa considerada
incomportavel para o Estado”’. Por conseguinte, a maior parte dos reclusos nao
seria abrangida pelo sistema de separagao celular durante a noite, o que era consi-
derado um dos grandes defeitos do projecto. Outro aspecto negativo do projecto de
Xabregas, segundo o deputado e ex-ministro, era o facto de nao se definir na lei os
casos a que corresponderiam penas penitenciérias, para além do requisito de se
ttatarem de condenagées em mais de dois anos”. Os princfpios penitenciarios fica-
vam, contudo, salvaguardados pela obrigatoriedade do siléncio durante a noite e
tas horas de trabalho e refeigao. Este estabelecimento seria administrado por uma
companhia de fiagao (a Companhia de Fiacao de Tecidos Lisbonense, com o qual 0
Governo chegara a celebrar um contrato), que se encarregaria de fazer os presos
ttabalhar e tornar as penas produtivas.
7 ‘on-
fiagao, que assumia o ¢ jgria. Num segundo con
das matérias-pri, tipul i
. ‘primas. O contrato estip' ‘ venci-
dias os presos nada receberians pelo seu trabalho. Passado esse perfodo o seu
mento seria um tergo menos que o «ornal» de qualquer outro ope! dae ae oe
apés 0 comego da aprendizagem, o saldrio seria pago sem a diminuigao A ie :
O local era considerado adequado: nao se encontrando no centro da cidade era
ainda proximo da capital, o que possibilitava as visitas frequentes de comiss6es de
'Mspeceao compostas por deputados; além disso, era considerado «bem arejado e
salubre». Porém, o projecto de Xabregas néo foi levado a prética, aparentemente em
Consequéncia de um incéndio na parte do edificio que estaria destinada & peniten-
Fiala. Depois disso nunca foi retomado, o que se justificou com a fata de condigoes
financeiras®,
O investimento disciplinar no espago prisional teré tido o seu momento mais
importante em 1843, an
‘0 da publicagao do Regulamento Provisério da Policia das
Cadeias, que definiu as bases da administragao interna das prisoes até ao inicio do
século xx". Neste diploma, podemos sistematizar em cinco as grandes linhas para a
administragao e disciplina prisional: a obrigacéo de higiene e salubridade do espa-
G0 prisional sob a responsabilidade de um médico™; a introducao de principios
de disciplina e de «moralizagao» das prisées (proibigao do jogo, do uso imoderado de
Alcool, de desordens, de entrada de individuos Suspeitos ¢ safdas arbitrdrias)*; um
sistema de direitos e deveres dos presos (proibigéo do agravamento das penas e da
extorsao de dinheiro, garantia da integridade fisica, etc., tendo Os presos os deveres
de ser obedientes, sossegados e honestos, cumprir as obrigagées religiosas, nao
jogar, nao se embriagar, etc.**); uma rigorosa definigao funcional dos empregados
da priséo”; a separacao dos presos segundo os crimes, a condicao social, » SEXO, a
idade e o estado do processo™.
Poderfamos, talvez, acrescentar 0 cuidado pela informag:
presos pelo guarda-livros. Determinava o regulamento que para além dos h shies
dados sobre a sua identidade e ocupagao, também os sinais, feicdes do rosto, mar-
cas, deformidades e alcunhas, com as quais deveria fazer tabelas de correspondén-
cia com os nomes de baptismo e organizar indices alfabéticos, deveriam ser
cuidadosamente compiladas". O objectivo desta recolha e sistematizacao de infor.
magao era tornar possivel 0 rastreio das reincidéncias («para se descobrirem e acu.
mularem as diversas culpas dos réus»). A mesma preocupacao orientoy, de resto, o
esforgo para a produgao de estatfsticas ea e Pa @ partir de 1834, Entre
1835 e 1849, foram oe eee ata 0 epera Sentido™, Se 4
rn i infcio, colocada no oe adminj. .
ne ot Seige dos anos 40 atribuiu-se também importanein eum *
40 a recolher sobre os
justiga,
jmento da criminalidade como base de reformas penais"!. Como lembrava
conker jtista do perfodo, Jodo Vasconcelos © Alvim, a estatistica, necesséria para 0
am Mecimento dos niveis de reincidéncia, devia, pois, ser encarada como meio in-
conker vel na avaliagio da eficécia do aparelho penal
disprvriteragio de medidas no sentido de promover a produgio de estatisticas
ela o empeno politico em conhecer o mundo penal ¢ criminal, empenho que
radicaria numa ideia comum 4 época, de acordo com um importante estudo de lan
Hacking: de que a simples enumeragio ¢ classificagdo da populagéo «desviante»
favorece 0 sel controlo - Nao 6 menos certo, porém, que essa frequente renovagao
de medidas exprime igualmente a dificuldade, infra-estrutural e em meios huma-
nos, da sua concretizagao, Por falta de continuidade, uniformidade, exaustividade
e por insuficiéncia técnica, os resultados eram invariavelmente considerados pou-
co satisfatérios™.
4—DA PUNIGAO
A década de 1840 foi marcada pela diminuigao da incidéncia da criminalidade
em geral, que era, no entanto, ainda caracterizada pelo recurso frequente a violén-
cia®’, Tratava-se, afinal, de uma sociedade ainda estruturalmente violenta, sobretu-
do nos meios rurais®*. Como explicar, entao, o crescente interesse da classe politica
pelo problema da repressio penal e pela pequena delinquéncia em particular? Ou
néo visava o pretendido sistema penitenciério, na diversidade de matizes das pro-
postas e medidas que o tomaram como objecto, o bloqueio das chamadas carreiras
criminais, quer pela prevengao do «contagio criminal» quer pela «regeneragao» do
criminoso, e que se dirigia, por conseguinte, mais a figura do delinquente inveterado
que a do grande criminoso de ocasiao, mais ao relapso astuto do pequeno crime que
ao violento autor de um crime de sangue? Teré existido uma falha entre a realidade
da evolugao criminal e a percepgao das classes dirigentes? Na verdade, a questao
deveria, antes, abrir para outras possibilidades de relagao entre essa evolugao e os
conceitos e politicas penais, colocando ao mesmo tempo a hipétese de estes tlti-
mos se relacionarem com outros planos da vida social e politica para além da ques-
tao criminal. Interessa, por isso, adoptarmos 0 ponto de vista dos discursos penais
€ vermos, por um lado, como eles trabalharam o problema do crime; por outro,
inquirir sobre as suas relagdes com os diversos dom{nios da fabrica da ordem social.
4) Campos da penalidade
Vejamos, em primeiro lugar, em que campos temiticos foi tratado o problema
da penalidade, ou, o mesmo é dizer - a partir de que pontos de vista foi tratado o
Problema da penalidade? Deparamo-nos imediatamente com um conjunto de textos
que, embora diversos entre si, podemos agrupar no campo de uma teoria da organi-
Za¢Go social. Incluimos aqui a filosofia politica, a teoria do direito constitucional
ainda certos textos surgidos Sob
a os fundamentos, Por Consegyj,,
0 ele — € 6 este 0 principal dos So,
eordenagao social levada q cab,
0
8
e administrativo, a filosofia do direito pe
signo da economia politica. Este foi 0 plan
© mais abstracto do discurso sobre as Penas:
efeitos se fez derivar a organizagao penal de vm
de acordo com os princfpios liberais. ituiu-se como ciéncj
O segundo ns de emergencia do temé penal ae ao ponto det
tencidria, O discurso sobre as penitenciarias autono 7 Sq
ciéncia em projecto. Novo campo do
forma a uma protodisciplina, de existir como tou com trés géneros distinto
saber, a ciéncia penitencidria deste periodo conto is,
: istoria do si ;
por vezes se combinavam num mesmo texto: 0 ee a Peni.
tenciério e a anélise comparada dos regimes penitencianos. ~ primeiro consistia ny
iplinar e administrativa que deveriam
exposigao dos principios de natureza disc mm :
edule a eee das penitenciérias (¢.g-, @ Meméria..., de D. Francisco de
Almeida, ou a Dissertagao inaugural de conclusées magnas. [antagens do sistema
penitencidrio), de Vasconcelos e Alvim, de 1845). O segundo foi de tipo essencial
mente narrativo, procurando evidenciar o «progresso» do sistema penitenciario (eg,
a tradugdo de A Historia do Systema Penitenciario..., de Charles Lucas ou ainda as
primeiras péginas do texto de Vasconcelos e Alvim’”). Por fim, 0 terceiro foi de
cardcter descritivo-comparativo, orientando-se mais para uma sociologia do mun-
do prisional. Como subgénero deste, devemos referir a viagem penitencidria, relato
de um périplo feito pelo autor/observador pelas prisées de varios paises. Para este
{iltimo caso nao encontrémos, para este perfodo, produgao portuguesa original.
Porém, tratou-se de um género com enorme impacto na elaboragao discursiva do
topico da penalidade, como se verd pelas referéncias dos deputados, no debate de
1844, a obra de Beaumont e Tocqueville e aos relatorios de directores penitencié
rios norte-americanos. Fundado na comparagao dos regimes penitencidrios de acor-
do com critérios estritos de utilidade e eficdcia, na procura, quase sempre pela
apresentagao de estatisticas, de uma construgao objectiva dos argumentos, e na
articulagéo com as ciéncias médico-criminais, 0 relato da viagem penitenciéria foi,
neste periodo, o género penal mais marcado pelo ideal de cientificidade.
Em sentido idéntico, Jacques-Guy Petit identificou, para as obras dos especia-
listas franceses da década de 30, duas direcgdes complementares: os estudos
marcadamente hist6ricos ou te6ricos, como os de Charles Lucas e Moreau-Cristophe:
e os trabalhos de investigagao que inauguraram 0 método sociolégico, privilegiando
a entrevista, a estatistica, a experiéncia prisional concreta e a problematica, avul
tando aqui a referida obra de Beaumont e Tocqueville.
Em Portugal, o tema das penas surgiu também, ainda que subsidiariamente, 24
varias disciplinas que tomaram o individuo como objecto de saber, em espe!
quando o seu comportamento era considerado «desviante» e, como tal, perigos?
Para a sociedade. A estas disciplinas podemos chamar globalmente, j4 que Pou?
diferenciadas entre si, de ciéncias médico-criminais, neste periodo, a medicina 1”
tense, de fronteiras imprecisas com o higienismo, conteve, talvez, o primeiro
saio do que viria a constituir uma criminologia, no sentido de uma ciéncia do hom?
criminalis®. Como referia José Ferreira Borges na Introdugao as Institwigdes ©
jcina Forense, de 1832, «0 nosso objecto 6 0 homem na sociedade, assim no seu
omo no seu moral. Temos que julgar o homem nas suas acgoes civis &
yon © ra com a sociedade, e para com os outros homens», No plano do
crimingtyo, por seu turno, Francisco Cruz, médico, professor na Universidade de
bre e vico-presidente do Conselho de Satide Piblica do Reino, publicou em
wt um extenso relatorio onde, depois de avaliar a perigosidade social das prosti-
tutas, propunha 0 estabelecimento de casas de correcgao em Lisboa e Porto, com
qisciplina idéntica as penitenciérias, e casas de reftigio (ou de nvertidas»)"”".
b) Temas
Do ponto de vista dos contetidos, o discurso penal foi dominado por trés temas ~
aumgencia de uma nova penalidade, a importancia da andlise do objecto da punigao
eosistema penitenciério como auxiliar da «regeneragao» nacional.
Aurgéncia de uma nova penalidade. Se a penalidade deveria ser extrafda dos
princfpios gerais da organizagao social, 0 tépico do «pacto social» veio ocupar oO
Tugar de principio fundador da nova ordem penal". Neste caso, a transposicao do
tema do «contrato» da teoria politica geral para o dominio penal havia sido feita por
Beccaria e era agora recuperada. Esta abordagem dedutiva tinha varias consequén-
cias, Por um lado, dividia o problema da penalidade numa teoria e numa pratica.
Cardoso Braga justificava a escolha de traduzir a Historia do Systema Penitenciario.
de Charles Lucas, em vez da sua obra sobre a pena de morte, por pretender mostrar
nio jé a «leoriay sobre a abolicdo da pena capital, amplamente desenvolvida na
linha de Beccaria, mas a «prética» das penas que a visavam substituir'®. Inversa-
mente, Alexandre Herculano tratou a questao da pena de morte de um ponto de
vista tedrico - o da sua legitimidade™* - e de um ponto de vista prético - 0 da sua
eficdcia preventiva da criminalidade.
‘Ao lado da nogao de contrato perfilava-se o principio da utilidade como funda-
dor da ordem liberal e segundo requisito das penas. Este principio era, de alguma
forma, produto da mesma ideia de que a sociedade resultava de um comércio entre
oindividuo e o Estado, em que cada cedéncia daquele deveria ter uma contrapartida
estrita por parte deste (por exemplo, a cedéncia de parte da liberdade em troca
do direito de defesa e seguranga por parte do Estado). Todo 0 exercicio coercive do
poder deveria ser justificado por uma cedéncia de direitos individuais em beneficio
da sociedade e, no limite, de cada individuo. Assim, para que o princfpio da utilida-
de pudesse ser aplicado impunha-se a permanéncia das duas partes do contrato, 0
que implicava que o Estado tinha direito de punir, ainda que em nome da defesa da
sociedade, apenas enquanto nao anulasse o individuo sujeito 4 punigao."°*
Os princfpios do contrato social e da utilidade forneciam assim, simultanea-
mente, critérios de exclusao e de legitimagao das diversas formas penais. As penas
de morte e perpétuas, assim como os castigos corporais enquanto forma de manter
disciplina, foram rejeitados nessa base”. A penalidade inscrevia-se agora num
Sistema de direitos: as condigdes de detengao eram objecto de regulamentagao,
prevendo-se nao s6 os meios disciplinares permitidos mas Barantindo os presoy
contra os maus tratos'”’, Por outro lado, a nova penalidade deveria ser fundamen,
talmente preventiva. Neste contexto, afirmaram-se como t6picos do discurso Penal
a substituigdo da pena de morte pelo sistema Penitencidrio, a purificagao Mora}
do espaco da prisdo (isto 6, a privagdo de tudo aus nao fosse absolutamente neces,
sério A conservacao da vida e satide dos presos)'; ¢ a transformagao do presidio em
col6nia penal", .
A utilidade da pena nao se circunscrevia, porém, a sua capacidade Preventiva
do crime. A penalidade exigia-se também uma contribuigao para o progresso mate.
rial do pais. Nesse sentido, deveria estar coordenada com 9 desenvolvimento de y m
capitalismo industrial. Dissertando acerca do trabalho prisional, Silvestre Pinheirg
Ferreira defendia que a sua remuneragao teria de incitar 0 desejo de lucro (até Para
fomentar o gosto pelo trabalho); e nao ser inferior ao prego do trabalho no mercado,
© que prejudicaria os interesses das classes industriais"™.
Com os principios do contrato social e da utilidade podia coexistir o tema da
«protecgao da sociedade», que remetia j4 nao para uma l6gica correccional e preven-
tiva, mas socialmente defensiva e retributiva. Este t6pico justificava, para Pinheiro
Ferreira, a manutengéo do degredo enquanto pena complementar a penitencidria e
depois de garantida a correcgao do criminoso: «em quanto a sociedade nao readquirir
aquella intima seguridade que o culpado destruio, a lei esta obrigada a afastar do
seu seio aquelles que lhe inspiram esse desasocego»'”, Aqui o ponto de vista adop-
tado era o do direito da sociedade a seguranga e a ordem.
Aanilise do objecto da punigao. A eficacia preventiva, e por assim dizer produ-
tiva, das penas dependia da conformidade ao seu objecto de aplicagao. De acordo
com os textos do periodo, essa exigéncia de conformidade tinha duas ordens de
consequéncias: implicava a constituigdo de saberes e representagées sobre o crimi-
noso; e impunha o desenvolvimento de técnicas de correcgao adaptadas aos varios
tipos criminais e de formas de verificagao da sua eficdcia.
O primeiro aspecto é observavel, desde logo, na elaboragao de um discurso
sobre o homem criminoso. No plano das representagées regista-se o surgimento
ou reafirmagao de imagens do criminoso como «espirito atrofiado», «selvagem» ou
identificado com as «classes inferiores»™®, Jé em 1834 surgia também, na literatu-
Ta penal portuguesa, a ideia de uma «predisposigao natural» para os «vicios» e sua
transmissao hereditaria™. Trata-se j de uma concepgao de determinismo organico
do crime; configura, porém, um determinismo mitigado, uma vez que as predis-
Posig6es eram consideradas Teversiveis, e com pouco peso no sistema de repre-
sentagées.
Por sua vez, a urgéncia do desenvolvim
nalada, em primeiro lugar, pel:
nomeadamente das prises"
punhaa especializacao das «c
delitos e crimes, Cada uma di
dens» segundo a «graduacao
menores teriam estabelecime:
ento das técnicas de correcgao foi assi-
‘as propostas de especializagao dos meios punitivos:
e das colénias penais. Silvestre Pinheiro Ferreira pt!
‘asas de detengao» em trés tipos — para contravengoe
estas deveria, por sua vez, estar dividida em trés «oO
da culpa» dos presos; além disso, as mulheres ¢ %
ntos préprios, estes ultimos divididos ainda de acord?
ma idade (até aos 14 anos; entre 08 14 ¢ 08 18; entre os 18 6 08 21)", O Codigo
nal, de Manuel da Veiga, previa quatro espécies de prisdes: «cArceres» para per
de reclusio,
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Direitos Fundamentais SebentaDocument164 pagesDireitos Fundamentais SebentaRaquel DuarteNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Sebenta Dto. ReaisDocument120 pagesSebenta Dto. ReaisRaquel Duarte100% (2)
- Statement of AssignementDocument2 pagesStatement of AssignementRaquel DuarteNo ratings yet
- InfoDoc - Exame Final - V Online-10.07.2020Document3 pagesInfoDoc - Exame Final - V Online-10.07.2020Raquel DuarteNo ratings yet
- Sebenta Finanças Públicas Parte IDocument90 pagesSebenta Finanças Públicas Parte IRaquel Duarte100% (1)
- Sebenta Inês CarreiroDocument80 pagesSebenta Inês CarreiroRaquel Duarte50% (2)
- Teen Peer Pressure and SchoolDocument14 pagesTeen Peer Pressure and SchoolRaquel DuarteNo ratings yet
- Casos Práticos de DireitoDocument1 pageCasos Práticos de DireitoRaquel DuarteNo ratings yet
- 19 de Fevereiro de 2019Document1 page19 de Fevereiro de 2019Raquel DuarteNo ratings yet
- As Medidas de Policia Administrativa e A Prevencao PolicialDocument53 pagesAs Medidas de Policia Administrativa e A Prevencao PolicialRaquel DuarteNo ratings yet
- Procriação Medicamente AssistidaDocument12 pagesProcriação Medicamente AssistidaRaquel DuarteNo ratings yet
- Self Assessment Rubric - Sample Letter To Client - Wishnatsky PDFDocument1 pageSelf Assessment Rubric - Sample Letter To Client - Wishnatsky PDFRaquel DuarteNo ratings yet
- Courvoisier V RaymondDocument4 pagesCourvoisier V RaymondRaquel DuarteNo ratings yet
- Fontes Das ObrigaçõesDocument30 pagesFontes Das ObrigaçõesRaquel DuarteNo ratings yet
- Date: May 21, 2020 To: From: Raquel Bártolo Andrade, Student No.7330 Subject: Second Assignment, Option ADocument3 pagesDate: May 21, 2020 To: From: Raquel Bártolo Andrade, Student No.7330 Subject: Second Assignment, Option ARaquel DuarteNo ratings yet