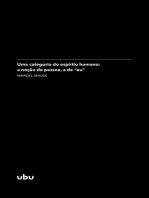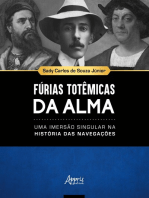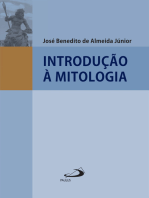Professional Documents
Culture Documents
Agnes Heller - Uma Teoria Da História PDF
Agnes Heller - Uma Teoria Da História PDF
Uploaded by
AdrielRizzo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views200 pagesOriginal Title
Agnes Heller - Uma teoria da história.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views200 pagesAgnes Heller - Uma Teoria Da História PDF
Agnes Heller - Uma Teoria Da História PDF
Uploaded by
AdrielRizzoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 200
AGNES HELLER
UMA
TEORIA
DA
HISTORIA
Tradugio de
Dilson Bento de Fatia Ferreira Lima
erin MMR sie
‘Teale original: A THEORY OF HISTORY
Copyright © 1981, «1993 by AGNES HELLER
Tepresensed by EULAMA SRL, Roma
1 dio (em inglés) publicada por ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, 1981
Capa: BELIPE TABORDA
‘Comporigie: ART LINE Produgées Grifies Luda, — Rio de Janeiro
(dukerees fornecidas pelo tradutor)
ISBN: 85-200-0120-3,
1993: ANO COMEMORATIVO DO 60° ANIVERSARIO DA EDITORA
“Teds ov ditetas reservados. Neahuma parte deste liso poder ser reprodurida
seja de que forma for, sem expresia atorizagio da
EDITORA CIVILIZAGAO BRASILEIRA S/A.
‘Av Rio Branco, 99, 20° andar
0040-004 Rio de Janeizo - R)
Fel, (021) 265 2082 Teles: (21) 33 978 Fax: (021) 263 6112
(Caixa Postal 2356 + Cep. 20010
Impresso no Brasil
Printed in Bevel
Sumario
9
Primeira Part:
Historicidade
1, Estagios da consciéacia histotica, a oo B
2. Presente, passado € futtf0....0.eccrseee 31
dda historiografia ¢ da filosofia da hist6ria. se. 69
*
Segunda Pate:
Historiografia como episthémé
4, Ressalvas_introdut6rias. oo 95
>. Passado, presente e fururo na storiognfia so 9
6. Os valotes na historiografia.......... . a
7. Juizos morais em historiograli M1
8. Notmas conctetas pata a pesquisa historiografica... 153
9. Teoria e método em historiografia,......-1-»
10. Principios organizadores em historiografia
11. Princfpios explicativos em historiografia.
12. Prineipios otientadores da historiografia.
13. A teoria ‘mais elevada’ e aquela aplicada
Terceira Parte:
Sentido ¢ verdade na histéxia
“ow
a filosofia da hist6ria
14. A especificidade da filosofia da hist6tia.....ececoe 253
15. A nocio de desenvolvimento universal como categoria
fundamental da filosofia da hist6ria.... 267
16. As leis histéricas universais: objetivo, lei e necesidade 283
17. Holismo ¢ individualismo. 297
18. A filosofia da historia ¢ a idéia de socialismo 313
Quarta Parte:
Introdugio 2 uma teoria da histéria
19. Um resgate da hiscéria? 333
20. O progtesso € uma ilusio?. 335
21. A necessidade da utopia. 367
22. Algumas noras sobre o sentido da existéncia histérica, 389
Notas do TextO.cssssessessssnssesnsenssninsseseetnasrnees 397
8
Prefacio
Quis evitar, neste livto, na medida em que foi possive, refe-
réacias e citacbes. Como os trabalhos considerados clissicos, tanto
0s historiograficos, quanco aqueles pertencentes ao campo da filo-
sofia da histéria, consticuem tema deste estudo, fiz-lhes as ade-
quadas referéncias. Entretanto, omiti citacées quando se tratou de
autores ¢ obras notérios, exceto no caso de passagens breves. mas
cxemplares, Estou bastante consciente de que a nocdo de "‘léssi-
co’ & muito vaga e que depende, em parte, da posigio do autor
a respeito das obras consideradas como integrantes desse conjun-
‘possivel haver uma discordancia valida sobre o fato de que
Censidero Weber, Dutkheim, Croce ¢ Lakics como sendo “lis
c0s"” no campo, embora outtos sejam omitidos, Refeti-me apenas
Aqueles autores a quem tomei emprestado certas propostas € solu-
60s te6ricas e, ocasionalmente, a alguns, cujas formulag6es conci-
sas ¢ originais Considerei particularmente esclarecedoras.
Os problemas com que lidei constituem quest6es fundamen-
tais de nossos dias, tratadas por muitos renomados inteleccuais do
século XX. Mesmo assim, considerei desnecessério recapitulas ces
tas solugdes propostas, apenas para mostrar que no compartilho
delas. Sou contudo grata a todas essas pessoas exatamente por te-
rem tocado’as questées em debate ¢ por haverem levado-me a
repensi-las a meu proprio modo. Se agora cito seus nomes, nio
€ por meta cortesia, mas como reconhecimento a comunidade cien-
tifica do passado ¢ do presente. Sem considerar o fato de ter cita-
do ou nao suas obras e tomes, sou especialmente grata a: Adorno,
Apel, Aron, Beard (C.A.), Bechel (L.C.), Beclin, Blake (C.), Bloch
(E.), Bloch (M.), Danto, Foucault, Gallie (W.B,), Gardamer, Gar-
9
diner, Getlner (E.), Goldmana (L.), Gurvitch, Habermas, Hem-
pel, Kuha, Leach, Lévi-Strauss, Lovejoy (A.0.), Luhmann, Man-
delbaum (M.), Marquard (O.), Meinceke, Mesarovie, Meyetholf (1),
Murray, Nagel (E.), Pestel, Pirenne (H.), Polanyi (K.), Popper, Rus.
sell, Sablins, Sauvy. Schmide (A.), Schulin, Scriven (M.), Service,
Sorokin, Spubler, Toynbee, Tioeltsch, Walsh (W.H.), White (M.),
Whitehcad, Wittgenstein
Um auror ¢ um livro se destacam pela considerivel impor-
tdncia que tiveram neste empreendimento: Collingwood e sua obra,
The Idca of History (A idéia de histéria}. Antes que fesse seu li-
‘y1o, meu pensamento ainda cra caético com relagéo a0 meu tema;
ao terminar sua leitura, sabia perfeitamentc 0 que iria defender
‘Tenho a mais profunda gratidio por esse autor iajustamente es.
quecido, a cuja memétia dedico este livro.
Quero ainda expressar, aqui, meu reconhecimento a Ferenc
Fehér por sua critica conscienciosa ¢ pelos bans conselhos que me
permitiram corrigit os manuscritos, esclarecer certos pontos obs-
curos € tomar cettos atgumentos ainda mais convincentes.
Pela revisto estilistica do texto, agradeco a Freya Headlam ¢
1 Brett Lockwood, quc tanto tempo e encrgia dedicatam a0 ma-
nuscrito, Finalmente, agradego meus colegas do corpo administra-
tivo do Departamento de Sociologia da Universidade La Trobe, por
terem datilografado © manuscrito.
Agnes Heller
10
Primeira Parte:
Historicidade
1? Capitulo:
Estagios da consciéncia histérica
1. Consciéncia da generalidade mio refletida: 0 mito.
2. Consciéncia da genetalidadc refletida em particularidade;
consciéncia de histéria como pré-histGria,
3. Consciéncia da universalidade no refletida: 0 mito uni-
versal,
4. Conscitncia da paricularidade refletida na generalidade:
consciéncia de hist6ria propriamente dita.
5. Consciéncia da universalidade refletida: consciéncia do mun-
do hist6rico.
6. Consciéncia da generalidade refletida — como tarefe (de
superar @ consciéncia hist6rica decomposta): responsabili-
dade planetéri.
Da generalidade nao refletida 3 generalidade
reflecida
Naqucle tempo havia um homem ld. Ele exists naquele tem-
po. Se existiu, jé ndo existe. Existin, logo existe porque sabemos
que aaquele tempo havia um homem e existira, enquanto alguém
contar sua hist6ria, Era um ser humano que estava ld, “‘naquele
B
‘tempo’, € 56 seres humanos podem contat sua historia porque 56
cles sabem 0 que aconteceu “‘naquele tempo”. ‘Aquele tempo”
€o tempo dos seres humanos, o tempo humano.
‘Um homem estava “Li”, naquele tempo, Estava li ¢ no aqui.
No entanto, esté aqui ¢ permaneceti, enquanto alguém narrar aqui
a sua saga. Era um homem quem “‘estava la’’ ¢, apenas, os seres
humanos podem situé-lo "JA", pois s6 eles sabem a tespeito de
“aqui” ¢ ''l4", categorias que constituem 0 espago dos seres hu-
‘manos, 0 espago burmano.
A histoticidade nfo € apenas alguna coisa que acontece co-
‘ngsco, uma mera propensio, na qual nos “‘metemos"” como quem
xyeste uma roupa, Nés somos historicidade; somos tempo ¢ espaco.
TAs duas ‘‘formas de percepgao"’ de Kant nada mais sio do que
a consciéncia de nosso Ser e esta consciéneia € nosso proprio Ser.
‘As categorias a priori de Kant — quantidade, qualidade, relagio
© modalidade — sfo secundérias de um ponto de vista ontolégi-
co, Nao constituem a consciéacia de nosso Ser, mas expressio de
reflexao consciente sobre nosso Set. Os sees humanos podem con-
ceber tempo e espaco sem quantidade, qualidade, relacao © mo~
dalidade (como o toby bohu, o vazio, 0 vacuo universal), mas no
podem pensar estas categorias fora do tempo ¢ do espaco. Até mes-
mo o absutdo é temporal e espacial, porque nds somos tempo €
mortal, S6 sio mortais aqueles que tém consciéncia de que pere-
cetio. Sé seres humanos sio moreais. Uma vex que somos tempo,
cesta € a razio pela qual ndo éramos e nio seremos. Uma ver que
somos espago, nosso no-Ser significa ndo estar aqui. Quando jé
nao formas, ndo estaremos aqui, mas /: no ar, no vento, no fogo,
no Hades, nos Céus, no inferno on na nulidade. Fotteranto, mes:
‘moa nulidade é espago, tanto quanto nunca é tempo. Somos mor-
‘ais, mas ado estamos mottos. Nao podemos conceber o estatmos
morcos, posto que somos tempo € espaco.
O fato de que no éramos e de que nao seremos significa que,
quando nao estavamos, outros estavam ¢ que, quando ja nio esti-
vermos, outtos estario; além disto, que, quando jf no estivermos’
aqui, outcos aqui estardo, Podemos imaginar que nfo existissemos
‘€ que ndo estivéssemos aqui nos tempos de César ou de Napoleao,
contudo € inimagingvel que nio existissemos ¢ aqui ndo estivésse-
mos, quando ninguém existia. E imaginavel que nao seremos
4
‘do cstaremos aqui, quando outros sero € estaréo, mas ¢ inimagi-
ndvel que nio sejamos, quando ninguém estiver. Néo estat aqui
sé tem significado se outtos estiverem. Estat em lugar nenhum s6
tem sentido se houver algum lugar, do mesmo modo que 0 ni0-
Ser s8¢ inteligivel porque existe o Ser. “Naquele tempo havia tim
hhomem” significa que existe alguém que narra a saga dele e que
haverd alguém que a contard depois, A historicidade de um sinico
‘homer implica a historicidade de todo o género humano. O plu-
tal € anterior a0 singular: se somos, sou ¢ s¢ no somos, no sou.
‘A questio fundamencal da historicidade ¢ a pergunta de Gauguin:
“De onde viemos, o que somos ¢ pera onde vamos?”
A pattit da mortalidade, do tempo e do espaco € que sempre
Jevantamos 2 mesma questo ¢ af exptessamos a historicidade do
géncro humano, com a qual a bistoricidade de nosso Ser (do Set
‘de cada individuo) exeve € estar sempre correlacionada. A per-
sgunta nunca muda, mass respostas variam. A resposta 3 pergun-
ta— "De onde viemos, o que somos e para onde vamos?"" —seré
chamada “consciéncia histérica’’ ¢ as miluipla respostas a ela, di-
Tetentes em subscincia ¢ estrucura, setéo ditos estdgios da cons-
eiBncia bisebtica.
a, Primeiro estigio: 2 generalidade nao refletida: a génese.
No inicio 14 estava 0 inici
A frase “no inicio ld estava.” ndo significa que Ii jé nao cxsta,
‘nem mesmo que nio possa mais existir, mas apenas que verdadei-
ramente estava no inicio,
A soleira para a humanidade € cruzada no momento em que
4s notmas substituem os instintos. SO podem ser denominados hu-
‘manos aquelés Serescujas agdesre modos de compottamento se de-
seavolvem através de sistemas e instituigoes de condua, exteriores
um determinado membto da espécie no momento de seu nasci-
mento. No comeco, nascemos num cla, numa tribo. Apesar de que
nao haja instituigao social imutdvel, as alteragées podem ser lentas
‘ediminutas , por isso, imperceptiveis. As normas e regras de con-
5
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- A escrita da História: A natureza da representação históricaFrom EverandA escrita da História: A natureza da representação históricaRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Sociologia da Educação no Brasil: do Debate Clássico ao ContemporâneoFrom EverandSociologia da Educação no Brasil: do Debate Clássico ao ContemporâneoNo ratings yet
- História da "Consciência Histórica" Ocidental Contemporânea - Hegel, Nietzsche, RicoeurFrom EverandHistória da "Consciência Histórica" Ocidental Contemporânea - Hegel, Nietzsche, RicoeurNo ratings yet
- História & Documento e metodologia de pesquisaFrom EverandHistória & Documento e metodologia de pesquisaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Instituições escolares no Brasil: conceito e reconstrução históricaFrom EverandInstituições escolares no Brasil: conceito e reconstrução históricaNo ratings yet
- A Casa e os seus Mestres: A Educação no Brasil de OitocentosFrom EverandA Casa e os seus Mestres: A Educação no Brasil de OitocentosNo ratings yet
- Pensadores sociais e história da educação - Vol. 2From EverandPensadores sociais e história da educação - Vol. 2Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- O Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteFrom EverandO Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteNo ratings yet
- Ensinar história no século XXI: Em busca do tempo entendidoFrom EverandEnsinar história no século XXI: Em busca do tempo entendidoNo ratings yet
- Pesquisa, Educação e Formação Humana: nos trilhos da HistóriaFrom EverandPesquisa, Educação e Formação Humana: nos trilhos da HistóriaNo ratings yet
- Imprensa Pedagógica na Ibero-América: local, nacional e transnacionalFrom EverandImprensa Pedagógica na Ibero-América: local, nacional e transnacionalNo ratings yet
- O lugar central da teoria-metodologia na cultura históricaFrom EverandO lugar central da teoria-metodologia na cultura históricaNo ratings yet
- Epistemologias da história: Verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-modernidadeFrom EverandEpistemologias da história: Verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-modernidadeNo ratings yet
- Matrizes da modernidade republicana: cultura política e pensamento educacional no BrasilFrom EverandMatrizes da modernidade republicana: cultura política e pensamento educacional no BrasilNo ratings yet
- Teoria da História em debate: Modernidade, narrativa, interdisciplinaridadeFrom EverandTeoria da História em debate: Modernidade, narrativa, interdisciplinaridadeNo ratings yet
- Ateliês de Pesquisa: Tecendo Processos Formativos da Pesquisa em Educação e DiversidadeFrom EverandAteliês de Pesquisa: Tecendo Processos Formativos da Pesquisa em Educação e DiversidadeNo ratings yet
- História e Historiografia da Educação Brasileira: Teorias e Metodologias de PesquisaFrom EverandHistória e Historiografia da Educação Brasileira: Teorias e Metodologias de PesquisaNo ratings yet
- Letras, ofícios e bons costumes - Civilidade, ordem e sociabilidades na América portuguesaFrom EverandLetras, ofícios e bons costumes - Civilidade, ordem e sociabilidades na América portuguesaRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Para que serve a história?: A perspectiva de Hayden WhiteFrom EverandPara que serve a história?: A perspectiva de Hayden WhiteNo ratings yet
- Lições da História ensinada: o livro didático e a História do Brasil entre práticas, representações e apropriaçõesFrom EverandLições da História ensinada: o livro didático e a História do Brasil entre práticas, representações e apropriaçõesNo ratings yet
- História ensinada, Cultura e Saberes Escolares (Amazonas, 1930-1937)From EverandHistória ensinada, Cultura e Saberes Escolares (Amazonas, 1930-1937)No ratings yet
- Ensino de filosofia: experiências, problematizações e perspectivasFrom EverandEnsino de filosofia: experiências, problematizações e perspectivasNo ratings yet
- Escolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXFrom EverandEscolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXNo ratings yet
- O brasileiro: A formação da identidade nacional e a questão racialFrom EverandO brasileiro: A formação da identidade nacional e a questão racialNo ratings yet
- A escrita do historiador: Cosmovisões em conflitosFrom EverandA escrita do historiador: Cosmovisões em conflitosRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Avaliação Educacional: Práticas, Desafios e PerspectivasFrom EverandAvaliação Educacional: Práticas, Desafios e PerspectivasNo ratings yet
- Desafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteFrom EverandDesafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteNo ratings yet
- Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaFrom EverandFormação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaNo ratings yet
- Sociologia escolar e recontextualização curricular: os livros didáticos e o ENEMFrom EverandSociologia escolar e recontextualização curricular: os livros didáticos e o ENEMNo ratings yet
- O trabalho didático na escola moderna: formas históricasFrom EverandO trabalho didático na escola moderna: formas históricasNo ratings yet
- Instrução pública e projeto civilizador: O século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escolaFrom EverandInstrução pública e projeto civilizador: O século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escolaNo ratings yet
- Tempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalFrom EverandTempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalNo ratings yet
- Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de "eu": (in Sociologia e antropologia)From EverandUma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de "eu": (in Sociologia e antropologia)No ratings yet
- Fúrias Totêmicas da Alma: Uma Imersão Singular na História das NavegaçõesFrom EverandFúrias Totêmicas da Alma: Uma Imersão Singular na História das NavegaçõesNo ratings yet
- As terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonFrom EverandAs terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonNo ratings yet
- Introdução à MitologiaFrom EverandIntrodução à MitologiaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- História do espiritismo: Origens – Os estudos pioneiros de Emanuel Swedenborg – O episódio de Hydesville – A carreira das irmãs Fox – Os irmãos Davenport – As Pesquisas de sir William Crookes – A sociedade de pesquisas psíquicas da Inglaterra – Ectoplasma –From EverandHistória do espiritismo: Origens – Os estudos pioneiros de Emanuel Swedenborg – O episódio de Hydesville – A carreira das irmãs Fox – Os irmãos Davenport – As Pesquisas de sir William Crookes – A sociedade de pesquisas psíquicas da Inglaterra – Ectoplasma –No ratings yet
- A missão na literatura: A redução jesuítica em A fonte de O tempo e o ventoFrom EverandA missão na literatura: A redução jesuítica em A fonte de O tempo e o ventoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Os Símbolos na Obra Marta, a Árvore e o Relógio de Jorge AndradeFrom EverandOs Símbolos na Obra Marta, a Árvore e o Relógio de Jorge AndradeNo ratings yet









































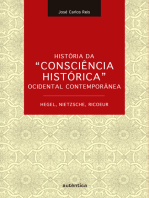







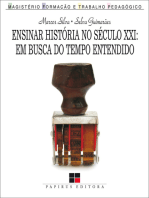

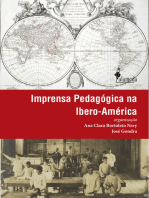




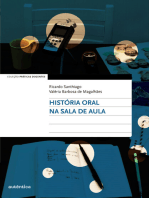
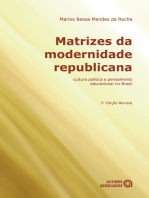





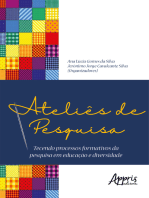


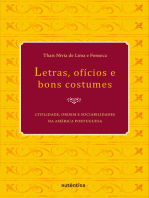




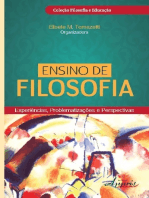




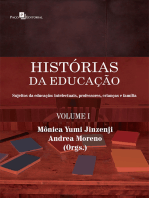








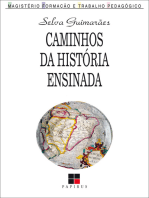
![ERAM OS DEUSES ASTRONAUTAS? {COM COMENTÁRIOS]: UFOLOGIA](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/583302696/149x198/601936fb23/1668628529?v=1)