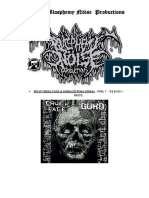Professional Documents
Culture Documents
O Indio e o Mundo Dos Brancos-Rotated
O Indio e o Mundo Dos Brancos-Rotated
Uploaded by
Bruno Rafael Matps Pires0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views11 pagesOriginal Title
O indio e o mundo dos brancos-rotated
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views11 pagesO Indio e o Mundo Dos Brancos-Rotated
O Indio e o Mundo Dos Brancos-Rotated
Uploaded by
Bruno Rafael Matps PiresCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
INDIO E © MUNDO DOS
BRANCOS,O
4. Seguindo a correnteza do rio (MVQ/1959).
CAPITULO 1
INTRODUGAO: A NOCAO DE FRICCAO
INTERETNICA
‘Ao coneebermos a estrutura déste ensaio, aleumas questées
de ordem te6rica se impuseram a reflexiio e, priticamente, nos
guiaram na elaboragio ¢ na explanagio dos resultados da’ pes-
quisa sdbre as relagbes entre indios e brancos no alto Solimées.
Verificamos, assim, que a constante busca de refinamento me-
todol6gico ¢ conceitual que se nota nos estudos de contato inte-
réinico, ainda que possa ser considerada como 0 processo natu-
ral de desenvolvimento de qualquer ciéncia, pode ser considerada
também — e sobretudo — como o resultado da perene frus-
‘raco dos etnélogos em bem compreender a estrutura ¢ dind-
‘ica das relagoes entre povos de etnia distinta, inseridos numa
situagio determinada: a situagio de contato,
‘Pouco se pode dizer a mais sObre um assunto to repisado
ce, em regra, bem desenvolvido por especialistas de diferentes
otientacées teéricas. Vamos nos deter em trés dessas orienta-
{g6es, que consideramos as mais importantes para o conhecimento
do fenémeno do contato, para, em seguida, avaliarmos a influén-
cia dessas orientagdes no estudo das relagées interétnicas no
Brasil. Finalmente, procuraremos desenvolver algumas conside-
rages sObre aspectos désse contato que se recomendam a0 ana-
lista em vista de sua significago. Em sintese, tentaremos demons-
‘rar_que 0 conhecimento do contato interétnico seri alcangado
de modo mais completo se focalizarmos as relagSes interétaicas
enguanto relagées de “friceao”.
‘A etnologia moderna conta com diversas tradigées de estudo,
do fenémeno das relagdes entre povos de culturas diferentes,
fundadas — essas tradigdes — em pontos do vista especifi
Esses pontos de vista é que desejamos explicitar. E devemos
7
acrescentar, ainda, que 0 alvo de nossas indagacées esta circuns-
crito, as relacdes'entre grupos tribais e sociedades nacionais,
deixando de lado assim uma série de fendmenos passfvel de set
encontrada em outros contextos, onde as populagées on as cul-
turas em conjunco nfo se caracterizam pelos componentes men
cionados: 0 tribal e o nacional. Nesse sentido, duas tradigées
imediatamente se impiem: a britinica, conhecida por social
change estudies; e a norte-americana, divulgada pelos accultu-
ration studies. Ambas, ¢ principalmente a segunda, marcaram
sua presenca no Brasil, influenciando as pesquisas aqui condu-
Zidas sdbre 0 mesmo tema. A terceira, menos conbecida entre
16s —e de formulacdo (moderna) mais recente — tem mostrado
sua eficécia nos estudos africanistas realizados por etno-socié-
logos franceses; poderemos chamé-los “estudos de situagio”.
Nos estudos britfnicos de “mudanca social” — para nos
restringirmos aqui apenas a um tipo especifico de mudanga
(aquela resultante do contato interétnico, voltamos a dizer) —
8 nocio de instituicio social parece ocupar Iugar predominante,
quando refletimos sébre 0 sempre atual e clissico livro de Mali-
nowski, The Dynamics of Culture Change, publicado em 1945,
‘mas cujas idéias bésicas j4 haviam sido divulgadas em seu ensaio
introdut6rio aos Methods of Study of Culture Contact in Africa,
editado em 1938 pelo Instituto Internacional de Linguas ¢ Cultu-
ras Africanas (Memorandum XV). As idgias desenvolvidas nesses
trabalhos bem podem ser tomadas como a expressio de um
ponto de vista corrente na antropologia social britinica quando
esta se detém nos estudos de mudanca social e de dindmica
cultural, A preocupagio em apreender a realidade resultante do
contato interétnico, valendo-se da andlise de instituic6es corres-
‘pondentes — i. e., pela aceitacio ticita do prinefpio de que as
instituigoes atuam ‘umas sObre as outras segundo suas respectivas
naturezas (as instituigdes religiosas tribais scriam modificadas
pela actio de instituigao religiosa ocidental, as econémicas. por
suas reciprocas, e assim por diante) —, leva o pesquisador a_
minimizar a influéncia dos agentes alienigenas naguelas esferas
‘formalmente fora de seus réspectivos campos de ago. Assim, 0
‘missiondrio ou o administrador afetariam a ordem tribal apenas
naguelas esferas relacionadas com o sistema religioso oa com
6 sistema de chefia, Ora, tOdas_as_afirmagdes_de Malinowski
_relativas 908. efeitos manifestamente negatives da “‘colonizacio”
© sua concepedo, ainda que ingénua, da espoliacdo macica soft
‘da_pelos_povos afticanos, perdem o significado e ficam de
‘das de qualquer valor instrumental — linhas mestras que deve-
18
riam ser da imaginagio — para explicar a situago de contato,
como totalidade. E verdade que essa tcoria encontrou exce-
lentes criticos dentro e fora da Inglaterra, como Gluckman ¢
Balandier, entre outros. Mas pode-se dizer, sem receio de estar
caindo em exagéro, que_esta fiego tedrica produziu frutos bem
amargos para a antropologia social em suas tentativas de com-
ppreender o contato interético, especificamente entre populacdes
indigenas e sociedades coloni
Por outro lado, 0 uso do conccito de Cultura — em
detrimento da utilizagio adequada do conceito de Sociedade
— poderia levar a antropologia britinica a posigdes muito seme-
Thantes is adotadas pela norte-americana, Tal nao acontecey,
gracas A influéncia dos trabalhos do Raddliffe-Brown, Firth,
Evans-Pritchard ¢ Mayer Fortes, para citar os principais chefes-
-de-escola ou lideres de grupos de antropélogos naquele pais. No
{que se refere especificamente ao estudo de contato interétnico,
temos um excmplo dessa orientagdo culturalista — engendrada
ppelos trabalhos de Malinowski — no pequeno livro do casal
Wilson, aparecido em 1945, sob o titulo The Analysis of Soctal
Change. A adogio do térmo “mudanca social” no titulo nto
implica na aceitagio de um ponto de vista funcional-cstrutural
{que jé cra cmpregado nas monografias escritas naquele pais.
A verdade € que 0 espirito inglés nfo trouxe para os estudos
de contato interétnico o melhor de seus esforcos teéricos e me-
todolégicos, excetuando-se, naturalmente, Malinowski, e em
certo sentido, Lucy Mair; esta, deve-se acentuar, sem a profun-
didade que se poderia desejar. Os trabalhos sObre social change
que vitiam a seguir, como o de Firth, sObre Tikopia,* preo-
cupam-so mais em analisar os mecanismos de mudanca inerentes
4s sociedades tribais, tomando assim o contato apenas como um
estimulo as alteragdes na ordem social, do que em estudé-lo em
térmos de sua natureza histérico-estrutural, a saber, da especi-
ficidade das relacbes entre populagGes tribais © sociedades
coloniais.
‘Como explicar 0 contato se téda a orientacio esti concen-
trada na deserigao de uma terceira sociedade, resultante da con-
junio de duas outras, nos témos preconizados por Malino-
wski? Sto conhecidas ‘as trés diferentes ordens cvlturais. por
ale identificadas (a tribal — i. e., a africana —, a ocidental ¢
1 transicional ou, em outras palavras, a terccira sociedade resul-
ante); e 0 mecanicismo dessa teoria fica mais patente quando
cuida Malinowski de distinguir um tipo distinto de determi-
TT Raymond vim, 1080
19
: 0 eu via dlossas ordens, Se quisermos realmente enten-
Sunlalo propriamente dito, teremos de fazé-1o em si
‘Huis fard-lo se comegamos por fracionar a situagao conereta
WH Ws orslens diversas? Nao importa que Malinowski tenha
es tio justas como a de que “a verdadeira natu-
tema do fondmeno (de contato cultural) consiste na interagio de
lois diferentes mundos culturais(...) distanciados_pelo_pre-
Le politica diferenciada”.? Como néo importa
também que éle avalie com objetividade os aspectos extorsivos
f tirdnicos désse contato, e, ainda, tente entender “a situagéo
de con‘ato como um todo integral”. Involuntariamente, Mall
nowski contribuiu para mistificar 0 problema da situagéo de
contato, jamais compreendendo em tOda sua extensio 0 fend-
meno do “tribalismo” ou do nacionalismo afrieano jé emergente.
Esses fenémenos vio ser analisados, na mesma Africa, por
pesquisadores franceses como a psicéloga Mannoni ou 0 socis-
logo Balandier. Este titimo, no capitulo I de seu livro Sociologie
Aewelle de VAfrique Noire, esboca uma. tcoria do contato mani-
pulando a nocéo_de “‘situagio” colonial, Para Balandier esta
‘nogdo, se bem que fiiidada em fatos comumente deseritos por,
autores anglo-saxdes, como os choques raciais ou os atritos
‘entre civilizagdes, nao € examinada em térmos das condigses
muito particulates’ que a produzem. Ao conjunio dessas_con-
digoes € que Balandies chama a sitvacdo_colonial. Pode-se
definila retendo-se as condigdes mais gerais ¢ manifesta des-
tas condigdes. Sto elas: “o dominio impésto por uma minoria
estrangeira, racial (ou etnicamente) ¢ culturalmente diferente,
em nome ‘de uma superioridade racial (ow étnica) e cultural
‘afirmada de modo ogmético, a uma maioria, autéctoney mate-
rialmente inferior; éste dominio provoca o estabelecimento de
relagbes entre civilizagdes heterogéneas: uma civilizagio com
méquinas, com uma economia poderosa, de ritmo ripido ¢
de origem erst se impondo a civilizagées sem méquinas, com
economia “atrasada”, de ritmo lento e radicalmente nao-cris
1;_o_cariter fantagdnico/das relagbes existentes entre esas,
“'duas sociedades que se explica pelo papel de insirumento a
que condenada a sociedade colonizada; a necessidade, para
manter ésse dom{nio, de recorrer nio s6 a “férca” mas também
um conjunto de pseudojustificagies e de comportamentos este
3B Minow, wap: te,
4B Milinowsld, 1965 depésincamento oap. 1
4G. Bannon, eso, ast gutors © frequenvemente eitada por Retendier,
20
reotipados etc.”* Comentando que_a situacfio colonial deve ser
estudada como uma Totalidade (loialité) que implica grupos
relacionados entre si em térmos de dominio ¢ submissio e cuja
‘modificagio profunda e ripida exige que a analisemos historica-
mente, escreve Balandier que desta situacio a sociedade colo-
nizada. participa em grau variavel “segundo seu tamanho, seu
potencial. econdmico, seu conservantismo cultural”, e que’ para
seu conhecimento é indispensavel ter-se em conta esta dupia rea~
lidade: a ‘coWnia’ ou a sociedade global em cujo scio cla se
insere, e 2 situacio colonial; sobretudo quando ela torna pa-
tentes’ os fatos resultantes do ‘contato’, o$ fendmenos ou pro
cessos de mudanca”.®
As concepeses cientificas dos africanistas, fundadas nas ex-
periéncias coloniais de seus respectivos pafses, vém opor-se as
americanistas, especialmente aquelas formuladas pela etnologia
norte-americana. Nesta ‘itima, as concepcées passam a exprimit
luma realidade “racial” cuja ‘natureza & bein mais facilmente
mascarada do que aquela emergente da_situacio colonial —
como indica, aliés, 0 proprio Balandier. Diz éle que “as
rengas radieais de’ civilizagio, de lingua, de religitio, de costu-
Imes que atuam no quadro da situacio colonial, sio aqui (i.e.
na situago negro/branco no Brasil e nos Estados Unidos —
RCO) atenuadas © nfo servem nem para mascaré-las, nem para,
complicé-las, porque 0 estado de subordinacio e o preconceito
racial no podem aparecer aqui como fundados na natureza — a
alteridade se apaga e a identidade de dircitos se afirma, porque
tais fendmenos representam 0 que resta a liquidar do’ passado
colonial”." Naturalmente essas reflexes de Balandier estio
bascadas na situacao branco-negro nas Américas, e no na situa-
gio do indio. Mas podem servir-nos também como um ponto
de vista bastante agudo no que se refere A conjuntura indigena
quer dos Fstados Unidos, quer do Brasil, ainda que o fend-
‘meno da “distincia cultural” ndo possa deixar de ser também
considerado. Nestes pafses, em virtude de os indios constitui-
em minorias, pouco péso tm elas na estrutura politico-ccond-
ica global, fato que tende a tornar a relagio indio-branco des-
tituida de qualquer aspecto crucial para 0 branco; € como con-
seqiiéncia, 0 problema indigena nfo chega a comover a cons-
cigncia nacional — do que se ressente a propria Etnologia, sobre-
tudo a norte-americana,
G, Balanater, 1055:
& fer pag Bh
4 em, pas. 2.
Como poderiamos resumir a experiéncia norte-americana no
‘que concemne a situacio de contato? Do mesmo modo que pro-
curamos entender o ponto de vista inglés, tomando para isso os
trabalhos deunho)programstico metodolégico como o de Ma
nowski (com 0 Tisco de nos acusarem de estarmos ressuscitando
velharias...), tentaremos, agora, destacar a perspectiva norte-
americana pelo exame de obras mais sistematicas, tOdas tenden-
tes a otientar os pesquisadores na pesquisa de contato, particular
mente dos fendmenos aculturativos emergentes. Dois memorandos
exprimem 0 pensamento norte-americano nesse sentido: o firmado
por Redfield, Linton e Herskovits, publicado em 1936, sob 0
titulo “Memorandum for the Study of Acculturation” ¢ 0
assinado por Siegel, Vogt, Watson ¢ Broom, intitulado “Accul-
turation: An Exploratory Formulation”, editado em 1954.° Dois
outros trabalhos de Keesing ¢ de Beals, ambos publicados em
1953, ndo poderdo ser objeto de consideragio equivalente &
destinada aos_memorandos, por constituirem, basicamente,
obras criticas de textos © posi¢des, em lugar de’trabalhos te6-
ricos sistemticos.
Acteditamos que, nessa altura da exposigi0, dois pontos
i ficaram definitivamente acentuados. 0 primeiro, referente a
nogo de situago de contato (nos térnfos propostos por Balan-
dier),_oferece as linhas mestras para a pesquisa das relagdes
interéinicas, pois revela a fragilidade dos esquemas teéricos
fides nck Tatalios de Walnowstl ode acu seguidorcs.O
segundo relaciona-se coma critica feta aquelas.teorias_ pelos
“proprios antropéloges britinicos, que_sublinh
“sociolégicos da realidade tribal em detrimento dos culturais, num
ng e—esforgo de del i
iblinharam_os_aspectos
3s “iprejuizos” culturalistas; em iltima
analise, trataram de deslocar o centro de gravidade, que se encor
tava na cultura, para a sociedade, A concretizagio desta sepa:
agio pelos antropélogos sociais britinicos, com o desenvalvi
‘mento espetacular das teorias estruturalistas, acabaria por tornar
bastante nitida a linha divis6ria entre éles ¢ seus colegas ameri-
canos, Bstes, nifo obstante, tentariam incorporar em seus sistemas
de interpretacao culturalistas alguns conceiios sociolégicos, sendo
‘0s mais fecundos 0 de Sujeigie-Dominéncia (no Memorando
de 1936, III, B) e o de Papel Intercultural (no Memorando de
1954). Daremos destaque a ambos na anslise que iremos
proveder.
‘Se compararmos 0 Memorando de 36 com 0 de 54, vemos
que, em certo sentido, houve um reteovesso te6rivy, se eriticut=
% Rovers Reaflea, Raton Linton e Mevile Herveovts, 1996:160-19,
1b Pol sfesing, 160) Rdg Be
22
‘nalpa ‘Beats, 105.
“Papel Intere
‘mos éste timo tendo em vista 0 dualismo soviedade e cultura,
O de 36 acha-se. em grande parte voltado para_o aspecto socio-
lgico do contato, como se pode ver pela leitura dos parégrafos
Ac B da III parte, intitulada “Analysis of Acculturation”. Nestes
pparigrafos sio discriminados 0s tipos de contato que podem
‘ocorrer, sublinhando os autores a dimensio © composiao dos
grupos ‘populacionais em conjunco, a natureza dessa conjun-
io (se hostil ou pacifica), a desigualdade social ¢ politica dos
‘grupos ¢ as estruturas de dominio e sujcigéo, Nos demais pard-
grafos e itens que o compdem, o processo de aculturacio é des-
membrado em complexos de relagoes entre Tracos Culturais
€ nio entre entidades sociais, individuais ou coletivas, como
seria de esperar se quiséssemos que os autores perfithassem
caminhos suscetiveis de explicar as relagdes entre os homens.
Excegio pode ser feita na IV parte, onde a dimensao individual
6 reconhecida ¢ tratada em té1mos dos mecanismos psicolégicos
subjacentes, Em sintese_o- Memorando constitul um -documento
Util, fomecedor de indicadores sensiveis 2 investigacio einolé-
sgica; sem descurar dos aspectos prdpriamente sociol6gicos da
conjuncio intercultural, se bem que em escala insuficiente.
© Memorando posterior, de 54, bastante mais ambicioso,
‘raduz um empenho de seus signatirios em apresentarem, se bem
que em carster explorat6rio, um esquema te6rico sdbre a acul-
turagio, Baseiam-se, assim, no resultado de quase vinte anos
de pesquisas sbre o mesmo tema, 0 que Ihes permite avaliar
bbem a fecundidade dos pontos de vista atS entio adotados. Este
Memorando nfo cuida de efetuar um levantamento sistemético
dos conceitos de aculturagio que povoam a hist6ria das idéias
em etnologia. Fundam-se seus autores em uma ampla biblio-
‘grafia, a se destacar, no sentido da histéria do conceito de acul-
furagio, 0 trabalho de Ralph Beals, “Acculturation”, publicado
no Anthropology Today, no ano anterior. Assim, em sua tenta-
stiva de teorizagio, 0 Memorando de 54 Teserva, a rigor, doi
items para consideracées de carster sociolégico: o j4 mencionado
ral © 0 referente & Comunicartio_ Intercultural.
‘No primeiro item, no faz senfio retomar problemas bastante
discutidos por Malinowski e por éle colocados, inclusive, de
maneira mais precisa, (Veja-se, sobretudo, Dynamics of Culture
Change.) No segundo tema, ameaga entrar em problemas de
‘ordem semantica ou de significagio intercultural, — mas logo
decepciona o leitor esperangoso em surpreender idéias novus
num campo da maior importincia para o entendimento da
situago de contato, Entretanto, malgrado deslize para um certo
23
psicologismo, o desenvolvimento déste item € bem feito © de
Ieitura bastante estimulante.
‘Uma das reacdes mais recentes motivadas pelas idéias
contidas neste tltimo Memorando é a dos. norte-americanos
Dohrenwend & Smith, apresentada mum artigo, sob o titulo
“Toward a Theory of Acculturation”.!! Em seu trabalho —
cujas criticas no iremos reproduzir in’ extenso —, pereebemos
uma preocupacio claramente sociolégica na formulacdo dos pro-
blemas'e no equacionamento das solugdes. Todavia, se de um
lado a concepsio de um sistema de status, preexistente na situa-
glo de conjuncio, serve de guia aos autores desta critica, de
outro € 0 conceito de cultura que constitui a unidade mais
inclusiva por éles visualizada. A conseqiiéncia disso faz-se senti
nna identificagio de tés condigses a serem impostas por uma
cultura A sébre outra, cultura B, no sentido da primeira domi-
nar a segunda. Eis as condigées: “1. Recrutar membros de B
para suas atividades em posigao de status baixo, por exemplo,
servigo de lavoura ou usar os nativos como ordenancas nas orga-
nizagdes militares. — 2. Excluir os membros de B que desejem
admissio as atividades em posigées de status igual ou alto, por
exemplo, escolas segregadas ou servico civil fechado. — 3.
Obter admissio nas atividades de B em posigées de status alto
por exemple, funcioniios das eolnias que impéem novas rego-
wentacbes de casamento, programas de impostos ete.” E con-
lui: “A cultura mais fraca, B (dirfamos nés: a tribal — RCO),
deve Sbviamente submeter-se ao recrutamento em posigdes de
status baixo, aceitar a exclusio das ordens desejiveis das ativi-
dades de A’e permitir a admissio daqueles de fora em posigdes
de status alto em suas préprias atividades. Esta é uma situagao
de dominio completo da cultura A sébre a cultura B”.* Exem-
plifica, a seguir, com a situagio de contato da Unio Sul-afri
cana, procurando tipificd-la como um caso extremo de domi-
aco entre duas culturas. Ora, téda_a exposigio dos_ autores
adquiriria um sentido muito mais exato se falassem em Socie-
dades_em_opdsiciio, em vez. de superioridade de uma cultura
“sobre a outra. A questio néo é académica, como pode parecer
’ primeira vista, Se cultura e sociedade constituem conceitos,
éstes devem expressar realidades diversas, com contetidos onto-
logicos especificos ¢ definidos — e mio,’ simplesmente, admitir.
serem mituamente traduzfveis um no outro, como parece scr 0
aso de que cstamos tratando, Nesse sentido, © com referéncia
especifica a cultura, como objeto substantivo de investigacio,
HW B,F Dontenweng eR, J. Smith, 1en:30-99.
12 Tem, are 3
24
dois pequenos ensaios nos parecem da maior importincia para
a critica de sua conceituagio: o de David Bidney"® © o de Leslie
White. Esclareca-se, entretanto, que_nossas consideragies.ni0_
visam a reduzir a cultura a um epifendmeno, a algo vazio de
significagio, como querem alguns socidlogos.® Ao inverso, vemos
na cultura — e mesmo na investigagio culturalista — uma di-
“mensio do real a ser explorada com grande lucro cientifico.
Nostas restrigdes ao ponto de vista culturalista prendem-se a sua
pouca penetragio nas estruturas cruciais de um determinado
Yendmeno: 0 contato interétnico.
‘Simultineamente, com 0 objetivo de estabelecerem uma tipo-
logia, Dohrenwend & Smith alicergam suas anélises em teorias
de estratificagio, portanto de teor sociolégico, ¢ tentam esmiu-
gar 0s mecanismos de interagdo social, numa demonstraglio da
inoperfncia pritica e te6rica do conceito de cultura que, no fim
das contas, em seu trabalho é utilizado de maneira supérflua,
‘Quanto ao mérito da orientagio sociolégica adotada, gostaria-
‘mos de lembrar a excelente critica recentemente feita por Ro-
dolfo Stavenhagem em dois trabalhos,2® nos quais denuncia o
cardtct mistificador das teorias de estratificagio social quando
a realidade estudada se traduz num sistema de classes em opo-
sigio (o que em certo sentido é tautolégico, pois que nio existe
classe que nao esteja em oposic¢fo a uma outra — como con~
cebe 0 proprio Stavenhagem). Conclui-se que 0 artigo de Doh-
renwend & Smith, se traz uma contribuigdo a0 estudo do contato
interétnico, com sua énfase nas relacbes sociais emergentes da
situagio intercultural (portanto com um retro ao ponto de
vista sociol6gico), permanece, porém, atado a esquemas socio~
légicos pouco explicativos para o conhecimento cabal da situa-
ef0 de contato.
Quais os reflexos désses trabalhos no Brasil? Pode-se dizer,
sem risco de exagerar, que a influéncia norte-americana sobre-
puja as demais: a francesa, a britinica ¢ mesmo a de lingua
alema (a dos “circulos culturais”), esta titima nfio mencionada
especificamente neste artigo, por nao se ater ao problema do
contato enquanto tal, salvo como um dos meios pelos quais se
process a dito cultural." Como nos demas pases da América
Latina onde a antropologia atingiu razodvel desenvolvimento, no
Bess feras de aclturagdo como que fescinaram on tn
Jogos os citeansreveram sus problemas. Foram 0: sci
Jogos, em suas pesquisas s6bre 0 negro que, superando a tradi¢io
Broce, de inspitagio enologe © foleores, mprinizam
m seus traalhor uma orientagio vers, agua s¢- poder
encminar “stados de rlages rasan”. Roger Baste, Flores
tan Fernandes, Oracy Nogueira, investigando as relagGes entre
negrose brancos em So Paulo, Tales do Azevedo e Lulz Aguiar
Costa Pinte, respectvamento na Bahia e no Rio de Jans,
Geram ss nvesigagbeso cater socelgic de que se Vihar
resentindo oF etidor sore 0 negro n0 Bras. Resontomente
Fernando Hencigue Catdoso © Ostiio asa, sa mesma ihe
moderna de concep¢ao, mas com a adogio de uma perspectiva
pili ds lnterpretagho das relagbes intra, eran um
névo avanco As teorias do contato interétnico ou inter-racial no
Bra com tts trabalho marcnts: Captalomo © Exod,
do princi, e as Metamorfoss do Exervo, do segundo™ No
etnologia indigena, a modernizagio da pesquisa se faria por
onto moles.
A obra de Artur Ramos é bastante conhecida e todos nés
temos bem nfo 0 Tagar por ela ocupaco na etnolog. base
leita. Com referéncia ao problema da aculturacio, contudo,
apesar de haver sido citado por Ralph Beals," 0 antropélogo
Taslsito ao faz endo repetir seas dvulendas por vores
fote-amerinnos © mesmo ani de mance merameas expla
natéria eer nada aalfea, Para o campo expetico das el
{Bes ene prpos ties sccedades nacional nto, o wala
de Ramos nada acrescenta, Nesse terreno, a contribuic¢io dos
etnélogos brasileiros se deu mais no campo particular da pesquisa
empfrica do que no das formulagées teéricas e programiticas.
Dot trabalhor, today foram estos com esas ‘tina ite:
gdes. O de Eduardo Galviio, Estudo Sébre a Aculturacéo dos
Grupos Inaigena do Brasil —-comanicagso spresetad na 1
Reuniio Brasileira de Antropologia, Rio de Janeiro, 1953 —
peu seme fr nena oes aan
Hopi etna (Gr Sil hans od woot ae
osodi tao, sta em 20, Ana bs gre
Se ee ee
1 atpn Deas, 180: e28
2 Biuarao Geivao, ofr
26
© 0 de Darcy Ribeiro, Linguas ¢ Culturas Indigenas do Brasil?"
ensaio avaliativo da configuracao dos grupos tribais na primeira
metade do nosso século, ao mesmo tempo que contém sugestes
para pesquisas de interésse imediato; a ésse programa Ribeiro
Genomina as “Tarefas da Etnologia”. Tanto num como noutro
trabalho, ainda sio as teorias de aculturagio responsiveis pela
maior parte das formulagdes e pelos objetivos subjacentes. Con-
tudo, algumas posigdes radicais so assumidas por Galvio €
Ribeiro © que indicam uma certa insatisfagdo quanto aos modelos
de investigacio engendrados pelo ponto de vista aculturativo.
‘Eduardo Galvio, enguanto expde © discute as idéias de
Redfield, Linton ¢ Herskovits (Memorando de 36), examinando
{a luz delas alguns grupos brasileiros, faz algumas restrigdes de
cariter teérico sébre a eficécia do ponto de vista aculturativo
para. a explicacdo total dos fendmenos de contato. Assim, diz
fle, “os objetivos de uma pesquisa etnol6gica seriam falhos, se
limitados neste caso a fenémenos do nfvel aculturativo, segundo
‘© conceito clissico. Ofulero da mudanca cultural dos Tene-
‘chara! — continua Galvio, tomando ésse grupo Tupi como
ilustragiio para _suas consideragdes — resulta nfo apenas dos
empréstimos, nfo apenas de ferramentas, introdugio de novas
espécies de cultivo, e a sua mobilizacio pata a coleta de baba-
cu, como das relagées econémicas entre indios e civilizados. Se
foi importante a transformacio de uma agricultura de subsis-
t8ncia cm uma produgio do comércio, a oscilagaio de pregos na
praca nacional e estrangeira para o babacu, principal produto
Ge coleta e via de integracao do Tenetehara na economia local,
6 um dos fatéres condicionantes de assimilacdo ¢ de mudanga
cultural désses indios. Diante désses problemas, uma aborda-
xgem Timitada apenas a aspectos que poderiam ser considerados
‘aculturativos’ teria pouco valor”2? E mais adiante sublinka
ainda mais suas restrigdes, comentando que “nas monografias
sébte grupos indigenas os capitulos de aculturagio ou de mu-
danca cultural sofrem ainda de certa limitagio que advém da
falta de conhecimento da cultura cabocla ou da frente pioneira
que entra em contato com 0 indio”.* Mas essas consideragSes
BI Dancy Rubeleo, 1657, Pare op obter wma Idtie dos estudas de mudanen
soul earl roa tes alae pork seman carers
Fae PeesemaSpublcaaa em Antembt e Teoditago eat 4 Sinolorte
sco autropolewts (is 199), subne a,tnliwmtaagt
once tribals cujo texto ee noha publicaao an Revisia de Aniropoioni, Yo
Brine a docenbne de 10h, Sto Palo.
28 Idem, phe. The 7
27
bastante oportunas de Galvio no assumem o papel que se pode-
ria esperar, de centro vital de uma abordagem mais adequada
0s estudos de contato, especificamente das relagdes entre popu-
lag6es tribais e segmentos da sociedade nacional. GalvZo, linhas
adiante, retorna a0 ponto de vista aculturativo, escrevendo que
“o objetivo da antropologia, afinal de contas, nao ¢ apenas
escrever as culturas indigenas como se encontram no momento,
‘mas o de tentar aleancar dindmica e 0 funcionamento de trans-
missio e de mudanca cultural. Em outros térmos, busca gene-
ralizagées sébre 0 fendmeno cultural, nfo apenas a etnografia
das tribos do Brasil”. Seu convite & promogio de estudos sobre
(© processo de assimilacio,®* como um meio de transcender os
esquuemas culturalistas, parece-me ser a sua contribuigio mais
pPositiva aos estucos das situagdes de contato, embora, mesmo af,
no acrescente muito ao Memorando de 36.
Nessa mesma linha de preocupagdes — que, digase de
[passagem, j se encontravam esbocadas nas obras de Nimuen-
Gaju, Baldus © Schaden — foi escrito o ensaio Linguas ¢ Culturas
Indigenas do Brasil por Darcy Ribeiro. A importincia do con-
texto histérico e da estrutura econdmica regional ¢ realgada por
Darcy Ribeiro a ponto de formular um conceito especifico, de
‘manipulacdo simultinea com 0 conceito de aculturagio. Trata-se
de fenémeno de integracao que Darcy Ribeiro 0 conceitua mais
enguanto estado do que como processo. Assim, diz que os
grupos tribais que se encontram integrados participam “inten~
samente da economia e das principais formas de compor-
tamento institucionalizado da sociedade brasileira” © sofrem
‘profunda descaracterizacio” em suas linguas ¢ culturas** Expli-
cando a classificagio de determinados grupos indigenas na cate-
goria de integrados, escreve que foram relacionados “os grupos
que, tendo experimentado tédas as compulsdes referidas © con-
seguindo sobreviver, chegaram a0 século XX ithados em meio
2 populago nacional, a cuja vida econémica se haviam incor-
porado como reserva de mio-de-obra ou como produtores espe-
Cializados de cerios artigos para comércio. Estavam confinados
fem parcelas do antigo tertitério ou despojados de suas terras,
perambulavam de um lugar a outro, sempre escorracados” 2
© objetivo descritivo © nao teérico de Ribeiro o impediu de
aprofundar seu pensamento sdbre os mecanismos de interagdo
entre indios e brancos, inseridos em sistemas sociais distintos: 0
tribal e o nacional. Porém, sua experiéncia indigenista levon-o
= heey
2 papas ash =
28 Idem, pg. 13.
28
a apontar, como tema bisico a set considerado pelos pesquisse
dores do “processo de integracdo © aculturagéo”, a questo da
sobrevivéncia fisiea das populagtes tribais, deslocando, assim,
fa énfase metodolégica até entio colocada na cultura para 0
destino mesmo das populacdes. Chama a ateneo para os fatOres
de dizimagio tribal, “decorrentes da interagio bidtica e ecolégica”
f responsiveis pelo extermfnio de contingentes populacion
bastante significativos no Ambito das respectivas tribos que
sofrem a depopulago mesmo antes de ter inicio o processo de
aculturagio” A ésses fatéres Ribeiro chama de “pré-acultu-
rativos”. Finaliza suas formulagdes sobre as tarefas da etnologia
rno Brasil com as seguintes reflexdes: “'... as pesquisas etno-
sificas deverio ser projetadas de modo a incluir sempre tima
preocupacio especifica com os problemas de sobrevivéncia das
populacées tribais. Isto significa que devemos incorporar na
fematica das pesquisas etnolégicas, como problemas tio rele-
‘antes quanto o estudo da mitologia, do sistema de parentesco
€ tantos outros, a investigacdo meticulosa da estrutura demo~
axifica, do grau de natalidade, do indice de fertilidade, os efeitos
dissociativos das epidemias e outros que permitam caracterizar
fas primeiras etapas da integracdo. — Esta perspectiva, além de
evar a Etnologia a se interessar mais pelo destino dos povos
gue so seu objeto de estudos, vird beneficiar as pesquisas etno-
logicas, emprestando-thes maior acuidade, porque, nfo sendo
nenhum grupo, nem mesmo o mais isolado, inteiramente indene
de influéncias da civilizaco, Gles s6 podem ser devidamente
compreendidos, se se tiver em vista esta circanstancia”.
Essa preocupagio sébre o destino das populagées tribais
6 uma constante na Etnologia Brasileira, desde os trabalhos de
Nimuendaju ¢ Baldus, até Schaden, Galvio © Darcy Ribeiro. O
enraizamento de todos éles & realidade nacional — ¢ no ape-
nas indigena — permitiu-lhes, de certo modo, repensar os pro-
‘lemas colocados pelas teorias de aculturagio, caracteristica-
‘mente descomprometidas com a sobrevivéncia das populages
iribais. Paradoxalmente, as culturas eram defendidas de forma
sistematica, e mesmo no melhor dos casos (quando 0 etndlogo
cstava realmente interessado no destino das populacées), eram
onfundidas com o indio “de carne ¢ asso”. Por isso, quando
iscutimos, nés, 0 problema da friecéo interétnica, como um
B GE Darcy miro, 1097-0,
Sh deen pe 68,
29
tema de teflexio © de pesquisa de cariter bisicamente socio-
I6gico (é assim que damos uma conotacio mais clara ao térmo
composto etno-sociolégico, corrente da Etnologia Brasileira de-
pois dos trabalhos de Baldus e de Schaden), podemos dizer que
estamos fundados numa ordem de preocupagoes em nada ing
dita no Brasil. Esclarecido ésse ponto, que poderia criar algu-
‘mas confusdes quanto & ambicio déste trabalho, e dado como
fundamental o cariter sociol6gico da investigacio, quais as idéias
Airetrizes, as mais fecundas a nosso ver, que poderiam nortear
esd das relagSes entre os membros, das sociedadestribas
0s da sociedade. nacional?
A prim ji enunciada por Balandier, como vimos,
seria a preliminar de que a sociedade tribal mantém com a socie~
“dade envolvente (nacional ou colonial) relagdes de oposicao,
hist6rica e estruturalmente demonstriveis. Note-se bem que ndo
se_trata_de relacdes entre entidades contrérias,_ simplesmente
diferentes ou ex6ticas, umas em relagio a outras; mas_con-
traditérias, i. e., que a existéncia de wma tende a vegar’a da
“outra, E nfo foi por outra razio que nos valemos do térmo
-Sricedo_inierétwica. para enfatizar a caracterfstica_bisica_da
“situacio de contato. Exemplo disso femios no processo de expan-
‘io da sociedade brasileira sObre os territérios tribais, resultando
na destruigao dos indigenas (de populacio, desorganizacio tribal,
desagregagao e dispersio das populacdes,tribais etc.); a sobte-
vivéncia de algumas sociedades tribais, se bem que’ descarac-
terizadas, nio € suficiente para esconder o sentido destruidor do
conta'o. Em iiltima andlise, sfio os membros dessas_sociedades
que se acomodam_ LL Por outro
Tado, 05 segmentos nacio or indivfduos
expostos, no mais das vézes contra a sua vontade, diante de
_gfupos tribais hostis — sio obrigados a enfrentilos a fim de
sobreviverem. F 0 caso dos seringueiros colocados na dificil
situagiio: estar entre o indi e seringalista. Como se vé, as
sociedades em oposicio, em friceio, possuem também din micas
proprias_¢ suas préprias contradicoes. Daf entendermos a situa-
‘gio de contato como uma “‘totalidade sincrética” ou, em outras
palavras — como ja escrevemos noutro Ingar'Y —, “enquanto
situagdo de contato entre duas populagées dialéticamente ‘unifi-
cadas’ através de interésses diametralmente opostos, ainda que
interdependentes, por paradoxal que pareca”.
Em segundo Iugar, asseniada a idéia bisiea da oposigiio
entre a ordem tribal e a ordem nacional, cumpriria a0 investi-
gador determinar aquelas dimensGes da’ realidade social que,
SI Ch, ApEnaice do presente vorume.
30
‘uma vez descritas © analisadas, melhor explicariam a dintmica
do. contato interéinico. Para isso, nada melhor que formular
alguns problemas para investigagio, cujo equacionamento € con
seqiiente busca de solugdo serviria de meio de identificacio
daquelas dimensdes do social a serem examinadas pelo pesqui
sador. Tentamos seguir estas diretrizes no presente ensaio per-
guntando, inicialmente, quem decide, em iltima instincia, sobre
© destino das populagées tribais do alto Solimées, inseridas
‘numa drea de fricedo interéinica, Isso foi realizado no capitulo
IL, “A Emprésa e 0 Indio”, oude descrevemos a situacio, ¢ tenta-
‘mos aprofundar a andlise, no capitulo final, sobre “O Mundo
dos Brancos”, tomando especificamente os Tukéna. Nao seria
suficiente dizer que é a sociedade dominante, nacional, quem
decide sdbre o destino dos Tuktina; indispenstivel nos parece
localizar 0 grupo ou os grupos, organizados ou io, que domi-
nam realmente as populagies tribais naquela area de fronteira.
O que fizemos foi penetrar na dimensio politica da situagio de
contato a fim de descrever e analisar a estrutura de ‘poder
subjacente: 0 poder na esfera tribal, tradicional, ¢ como éle &
transfigurado quando a sociedade indigena se insere noutra
maior, mais poderosa, que Ihe tira (a principio parcial e, depois,
totalmente) sua autonomia, A progressiva perda de autonomia
tribal, a irreversibilidade do processo e a ocupagiio definitiva dos
territérios indigenas surgiram para nés como um tema da maior
significagio estratégica para a compreensio de fendmenos de
interagio entre indios e brancos no alto Solimdes, particularmente
entre os Tukiina e a sociedade regional
Procuramos perguntar, em seguida, sdbre 0 destino dos
bens indigenas, i.e. de seus bens de produgdo, 0 que nos pet
mitiu penetrar na ordem social através de sua dimensdo econé-
mica. Mas nio de maneira formal e meramente descritiva;
foutrossim, cuidamos de estudar aquéles aspectos da dimensio
econémica que melhor nos capacitariam para o efetivo conhe-
cimento do processo de contato entre duas sociedades de econo-
mia distinta: uma mercantil e monetiria, outra présa a um regime
de producio para subsisténcia. O surgimento da mereadoria,
como entidade social e econémica (¢ nio apenas econémica),
péde ser compreendido através da andlise do processo de incor-
poracio da nogio de “valor de troca” nos bens indigenas até
fentdo produzidos, tendo em vista apenas o seu valor de uso.
Bsse problema foi por nés eolocado e desenvolvido no capitulo
1V, “Da Ordem Tribal & Ordem Nacional”, no qual procuramos
também, simultineamente, revelar a peculiaridade do “campo
semAntico” indigena, identificando os valéres cruciais do mundo
a
‘Tukiina © sua fungdo reguladora da ordem tribal. Mostrou-sc,
assim, 0 que chamamos 0 “céleulo social” Tukina, i. ¢., a uni-
dade ‘das diversas instituicdes tribais — como a metade, 0 cla
© 0 sistema de parentesco —, partes constitutivas de um sistema
de posigdes sociais, cuja funcio precipua é a de guiar os indivi-
duos Tuktna na teia de relacdes sociais intra e intertribais, E
quando mostramos o mundo natural (zool6gico e botfnico) coma
formecedor, por meio dos epénimos clinicos, dos signos susccti-
veis de simbolizar 0 mundo social e, assim, ordenar a vida
tribal.
Realizado ésse tipo de indagago, cuidamos de sublinhar a
“distincia cultural” existente entre a sociedade indigena e a
sociedade regional, examinando alguns casos em que ficasse
patente a imponderabilidade da comunicacio interétnica ou da
intereomunicagao entre campos semfnticos distintos. Isso foi
feito no capitulo V, “O Caboclo”, onde, 20 mesmo tempo, s¢
tentava descrever a figura do indio, visto com os olhos’ do
braneo, e, ainda, como éle — o indio — se via a si mesmo com
‘8 olhos do branco, Estudou-se nesse capitulo um tipo extrema
de alienagdo, a que demoninamos “‘caboclismo”. A dimensio do
social escolhida para exame foi a auto-identificagio tribal, i. c.,
as modalidades de consciéncia engendradas pela situagio de
‘ontato. Todavia, no estariamos dando uma visio compreensiva
da situagdo dos Tuktina se nao intentdssemos vislumbrar — no
‘capitulo final, intitulado “O Mundo dos Brancos” — 0 que se
escondia por tris da crosta de esterestipos ou de representagées
“raciais” com que o branco, regional, via o indio; 0 que existia
atris de uma conduta ora paternalista, ora agressiva, que conti-
gurava as relagdes indios e brancos na situagio de contato; ,
mais, na conjuntura atual, o que se poderia prever relativamente
ao destino dos Tuktina situados & f6rca na ordem nacional. Todos
ésses problemas estimularam a nossa imaginago no tratamento
dos dados © nas reflexdes que sébre éles fizemos.
© capitulo de carter mais descritivo e que veio fornecer
‘9 maior ntimero de dados hist6ricos, demogrificos ¢ ecolégicos,
€ 0 tereeiro, a que chamamos “O ‘Territ6rio Ocupado”, Titulo
éssepropositadamente ambiguo, uma vez que tanto mostra a
‘irea atualmente ocupada pelos Tuktina ¢ seus primitives terri-
trios, como também revela como ésses territ6rios foram ocupa:
dos pelo branco no processo hist6rico de expansio da sociedade
nacional. Nesse capitulo cuidou-se de prover o leitor de infor-
‘mages indispensdveis & construgio de um quadro de referén-
cias empiricas, sem 0 qual nao estaria éle habilitado a situat
‘gcogrifica © socialmente 0 nosso objeto de pesquisa. Bsse capt
32
5. A residéncia Tukiina do alto igarapé Belém (RCO/1959)
6. ‘Tipo de moradia da populacéo regional (MVQ/1969)-
tulo, como 0 segundo, serve de introducio aos trés seguintes,
‘que’ constituem, 2 rigor, 0 corpo do ensaio.
‘A forma ensaistica adotada deve-se a intengfio do Autor
‘em tratar compreensivamente os dados cmpiticos obtidos, deten-
do-se a descrever apenas aquéles fendmenos que sc impuseram
ppor sua alta significacio para o entendimento dos mecanismos
psicossociais inerentes situaco de contato interétnico, O estilo
Impressionista de numerosas explanagdes foi propositadamente
‘scolhido por ser, a nosso juizo, aquéle que melhor poderia trans-
iitir ao leitor o resultado de nossa andlise © de nossas reflexOes.
Sactificamos, assim, conscientemente, 0 niimero © a extensio
das informagées etnogrificas que melhor seriam apresentadas se
déssemos um tratamento monogréfico ao material “de campo”.
Entretanto, a existéncia de uma pesquisa como a de Nimuen-
daju sistematicamente citada neste ensaio, se bem que nfo de
todo acessivel ao leitor comum — publicada que fol em inglés
= sempre poder ser consultada para o fim de ampliar 0 conhe-
cimento sobre a cultura Tuktina. O relatério, por seu cariter
meramiente fatual, pelos mesmos ‘motivos foi também posto de
Jado — e mais, ainda, por nfo dar lugar a interpretagdes con-
duzidas continuadamente sobre o material empirico, na tentativa
de desnudé-lo de sua aparéncia ¢ de sua contingéacia a fim de
aleangi-lo em seus aspectos essenciais. Sc nio féssem to peri-
gosas as etiquétas, dirfamos que se tentou realizar um Ensaio
dda “etnologia fenomenolégica’”, amparado numa socidlogia estru-
tural e dinimica.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Tipologias EvolutivasDocument6 pagesTipologias EvolutivasBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Coletania Filmes BandasDocument57 pagesColetania Filmes BandasBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- 0 - Catálogo Blasphemy Nöise ProductionsDocument24 pages0 - Catálogo Blasphemy Nöise ProductionsBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Cuidado e Valorização Da VidaDocument2 pagesCuidado e Valorização Da VidaBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Dois Conceitos de BolivianidadeDocument23 pagesDois Conceitos de BolivianidadeBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Frota Pesada.: Conduta Do Motorista de Veículo de Emergência - Frota PesadaDocument22 pagesFrota Pesada.: Conduta Do Motorista de Veículo de Emergência - Frota PesadaBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- UntitledDocument12 pagesUntitledBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Catálogo Da Pagan RecordsDocument4 pagesCatálogo Da Pagan RecordsBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- 6895.investigaciones Realizadas y en Ejecucion BoliviaDocument6 pages6895.investigaciones Realizadas y en Ejecucion BoliviaBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Plano de Ensino - Sociologia - 40hDocument2 pagesPlano de Ensino - Sociologia - 40hBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Bruno Rafael de Matos Pires Curriculo AtualDocument2 pagesBruno Rafael de Matos Pires Curriculo AtualBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- De JudIJEF 2020 01 27 ADocument1,120 pagesDe JudIJEF 2020 01 27 ABruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- A Automedicação Pode Trazer Graves Consequências Ao Organismo e Atrapalhar o Ato de DirigirDocument2 pagesA Automedicação Pode Trazer Graves Consequências Ao Organismo e Atrapalhar o Ato de DirigirBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Plano de Ensino: DisciplinaDocument12 pagesPlano de Ensino: DisciplinaBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- 2 Fase - Processo SeletivoDocument2 pages2 Fase - Processo SeletivoBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Danny Mollericona El Sentido Social Del Consumo de Bebidas Alcohólicas en La Fraternidad Verdaderos Intocables Del Gran Poder PDFDocument106 pagesDanny Mollericona El Sentido Social Del Consumo de Bebidas Alcohólicas en La Fraternidad Verdaderos Intocables Del Gran Poder PDFBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet
- Disertación. Identidad y Resistencia de Inmigrantes Bolivianos en SP. Santa MalaDocument171 pagesDisertación. Identidad y Resistencia de Inmigrantes Bolivianos en SP. Santa MalaBruno Rafael Matps PiresNo ratings yet