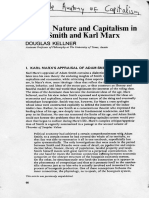Professional Documents
Culture Documents
De Campos Pignatari de Campos Teoria Da Poesia Concreta Textos Criticos e Manifestos 1950-1960 2a Ed PDF
De Campos Pignatari de Campos Teoria Da Poesia Concreta Textos Criticos e Manifestos 1950-1960 2a Ed PDF
Uploaded by
Natália Girasol0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views208 pagesOriginal Title
De_Campos_Pignatari_De_Campos_Teoria_da_poesia_concreta_Textos_criticos_e_manifestos_1950-1960_2a_ed.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views208 pagesDe Campos Pignatari de Campos Teoria Da Poesia Concreta Textos Criticos e Manifestos 1950-1960 2a Ed PDF
De Campos Pignatari de Campos Teoria Da Poesia Concreta Textos Criticos e Manifestos 1950-1960 2a Ed PDF
Uploaded by
Natália GirasolCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 208
HA DEZ ANOS,
OS MOMIRRATOS
DEANTANIO TENTAM
DESTRUIR A POESIA
CONCRETA
A REALIDADE
DESTRUIRA OS
FALSOS MAGICOB
DILUIDORES
AUGUSTO DE CAMPOS
DECIO PIGNATARI
HAROLDO DE CAMPOS
TEORIA
DA
POESIA
CONCRETA
TEXTOS CRITICOS
E MANIFESTOS
1950 - 1960
LIVRARIA DUAS CIDADES
Dez. anos depois, aqui vai_a 2.* edigio da
TEORIA DA POESIA CONCRETA. A
demora se deveu, desta vez, nic tanto a0
desinteresse dos ‘editores como & inércia’
dos autores. Realmente, mais do que a
teoria, nos interessava ver editada a poesia
-— sempre menos editével —, @ poesia, que
€ afinal o que interessa. ‘A teoria nio
passa de um tacape de emergtocia a que
© poeta se ve obrigado a recorrer, ante a
incompeténcia dos criticos, para abrir a
cabesa do publico (a deles € invulnerével).
Hoje, depois que 2 teoria da poesia coi
creta foi diluida e caricaturada em teorréias
mais ou menos patafisicas pela voz das
subcorrentes para ou contraconcretbides,
afanosamente colecionadas pelos histofie-
dores/arquivistas literérios, ela nos parece
um esforgo quase indtil, urgindo, antes,
leitura dos poemas, embora a nitidez ¢ a
coeréncia das idéias possam ter a virtude
detergente de clarear 0 campo ¢ mostrar,
Por comparaghio, 0 escuro ¢ © sujo das coi-
sas_meramente fabricadas. Pelo sim ov
pelo nfo, aqui vai ela, de novo pra vocés,
€ de novo t6 pra eles, chupins desmemo-
riados.
Na introdugSo & 1.* ediglo advertia-se que
© volume compreendia textos de 1950 a
1960, incluindo apenas um trabalho escrito
em 1960, mas 36 publicado em 1963. E
acenava-se com uma segunda coletinea,
abrangendo textos tebricos referentes a
poesia concreta publicados a partir de 1961.
Abdicamos do projeto, nfo por falta de
textos, mas por falta’ de tempo. Alguns
desses textos vieram a integrar livros indi-
viduais, como A ARTE NO HORIZONTE
DO PROVAVEL de Haroldo de Campos
¢ CONTRACOMUNICACAO de Décio
Pignatari, onde se encontra 0 que poderia
sef considerado 0 tltimo programa tedrico
de um integrante do grupo: a Teoria da
Guerrilha: Artistica. Que os leitores insa-
tisfeitos se remetam a eles ¢ a ela.
Mantivemos, pdis, 0 volume como estava,
acrescentando-lhe apenas dois textos, iné-
ditos em livro, que nos pareceram indispen-
séveis para a compreensio dos caminhos
assumidos posteriormente pelos poetas do
grupo: o manifesto NOVA LINGUAGEM:
NOVA POESIA, de Décio Pignatari ¢
Luis Angelo Pinto (1964), que originou a
poesia semidtica ¢ os poemas sem palavras
adotados, depois, cabulosamente, por de-
fluxes coneretistas como a poesia proceso.
a poesia sinalistica outras; e 0 editorial
do n.° 5 —o thtimo — da revista INVEN-
CAO (1967): mais um texto de Pignatarl,
com alguns toques dos dois Campos — um
quase testamento, ou textamento,
No mais, o original permanece. Os apén-
dices (Bibliografia do Grupo “Noigandres”
¢ Sinopse do Movimento de Poesia Concre-
ta) ficam interrompidos em 1965. De entéo
para cM muitos itens foram acrescentados
2 bibliografia ¢ varios acontecimentos so-
brevieram, destacando-se 0 surto de expo-
sigdes e antologias internacionais ocorrido
‘em meados dos anos 60, depois de publi-
cada a Teoria. Mas nenhum dos trés auto-
es revelou disposigio para coletar esses
dados. Tarefa que 0s historiadores litera
ios fargo certamente muito melhor, prin-
cipalmente quando a poesia-bumerangue-
concreta, depois de ter sido exportada, re-
fizer o circuito e voltar a cair sobre as suas
cabecas.
Fernando Pessoa fantasiou um “movimen-
to” que praticamente inexistiu e que cle
izia ter_nascido da amizade entre ele €
S&-Carveiro: 0 Sensacionismo. Acho que
36 pra ter com quem conversar, Téo fan-
tasioso que um de seus poucos supostos
integrantes, além do préprio Pessoa, era
Alvaro de Campos. Outros, muito menores
do que ele, fantasiaram “movimentos” pen-
sando entrar para a histéria (a0 menos, a
da literatura). Muitos gostariam que a poe-
sia concreta nfo tivesse pasado de fantasia.
A esta altura, acho que até nés mesmos.
Porque ela existiu demais ¢ a sua realidade
se tornou, afinal, tio ubfqua e palpavel que
quase chegou a nos engolir individualmente
sob um rétulo anonimizador: os “‘con-
cretistas”,
Por outro lado, a geléia geral fez de tudo
Para esmagar esse osso — a poesia con-
creta — sem consegui-lo. Finalmente, al-
guns dos seus fabricantes apontaram o de-
dinho (a dnica coisa que eles t8m de duro)
contra _nés ¢ nos acusaram de terrorismo
cultural, Os “concretistas” — esses abomi-
paveis homens das neves que espalharam
Pegadas monstruosas por toda a parte —
seriam culpados do crime de terem garro-
teado a cultura brasileira, sufocado a poesia
€ impedido o seu florescimento. Como diz
‘© Décio, é estranho: trés poetas do bairro
das Perdizes, aos quais se juntaram uns
poucos companheiros, sem outra forga que
a da sua vontade, € sem outro apoio a nio
ser o individual para a divulgacdo de seus
poemas — até este ano sempre’ publicados
em edigdes nio comerciais — conseguiram
aterrorizar a poesia brasileira. Ou esta era
muito fraca, ou as idéias deles eram muito
fortes. O que vocés acham?
AUGUSTO DE CAMPOS
DECIO PIGNATARI
HAROLDO DE CAMPOS
TEORIA
DA
POESIA
CONCRETA
TEXTOS CRITICOS E MANIFESTOS
1950-1960
fl
[Al
LIVRARIA DUAS CIDADES
1975
Capa — 1965
Criacdo: Décio Pignatasi
Antefinal: Roberto Esteves Lopes
INTRODUGAO A 2." EDIGKO
POESIA-BUMERANGUE-CONCRETA
Dez anos depois, aqui vai a 2,° edigéo da TEORIA DA POESIA
CONCRETA. A demora se deveu, desta vez, néo tanto ao desinte.
resse dos editores como d inércia dos autores. Realmente, mais
do que a teoria, nos interessava ver editada a poesia — sempre
menos editdvel —, a poesia, que é afinal o que interessa. A teoria
ndo passa de um tacape de emergéncia a que 0 poeta se vé obri-
gado @ recorrer, ante a incompeténcia dos criticos, para abrir a
cabeca do piblico (a deles é invulnerdvel).
Hoje, depois que a teoria da poesia concreta foi diluida e carica-
turada em teorréias mais ou menos patafisicas pela voz das sub-
correntes para ou contraconcretdides, afanosamente colecionadas
pelos historiadores/arquivistas literdrios, ela nos parece um es-
forgo quase initil, urgindo, antes, a leitura dos poemas, embora
@ nitidez € a coeréncia das idéias possam ter a virtude detergente
de clarear 0 campo e mostrar, por comparagio, 0 escuro e 0 sisjo
das coisas meramente jabricadas. Pelo sim ow pelo néo, aqui vai
ela, de novo pra vocés, e de novo t6 pra eles, chupins desmemo-
tiados,
Na introdugdo é 1. edigéo advertia-se que o volume compreendia
textos de 1950 @ 1960, incluinde apenas um trabalho escrito em
1960, mas sé publicado em 1963. E acenava-se com uma segunda
coleténea, abrangendo textos tedricos referentes a poesia concreta
publicados @ partir de 1961.
Abdicamos do projeto, néo por falta de textos, mas por falta de
tempo. Alguns desses textos vieram a integrar livros individuais,
como A ARTE NO HORIZONTE DO PROVAVEL de Haroldo de
Campos e CONTRACOMUNICACAO de Décio Pignatari, onde
se encontra o que poderia ser considerado o tiltimo programa
tedrico de um integrante do grupo: a Teoria da Guerritha Artis.
tica, Que os leitores insatisfeitos se remetam a eles ¢ a ela.
Mantivemos, pois, o volume como estava, acrescentando-lhe apenas
dois textos, inéditos em livro, que nos pareceram indispensdveis
para a compreenséo dos caminhos assumidos posteriormente pelos
poetas do grupo: o manifesto NOVA LINGUAGEM: NOVA
POESIA, de Décio Pignatari e Luis Angelo Pinto (1964), que
originou @ poesia semidtica e os poemas sem palavras adotados,
depois, cabulosamente, por defluxos concretistas como a poesia
processo, a poesia sinalistica e outras; € 0 editorial do n.° 5 —
o ultimo — da revista INVENCAO (1967): mais um texto de
Pignatari, com alguns toques dos dois Campos — um quase testa-
mento, ou textamento, 5
No mais, 0 original permanece. Os apéndices (Bibliografia do
Grupo “Noigandres” e Sinopse do Movimento de Poesia Con-
creta) ficam interrompidas em 1965. De entéo para cé muitos
itens foram acrescentados a bibliografia e varios acontecimentos
sobrevieram, destacando-se 0 surto de exposigdes e antologias in-
ternacionais ocorrido em meados dos anos 60, depois de publicada
a Teoria. Mas nenhum dos trés autores revelou disposiggo para
coletar esses dados. Tarefa que os historiadores literdrios fardo
certamente muito melhor, principalmente quando a poesia-bume-
rangue-concreta, depois de ter sido exportada, refizer 0 circuito
¢ voltar a cair sobre as suas cabegas.
Fernando Pessoa fantasiou um “movimento” que praticamente
inexistiu € que ele dizia ter nascido da amizade entre ele ¢ Sé-
Carneiro: 0 Sensacionalismo. Acko que sé pra ter com quem
conversa. Téo fantasioso que um de seus poucos supostos inte-
grantes, além do proprio Pessoa, era Alvaro de Campos. Outros,
muito menores do que ele, fantasiaram “movimentos” pensando
entrar para a historia (ao menos, a da literatura). Muitos gosta-
riam que a poesia concreta ndo tivesse passado de fantasia. A esta
altura, acho que até nds mesmos. Porque ela existiu demais ¢ a
sug realidade se tornou, afinal, téo ubiqua e palpével que quase
chegou @ nos engolir individualmente sob um rétulo anonimi-
zador: os “concretistas”.
Por outro lado, a geléia geral fez de tudo para esmagar esse osso
— a poesia concreta — sem consegui-lo. Finalmente, alguns dos
seus jabricantes aponteram o dedinho (a tinica coisa que eles tem
de duro) contra nés e nos acusaram de terrorismo cultural. Os
“concretistas” — esses abomindveis homens das neves que espa-
Iharam pegadas monstruosas por toda a parte — seriam culpados
do crime de terem garroteado a cultura brasileira, sufocado a
poesia e impedido o seu florescimento. Como diz o Décio, é es-
tranko: trés poetas do bairro das Perdizes, aos quais se juntaram
uns poucos companheiros, sem outra forga que a da sua vontade,
€ sem outro apoio a néo ser o individual para « divulgagao de
seus poemas — até este ano sempre publicados em edigées néo
comerciais — conseguiram aterrorizar a poesia brasileira. Ou
esta era muito fraca, ou as idéias deles eram muito fortes. O que
vocés acham?
Augusto de Campos
abril 1975
INTRODUGAO A 1* EDIGAO
O movimento de poesia concreta alterou profundamente o contexto
da Poesia brasileira. Pés idéias e autores em circulagéo. Procedeu
a revisées do nosso passado literdrio. Colocou problemas ¢
propés opgées.
No plano nacional, retomou o didlogo com 22, interompido por
uma contra-reforma convencionalizante e floral. Surgiu com um
projeto geral de nova informagao estética, inscrito em cheio no
horizonte de nossa civilizagao técnica, situado em nosso tempo,
humana e vivencialmente presente. Ofereceu, pela primeira vez,
uma totalizagao critica da experiéncia poética estante, armando-se
de uma visada e de um propésito coletivos. Enfrentou a questéo
participante, mostrando que alistamento néo significa alienagao
dos problemas da criagéo, que conteiido ideolégico revoluciondrio
36 redunda em poesia vélida quando é veiculado sob forma tam-
bém revolucionéria. Pensou o nacional néo em termos exéticos,
mas em dimenséo critica.
No plano internacional, exportou idéias ¢ formas. E 0 primeiro
movimento literdrio brasileiro a nascer na dianteira da experién-
cia artistica mundial, sem defasagem de uma ou mais décadas.
Sen consumo se deu de mancira a mais surpreendente. Na lin-
guagem ¢ na visualidade cotidianas, a poesia concrete comparece.
Esté no texto de propaganda, na paginagio e na titulagem do
jornal, na diagramagéo do livro, no “slogan” de televisdo, na
letra de “bossa nova”. E consumida inadvertidamente mesmo por
aqueles que se recusam a reconhecé-la como poesia (rétulo que,
alids, n@o se empenha em disputar, tais os equivocos que o
impregnam, preferindo antes um compromisso de fundo com @
medula da linguagem),
A iniciativa de reunir em volume os textos e manifestos que
prepararam ¢ fomentaram a poesia concreta se explica pelo res-
peito fundamental ao documento. Um movimento que tem vita-
lidade para criar e reproduzir, para gerar variantes, para influir,
quando nao em solugées diretamente identificdveis, sob a forma
de amplos condicionamentos, corre sempre o risco da difragéo,
da refragao, da diluigéo. & preciso facilitar a sua compreensio
e @ sua discusséo nos seus termos originais, sem a mediagéo das
divulgacées esqueméticas ¢ das interpretagdes duvidosas. Pu-
blicados 0s textos, aqui recolhidos, na imprensa didria e em re-
vistas diversas, em pouco tempo se tornariam fatalmente inaces-
siveis, pelo proprio cardter contingente ¢ heterogénco das folhas
em que foram estampados. Como aconteceu com 22, cuja histéria
estética ainda néo foi suficientemente contada, e, em grande me-
dida, tem que ser rastreada ¢ restabelecida « partir dos elementos
dispersos em jornais periédicos da époce, com as dificuldades
imagindveis. Este volume é uma selegdo do material publicado
entre 1950 ¢ 1960, pois a poesia concreta — movimento em
7
Processo e em progresso — ndo pode dar, a esta altura, sendo
um balango parcial de suas atividades.* A incitléncia de certos
temas comuns em alguns trabalhos dos trés autores, — quase
sempre, porém, tratados ou aprofundados de pontos-de-vista di-
ferentes —, mostra como o projeto da poesia concreta foi-se
construindo paulatinamente, através de um verdadeiro “plano de-
cenal”, na teoria e na pratica. Nessa corrida de revezamento —
pluripercurso de idéias em agdo e evolugéo — os tépicos funda-
mentais passam de um a outro autor, perseguindo-se a unidade
na variedade, Coeréncia estatistica, solidariedade estocdstica, que
se alimentam, inclusive, da divergéncia.
Os textos aqui compilados formam o pano de fundo da poesia
brasileira de hoje, no apenas na sua faixa programaticamente
de vanguarda, mas naquilo que ela tem de mais essencialmente
criativo. Mesmo aqueles que se tém insurgido contra as teses
da poesia concreta, outra coisa nao fazem sendo mover-se na
Grea balizada pelos promotores do movimento: usam-thes as téc-
nicas, parafraseiam-thes a terminologia, invocam-thes 0 elenco de
autores, repetem-lhes os achados criticos, dissimulando-se fregiten-
temente por trds de um precério expediente de redenominacéo,
como se a mera troca de rétulos fosse suficiente para cortar o
corddo umbilical dos fatos e das idéias.
Pode-se dizer que as questées fundamentais que o movimento de
poesia concrete agitou em matéria de teoria do poema e de cria-
ao constituem o nicleo dos debates da poesia e da poética atuais.
Nelas se abeberaram os epigonos, conkecidos ou vindicos, para
suas reflexes reflexas e seus manifestos diddticos, caracterizados
pela sorrateira omissao das fontes, Mas, 0 que é de outra parte
compensador, sobre elas se detiveram também os mais respon-
sdveis e conscientes dentre os poetas de nossas vérias geracées
para delas extrairem, na lealdade do didlogo, estimulos, sugestées,
instigagdes. Muitas das reivindicagées sintdticas e semdnticas do
movimento entraram jd, pragmaticamente, para o comércio ativo e
vivo do que se poderia chamar uma linguagem comum. Pas
suram a circular independentemente de seus langadores, anonimi-
zadas no patriménio geral, coletivizadas pelo uso. O que é a
maior demonstragéo da eficdcia dialética do movimento como
produtor de idéias.
Qs autores agradecem a Francisco Ashcar a colaboragéo que thes
deu na organizagéo do presente volume.
* Apenas um trabalho escrito em_ 1960, porém publicado em 1963, foi
inclufdo no volume, Trata-se de “Contexto de uma vanguarda”, que se
destinava a ptefaciar uma antologia, afinal no publicada em formato de livro.
Oportunamente, edicdes INVENGAO lancario. uma segunda coletinea, com:
Breendendo textos terics referéntes a porte conctts, pubicados a patt
1961.
8
DEPOIMENTO (*) 19 Se
Dicio Pignatari
Todo poema auténtico é uma aventura —— uma aventurg_plani-
ficada, Um poema nao quer dizer isto nem aquilo, mas diz-se
iB proprio, é idéntico a si mesmo e A dissemelhanga do autor,
no sentido do mito conhecido dos mortais que foram amados por
deusas imortais por isso sacrificados. Em cada poema ingressa-
se e &se expulso do paraiso. Um poema é feito de palavras ¢
siléncios. Um poema é dificil. Addo. Sisifo. Orfeu.
‘A que poctas, no mundo, foi concedido o espantoso privilégio
de identificar 0 mito com a realidade — como esté acontecendo
agora com os poetas do Estado de Israel que, necessitado de uma
lingua secular e cotidiana para preservar do prosaismo a velhis-
sima lingua do Tora, incumbiu, ou melhor, acatou e organizou
verdadeiros dicionarios de neologismos criados pelos seus poetas
— agora transformados (em mito e realidade) em adamitas-
menestréis? .
A contengio de Eliot, 0 aparente desbordamento de Pound nos
“Cantos”, as aventuras sildbicas de Marianne Moore, o suave la-
birinto lingitistico de Fernando Pessoa (etc.), mais a misica, a
pintura, o cinema, poem em xeque a forma mais ou menos aceita.
Agora, o poeta é um turista exilado, que atirou ao mar o seu
Baedeker.
Algo assim como “Salve-se Quem Puder”.
Como sempre foi.
(*) Trecho do depoimento prestado por Décio Pignatari na seccio “Auto-
res ¢ Livros”. dirigida por José Tavares de Miranda, dentro da série de
entrevistas “Tendéncias da Nova Poesia Brasileita” (Suplemento do Jornal
de Sao Paulo, 2-4-1950).
SOBRE POESIA ORAL E POESIA ESCRITA *
Décio Pignatari
George Thomson, in Marxism and Poetry, diznos do carater
fundamentalmente oral da poesia em seus inicios, e em grupos
sociais pouco complexos, onde a poesia faz parte do “acervo
comum de referéncias” ¢ experiéncias, e onde a propria lingue-
gem cotidiana é de cunho marcadamente poético. O mais bem
dotado dentre eles é como que cleito o poeta-declamador oficial,
© qual, diante do grupo, recebia a “inspiragdo” e declamava o
poema, sendo perfeitamente compreendido pot todos, em todas
fas suas entonagdes e intengdes. Quando surge a pocsia escrita,
as malhas sociais j4 comegaram # emaranhar-se, ¢ 0 pocta vé
reduzindo-se seu auditério, até que suas excogitagdes poéticas
se transformem no monélogo dos dias atuais.
Tem relagdo a isso a expresséo de Carlos Drummond de Andra-
de, fazendo blague, ante certa picardia dos mogos, das “poesias
jamais declamaveis”.
Sinto-me aventurado a acreditar que o poeta fez do papel o seu
piblico, moldando-o & semelhanga de seu canto, ¢ langando mo
de todos os recursos grificos e tipogrificos, desde a pontuagéo
até o caligrama, para tentar a transposigio do poema oral para
© escrito, em todos os seus matizes.
Um retrospecto diré melhor: este poema de Ledo Ivo:
Na ‘noite higiénica
© vento balanca
grandes flores: calcio.
onde uma longa cadeia de nn © vogais surdas imita o lento
caule ao vento, repentinamente sustado por dois pontos: cileio —
* Trecho extraldo do artigo “A Critica ¢ 0 Despautétio ou a Mosca
“Azul” (Suplemento do Jornal de So Paulo, 10-9-1950). As considera-
Bes aqui reproduzidas vinham a propésito do poema “O Jogral ¢ » Pros-
tituta Negra” (1949), de Décio. Pignari, onde — segundo o mesmo
artigo — “as palavras fluem, fundem-se ¢ se desmembram para acom-
panhar as contorc6es do jogral". Nesse poema esbocavam-se jd — temi-
tic, e estruturalmente —- algumas das preocupacSes que conduziriam &
formulagéo da poesia concreta,
in
a flor que se abre. Se bem que o poema ficasse bastante preju-
icado sem a imaginagio sonora, o desenho tipogrifico ¢ per-
ceptivel.
Este outro exemplo, de Hélderlin, em tradugio de Manuel Ban-
deira, é decisivo:
Nel Mezzo del Cammin
Peras amarelas
E rosas silvestres
Da paisagem sobre a
goa.
© cisnes graciosos,
Bébedos de beijos,
Enfiando a cabeca
Na gua santa e sdbria!
Ai de mim, aonde, se
& inverno agora, achar as
Flores? e aonde
© calor do sol
E a sombra da terra?
Qs muros avultam
Mudos ¢ frios; ao vento
Tatalam bandeiras,
Observa Otto Maria Carpeaux (Origens ¢ Fins): “Kase poema
resume a vida de Holderlin e sua arte também; o eaplendor
cutonal dos ritmos da primeira estrofe, e na segunda os mo.
nossilabos étonos, perdidos no fim dos versos como o frio inver.
nal, igeda a bandeira da morte”.
Finalmente, este, de Marianne Moore, (...), “The Fish”, as
trés iltimas estrofes somente:
Al
external
marks of abuse are present on
this
defiant edifice —
all the physical features of
ac-
cident — lack
of cornice, dynamite grooves, burns
and
hatchet strokes, these things stand
out on it; the chasm side is
dead.
Repeated
evidence has proved that it can
live
on what cannot revive
its youth. The sea grows old in it. (**)
Ai vemos as estrofes fluindo uma para dentro da outra, e¢ a
tipografia compondo o desenho caprichoso dos meandros que
© peixe deixa na agua. Na segunda estrofe citada, a palavra
“accident” sofreu um trauma, para acentuar o “crash”.
© Apresentamos, anexa, a traducéo integral do poema “The Fish”
publicada, posteriormente, por Augusto de Campos (pagina “Invengio”,
Correia Paslistano, 5-6-60).
13
14
© PEIXE
Nad.
ando em negro jade,
Conchas azul-marinhas, uma
36
sobre montes de p6,
a abrir ¢ fechar como
que.
brado leque.
‘Mariscos incrustados na
crista
da onda, agora a vista,
pois as setas submersas do
sol,
vidrilhos, sol-
tam reflexos, répidas
reus
por entre as gretas —
acendendo a urquesa do
mar
crepuscular
de corpos, A Agua estende um
braco
de ago na aresta de aco
do penhasco, e entéo estrelas,
ros-
ados grios de arroz,
medusas, caranguejos — lirios
verdes —.
algas a escorrer, des-
lizem uns sobre os outros.
Os
sinais todas
do abuso estio presentes 00
vazio
deste edificio-desafio,
todos os tacos fisicos do
ac
idente — lascas,
‘marcas de fogo ou dinamits,
cortes
de machado, tudo res.
iste nele, que como morto
jaz.
Pertinaz
evidencia comprova que ele
vive
do gue nfo the revive
a juventud:. O mar envelhece nele.
POETAMENOS
augusto de campos
ou aspirando a esperanga de uma
KLANGFARBENMELODIE
(melodiadetimbres)
com palavras
como em Webern:
uma_melodia continua deslocads. de um instrumento_para
outro, mudando constantemente sua_cor:
instrumentos: frase/palavra/silaba/letra(s), cujos timbres se
definam p/ um tema gréfico-fonético ou “ideogramico”.
.. a necessidade da representagdo griifica em cores (q ainda
assim apenas aproximadamente representam, podendo diminuir
em funcionalidade em ctos casos complexos de superposigio ¢
interpenetracio temitica), excluida a representagéo monocolor
q esté para o poema como uma fotografia para a realidade
cromatica.
mas luminogos, ou filmletras, quem os tivera!
reverberagdo: leitura oral — vozes reais agindo em (apro-
ximadamente) timbre para o poema como os instrumentos na
Klangfarbenmelodie de Webern.
(Publicado ofiginalmente como introdugio i série potiamenos (janciro/
julho 1953). em moigandres, a. 2, Sio Paulo, fevereiro de 1955.)
15
* Reproduzimos, a seguir, um poema de Augusto de Campos, da série
poetamenos (texto previsto para 2 vozes-cores, masculina e feminina).
eis
os
amantes sem parentes
senado
os corpos
irmaum gemeoutrem
cimaeu baixela
ecoracambos
duplamplinfantuno(s)empre
semen(t)jemventre
estésse aqueléle
inhumenoutro
PONTOS—PERIFERIA—POESIA CONCRETA
Augusto de Campos
“Sem presumir do futuro o que sairé daqui, nada ou quase
uma arte”, dizia Mallarmé no prefécio a primeira versio de
Un Coup de Dés (Revista Cosmopolis — 1897), entreabrindo
as portas de uma nova realidade potti
Qs varios pugil/ismos do comego do século — nao obstante
sua utilidade © necessidade — tiveram o infortinio de obscure-
‘poema planta”, desse “grande poema
ico e cosmogénico”, que vale por si s6.todo o vozerio
das vanguardas de alguns anos depois,
Un Coup de Dés fez de Mallarmé o inventor de um processo
de composigéo poética cuja significagdo se nos afigura com-
paravel ao valor da “série”, introduzida por Schoenberg, puri-
ficada por Webern, e, através da filtragdo deste, legada aos
jovens misicos eletrénicos, a presidir os universos sonoros de
um Boulez ou um Stockhausen. A esse processo definiriamos,
de inicio, com a palavra estrutura, tendo em vista uma entidade
onde o todo é mais que a soma das partes ou algo qualitativa-
mente diverso de cada componente. Eisenstein, na fundamen-
taco de sua teoria da montagem, Pierre Boulez e Michel Fano,
com relagéo ao principio serial, testemunharam — como artis-
tas — 0 interesse da aplicagio dos conceitos gestaltianos ao
campo das artes, E é em estritos termos de Gestalt que enten-
demos o titulo de um dos livros de poesia de E. E. Cumming:
Js 5. Para a poesia, e em especial para a poesia de estrutura
de Mallarmé ou Cummings, dois mais dois pode ser rigoro-
samente igual a cinco.
(Como afirma Hugh Kenner, em The Poetry of Ezra Pound,
“q fragmentagdo da idéia estética em imagens alotrépicas, tal
como teorizada pela primeira vez por Mallarmé, foi uma des-
coberta cuja importancia para o artista corresponde A da
fissdo nuclear para o fisico”. Mallarmé descobria e estava
consciente do alcance de sua descoberta, e é por isso que scu
pequeno prefacio tem quase tanta relevincia como o préprio
poema.
7
“Subdivisdes prismaticas da Idéia”, eis como conceituava ele,
com fina perspicicia, 0 seu original método compositivo.
Corolario primeiro do proceso mallarmeano é.a exigéncia de
uma tipografia funcional, que espelhe com real eficécia as
metamorfoses, 08 fluxos ¢ refluxos do pensamento. O que em
Un Coup de Dés se consubstancia nos seguintes efeitos, que
preferimos expor através das palavras do poeta:
a) emprego de tipos diversos: “‘A diferenga dos caracteres
impressio entre o motivo preponderante, um secun-
dario e outros adjacentes, dita sua importancia a emis-
sao oral...”;
b) posig&io das linhas tipograficas: “... ¢ a situagdo, ao
meio, no alto, em baixo da pagina, indicaré que sobe
ou desce a entonagio”;
c) espago grafico: .“Os “brancos”, com efeito, assumem
importancia, agridem a primeira vista; a versificagio o -
exigiu como siléncio em torno, ordinariamente, no ponto
em que um trecho, lirico ou de poucos pés, ocupa,
no meio, cerca de um tergo da pagina: eu nao trans-
grido essa medida, apenas a disperso. O papel intervem
cada vez que uma imagem, por si mesma, cessa ou
reaparece, aceitando a sucessdo de outras”, etc.;
d) uso especial da folha, que passa a compor-se propria-
mente de duas paginas desdobradas, onde as palavras
formam um todo e ao mesmo tempo se separam em
dois grupos, a direita e a esquerda da prega central,
“como componentes de um mesmo ideograma”, segundo
observa Robert Greer Cohn1, ou, noutros termos, como
se a prega central fosse uma espécie de ponto de apoio
para o equilibrio de dois ramos de palavras-pesos.
Trata-se, pois, de uma utilizagio dindmica dos recursos -tipe—
‘gréfiecs, j4 impotentes em seu_ai de a pata serviF
‘propria pontuagio sé torna aqui
espaco grafico se substantiva e passa a fazer funcionar com
maior plasticidade as pausas e intervalos da diccdo!
1 LiOeuvre de Mallarmé — Un Coup de Dés — Robert Greer Cohn —
Librairie Les Lettres — Paris — 1951.
18 L
Sob um certo angulo a experiéncia tem raizes na misica. Par-
tem ainda uma vez de Mallarmé os primeiros lampejos eacla-
recedores: “Acrescentar que dese emprego a nu do pensamento
com retiradas, prolongamentos, fugas, ou seu proprio desenho
resulta, para quem queira ler em voz alta, uma partitura”; ¢
“Sua reuniéo” (a do versolivre e do poema em prosa) “se
efetua sob uma influéncia, eu o sei, estranha, 2 da Masica ouvida
em concerto; sendo reconheciveis nesta diversos neiog>,que me
ma pareceram pertencer as Letras, retomo-os. Genero, que
fica sendo como a Sinfonia”, etc.
De modo geral as ligdes estruturais que Mallarmé foi encontrar
na misica se reduzem & nogdo”de tema, implicando também
a idéia de desenvolvimento horizontal e contraponto. Assim,
Un: Coup de Dés compdese de temas ou, para usarmos da
expressao do poeta, de motivo preponderante, secundarios e
adjacentes, indicados graficamente pelo tamanho maior ou me-
nor das letras e ainda distinguidos um do outro pela diversi-
ficagio dos caracteres. Objetivament
motivo preponderante: UN COUP DE DES/JAMAIS/
N’ABOLIRA/LE HASARD.
L* motivo secundirio: Si/c'était/le nombre/ce serait — que
tem como adjacente os temas comme si/comme si, pot
sua ver ramificados;
outros motivos secundarios: quand bien méme lancé dans
des circonstances eternelles/ du fond d’un naufrage/
soit/ le maitre/ existat-il/ commengat-il et cessat-il/ se
chiffrat-il illuminat-il/ rien/ n’aura eu liew/ que le lieu/
excepté/ peut-étre/ une constellation;
motivos adjacentes: os assinalados pelas letras menores.
Em sintese, a raiz estrutural do poema seria, portanto:
A = motive preponderante
motivo secundério
motivo adjacente
>
Mas acontece que os motivos se interprenetram. Como assinala
Greer Cohn: “Frases caracteres menores sfio agrupadas em
torno da grande, formando galhos, ramos, sobre seu tronco, €
todas essas ramificagées se perseguem paralelamente ou se en-
trecruzam, oferecendo um equivalente literdrio do contraponto
musical”,
19
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Kellner Douglas. Human Nature and Capitalism in Adam Smith and Karl MarxDocument20 pagesKellner Douglas. Human Nature and Capitalism in Adam Smith and Karl MarxIraldoMatias100% (1)
- A Critique of Roman RosdolskyDocument6 pagesA Critique of Roman RosdolskyIraldoMatiasNo ratings yet
- Da (Anti) Reforma Urbana Brasileira A Um Novo Ciclo de Lutas Nas Cidades - ESCRITO POR PEDRO FIORI ARANTESDocument22 pagesDa (Anti) Reforma Urbana Brasileira A Um Novo Ciclo de Lutas Nas Cidades - ESCRITO POR PEDRO FIORI ARANTESMarcos DjavanNo ratings yet
- Estado Laico Volume 1 WebDocument304 pagesEstado Laico Volume 1 WebIraldoMatiasNo ratings yet
- A Psicofísica Do Trabalho IndustrialDocument140 pagesA Psicofísica Do Trabalho IndustrialMileide SabinoNo ratings yet