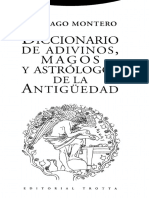Professional Documents
Culture Documents
Sobre Camões. Sobre Historiografia. EM de M Castro PDF
Sobre Camões. Sobre Historiografia. EM de M Castro PDF
Uploaded by
Erick Costa0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views22 pagesOriginal Title
Sobre Camões. Sobre historiografia. EM de M Castro.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views22 pagesSobre Camões. Sobre Historiografia. EM de M Castro PDF
Sobre Camões. Sobre Historiografia. EM de M Castro PDF
Uploaded by
Erick CostaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 22
AS TRANSGRESSOES DE CAMOES
Transgredir significa atravessar ou ir além de. A
transgresséo 6 um conceito que exprime a conseqiiéncia
de uma situagéo de conflito entre a norma e a nao-norma
e que se traduz na quebra da norma. Como conceito
estético apropriado interdisciplinarmente a ciéncia juridi-
ca, a transgressio propé6e uma estética nao-normativa,
aberta, dinamica e polissémica, autotélica portanto, mas
também dialética. As situagdes de conflito entre a norma
e a nao-norma (neste caso estéticas) sao, por isso, a pr6é-
pria estrutura da poética. A obra produzida sera em si
propria demolidora da norma e proponente de uma codi-
ficagio, esta agora nao necessariamente normativa: sin-
tese. O conflito é assim a manifestacéo superficial no nivel
da execucdo de uma tensao dialética profunda no nivel da
competéncia. Este 6 0 substrato gerador do texto poético,
N&o admira que as situagdes de conflito social, moral,
psicolégico, politico, ideoldgico, religioso, afetivo, eco-
nomico, etc., sejam a substancia existencial do poeta. E
0 quotidiano ndéo do poema de Alexandre O’Neill (in
Abandono Vigiado, 1960)" em que ndo é equacionado com
0 pao, em cujo saco esse ndo € distribuido diariamente,
tal como a solidio, de que todos “estamos bem servidos”.
Mas a negacao, além de forma conflitual, quer pela
recusa recebida do poder instituido, quer pelo néo com
58
que 0 poeta recebe essa recusa, adquire um valor episte-
moldgico fundador de um posicionamento critico, tipico
de um determinado pendor do poético: a vanguarda, que
assim se traduz num didlogo de negativas. Dai deriva’ a
concepcéo do valor desconstrutivo da escrita inovadora
em relacgio as escritas dos poderes instituidos, podendo
falar-se em transgresséo como valor poético textual.e,.em
conflito, como valor ideoldgico motor dessa transgressao.
Adorno diz mesmo: “A palavra recusa a ordem razodvel,
unitdria da frase. Faz explodir a estrutura do sentido
preestabelecido e, tornando-se ela prdpria um objeto ab-
soluto, designa um universo intolerdvel, um universo que
se desfaz, um descontinuo. Esta subversio da estrutura
lingiiistica conduz a uma subversdo da experiéncia da na-
tureza (Minima Moralia, Frankfurt, 1970).
este enfoque critico que considero oportuno esten-
der transtemporalmente a Camées, considerando a sua
obra como transgressiva em relagéo a poética e ao poder
instituido do seu tempo.
Que a vida de Camées foi cheia de conflitos dizem-nos
as varias versées biogréficas mais ou menos romanceadas
que sio do conhecimento geral. E o fato de Os Lusiadas
ter recebido a autorizacio da Inquisicio para ser dado &
estampa nada altera quanto a natureza profundamente
transgressiva da sua obra. Mas nao é disso que se trata
neste pequeno ensaio, embora tais biografemas conflituo-
sos sejam tracgos ou subtracos significativos, na medida
em que nos revelam um homem colocado e que se coloca
numa posic&éo & margem, em relagio as forgas dominantes
no tempo da sua vida.
As transgress6es que agora nos interessam sao con-
tudo os indicios textuais que se encontram na sua poesia
e@ a que poderemos chamar os tracos da modernidade de
Camées. Indicios esses que sao reveladores do conflito
estrutural que constitui o cerne da obra de Camées, colo-
cado no encontro e na separacéo de varias dguas e cuja
imagem oficial de poeta da portuguesidade tem obscure-
cido quase completamente.
Jorge de Sena, autor de alguns dos mais pertinentes
ensaios sobre Camées publicados nos ultimos anos, nao
59
deixa de referir a modernidade de CamGes (que outro nao
€ o sentido do ensaio verdadeiramente espantoso que €é
A estrutura de Os Lusiadas).”” E na parte final desse
ensaio que Jorge de Sena diz: “Os Lusiadas sao a culmi-
nacéo de toda uma cultura e de uma civilizagao..Mas,
porque 0 sao, constituem outra coisa para além disso, cuja
quantidade acumulada se transforma numa nova. qualida-
de”. Ora, esta nova qualidade, esta outra coisa sao preci-
samente o resultado da transgressio que 0 novo sempre
é em relacio 4 ordem anteriormente vigente: essa nova
qualidade 6 a conseqiiéncia de um processo dialético, de
uma situacio de conflito, portanto. O cardter desconstru-
tivo e simultaneamente edificador de uma nova estrutura
é, uma vez mais, assim referido por Adorno: “As constru-
cdes e montagens da arte moderna sao com efeito des-
montagens e destruigdes parciais da realidade empirica,
operacgdes que, através de uma composic¢io nova e livre
dos elementos assim isolados, permitem, pelo menos vir-
tualmente, ultrapassar a realidade presente.” (Teoria Esté-
tica).
Na obra de Camoes, quer lirica quer épica, sao muitas
as situagdes textuais, em que 0 conflito do novo homem
da Renascenga entéo emergente (Renascenga de que Ca-
mées foi um dos motores, segundo Ezra Pound)" encon-
tra para nos, homens do final do século XX, uma evidéncia
de modernidade perfeitamente transparente. Eis alguns
exemplos:
— A relagio intertextual das estrofes iniciais de Os Lu-
siadas com 0 inicio da Eneida de Vergilio. Longe de
uma adaptacio ou de um plagio simplista (o que seria
inconcebivel num homem da cultura como Camées)
trata-se antes de um procedimento transgressivo mas
caracteristico da producio literdria e até com tradi-
gdes cldssicas, correspondendo ao que os latinos cha-
mavam “centones”. Tal praética implica a adaptacio
engenhosa de textos alheios com modificagées criati-
vas de sentido. O ir-mais-além-de ou o atravessar-das-
barreiras-estabelecidas 14 esta bem claro no 6.° verso
60
da 1. estrofe “mais do que prometia a forga humana”
ou na 3.2 estrofe “cessem do sdbio grego e do troia-
no”, etc., que sao nitidamente situagées transgressivas.
Mas é muito significativo referir que, jd em 1648, Bal-
tasar Gracian, no discurso final de Agudeza y Arte de.
Ingenio,’ se refere a CamGes nos seguintes.termos:
“Assim o celebrado Camées imita, que néio rouba, 0
grande Vergilio, nos seus Lusiadas, descrevendo a mor-
te de D. Inés de Castro. A destreza esta em transfigu-
rar OS pensamentos e em transpor os assuntos,..”.
O discurso narrativo n&o-linear na estrutura de Os
Lusiadas, cujo inicio de agio (da viagem) nao coin-
cide com o inicio do poema. De fato, no Canto I, apds
a Proposigaéo, a Invocagao, a Dedicatéria e 0 Concilio,
o texto surpreende as caravelas do Gama (estrofe 42)
no mar de Mogambique, em plena viagem. Mas a
seqiiéncia nao é linear, podendo-se tracar, como fez
Jorge de Sena, o grafico da descrigio da viagem, da
interferéncia dos deuses e da voz do préprio poeta
ao longo dos 10 cantos com suas variagGes e interfe-
réncias. E que a voz narrativa também nfo é fixa mas
sim multipla e descontinua, ora sendo 0 Gama, ora 0
proprio poeta, ora os deuses, ora uma voz impessoal.
Quando 6 0 poeta que fala, o seu tom e intencdo
nao s4o0 sempre os mesmos: indo desde um tom des-
critivo até ao mais diretamente critico ou reflexiva-
mente filosdfico, ou até mesmo intimista e lirico. Diz
ainda Jorge de Sena: “... até pela forma como altera
e varia a seqiiéncia da narragfio, como coloca nar-
ragdes dentro de narracdes, ¢ uma obra muito mo-
derna.” (in A Estrutura de Os Lustadas).
A natureza da viagem de que trata Os Lusiadas deve
ser questionada, e uma das razGes é precisamente a
natureza excepcional e transgressiva do rigor da sua
estrutura, natureza esta que, com critérios numéricos
e numeroldgicos, Jorge de Sena demonstrou. Trans-
gressiva, primeiro em relagio aos modelos classicos
greco-latinos; segundo, em relagéo & ordem religiosa e
61
62
politica do poder no tempo de Camées; terceiro, em
relacgao 4 imagem posteriormente construida do poema.
como simbolo épico da raga lusiada e dos seus feitos
materiais.
Quanto ao primeiro ponto referido deve-se notar. que
a propria entidade do protagonista do poemaé ja
um? transgressio em relagao ao modelo ‘cldssico
greco-latino, pois Vasco da Gama é referido apenas
como homem capitao de naus e de poucas ou nenhu-
mas letras (ver fim do Canto V) e nio como um
heroi perfeito ou quase um semideus. O poema nfo
tem como objetivo a mitificagao de um homem, mas
o canto dos feitos de um povo.
Mas seré em fungéo da releitura do episddio da Uha
dos Amores que estas trés transgressbes podem ser
estabelecidas e clarificadas. De fato, o que Os Lusiadas
nos da nao é a celebragio das viagens de descobri-
mento, nem mesmo 0 canto dos feitos de um povo
(como mesmo atrds referi). Eles sao, isso sim, apenas
um pretexto e resultam no poema de efabulagdes fic-
cionais entre os deuses e os homens. O texto de Os
Lusiadas 6 uma viagem para um destino, mas para
um destino cujo regresso nao 6 significativo: a [ha
dos Amores. De fato, apdos esse episddio, 0 regresso
a patria, tao importante na épica classica, 6 aqui de
somenos relevancia; duas estancias de oito versos
chegam para relatd-la, quando todo 0 poema tem oito
mil, oitocentos e dezesseis versos! No entanto, o epi-
s6dio da Ilha dos Amores ocupa oitenta e uma estan-
cias do Canto IX e cento e quarenta e duas do Canto
X (duzentas e vinte e trés estancias), ou seja, mil
setecentos e oitenta e quatro versos, o que representa
20,3% do poema. Nao ha assim duvida de que a Ilha
dos Amores, que 6 uma quinta parte do poema, se
encontra colocada estruturalmente na convergéncia
de todos os diversos niveis de agéo nele presentes:
a viagem dos marinheiros, a intriga dos deuses, a
visio da historia passada e futura de Portugal (e do
mundo de entao), a concepcao da estrutura do mun.
do (cosmos), a interpretagao filosofica do significado.
da acio dos homens no mundo, a critica da ‘situagao
fatual da politica do tempo de Camées e, finalmente;
dos conselhos ao rei. E portanto fulcral que se.reen-
tenda essa Ilha dos Amores e a sua fungao" na. con-
cepefio do poema. Facil sera fazer uma extrapolacao
e dizer que a Ilha € a visdo paradisiaca do verdadeiro
Portugal ou que ela representa uma utopia de feicao
idealista: o lugar da recompensa dos homens apés 0
longo sofrimento, privagao e risco da demorada via-
gem. Mas convém notar que com a pratica erotica
que essa Ilha faculta aos homens e ao Gama é feito
paralelamente o discurso da revelagéo da sabedoria
historica e cosmogénica. Para além de consideragdes
de cardter esotérico, 0 que 0 poema, ele proprio, como
texto, nos da é de fato a pratica e o apogeu do amor
fisico como sendo a chave textual para a abertura do
conhecimento. Tais propostas sio manifestamente
heréticas em relagdo as doutrinas quer neoplaténicas
quer catdlica, aqui esté, por isso, a maior e a mais
significativa de todas as muitas transgress6es de Ca-
moes.
Considere-se agora a obra lirica de Camées. Nela
poderao ser encontradas pelo menos quatro feigdes tex-
tualmente diferenciadas:
1. A poesia ligada aos cancioneiros medievais;
2. O tratamento petrarquista do soneto;
3. O Maneirismo, antecipador de Géngora e da poesia
barroca ibérica;
4. A poesia espiritualista, de que as redondilhas de So-
bolos Rios sio o exemplo mais notavel.
Das cantigas de amigo nfo se encontram residuos
evidentes na lirica de Camoes, pois a estrutura paralelis-
tica quase nfo é por ele usada," mas outro tanto ja nao
se pode dizer do Cancioneiro de Resende e da poesia
palaciana, com seus galanteios e louvores de damas, com
glosas de motes proprios ou alheios e com o uso de
trocadilhos espirituosos, O minimo que se pode dizer desta
63
primeira fase da lirica de CamGes é que nela a transgressio
inexiste e antes, pelo contrario, ela se compraz na norma:
da corte. Mas esta fase é passageira e ja as voltas.ao mote
““Perdigao. _perdeu a pena...” revelam uma ironia-que, de
certo modo, sera transgressiva em relacio as-normas. da’
corte. Mas 6 no uso que Camoes faz da estrutura do. sonetod
de Petrarca que a transgressao se instala textualmente na
sua poesia lirica. A este respeito Jorge de Sena*! assinala:
“Observamos que a ordem pela qual os quatro esquemas
petrarquianos séo usados por Camées é€ a de Petrarca, e
que os esquemas so apenas os quatro que Petrarca mais
usava. Todavia, notamos que Camées, se pratica os esque-
mas segundo a ordenacao preferencial de Petrarca, usa-os
em proporgées inteiramente diferentes, pelo que, se se
aproxima de Petrarca, como nenhum dos outros, nas suas
preferéncias, Camdes 0 faz com inteira independéncia de
proporgées. Isto vem ao encontro de pesquisas e observa-
gdes nossas (em Uma Cancdéo de Camées) que apontam
Camées como atendo-se a poucos esquemas prediletos,
que Ihe bastam para a sua essencialista meditacio lirica,
que usa do petrarquismo como de um modo de expressdo
de realidades interiores que muito ultrapassam a litera-
tura petrarquista e o proprio Petrarca”.
Estamos, assim, perante uma situacéo de intertextua-
lidade muito semelhante a que referi quanto ao uso
dos modelos cldssicos na poesia épica. De fato, deve con-
cluir-se que Cam6es transforma tudo aquilo de que se
apropria, tornando-o seu. Transgride as leis e descobertas
alheias, reinventando-as e assimilando-as @ sua propria ma-
neira de ser e de escrever, Mas, se textualmente Camées
reinventou o soneto de Petrarca, a mais transgressiva
transgressio encontra-se principalmente no tratamento
que Cam6es da & mulher e na sua nogao de erotismo. Neste
sentido diz Helder Macedo:™ “Quase toda a sua poesia
lirica € poesia de amor. O mesmo pode ser dito, é claro,
de Dante ou de Petrarca, mas esses admirdveis poetas, que
conseguiram a sintese do pensamento filoséfico do seu
tempo — bem como aqueles, e no essencial foram todos,
que até ao tempo de CamGes ainda neles se modulavam —,
viam na mulher amada o ideal divinamente amplificado de
64
si préprios e, conseqiientemente, entendiam a materiali-
dade do erotismo como um obstaculo a obtencio.desse
ideal. Camées, pelo contrario, assumiu a diferenciagao da
mulher amada como a causa do seu impulso amoroso,
Cam6es, como um alquimista experimental, para .quem
o amor fosse menos um meio para a ascensio ao absoluto
do que para a fruigéio terrena do seu valor, submeteu o
simbolo da mulher amada a sua realidade e, como tal,
diferenciou a obrigatoria uma Beatriz ou Laura nas vérias
que de fato amou”.
Quanto ao maneirismo, antecipador do Barroco, ele
revela-se principalmente na atencio dada ao texto e no
tratamento do seu valor como significante. Os exemplos
séo muitos e estao espalhados em toda a lirica e até na
épica, em que a sonoridade das consonancias e das rimas
contribui para uma musicalidade nova do portugués, que
muitos confundiram com a mera retorica.™ Mas a sonori-
dade do portugués épico de Camédes corresponde, isso
sim, a uma inovagao: a da necessdria correspondéncia
entre 0 som e 0 sentido da imagem poética. A sonoridade
6, assim, tratada como sendo uma imagem estruturante
do texto poético.
Quanto a fase espiritualista, a Ultima sob o ponto de
visto cronoldgico e biogrdfico, ela levanta muitas duvidas.
principalmente de cardter doutrindrio. Se é certo que,
como nota Helder Macedo, as rimas de “Babel e Sido”
(Sdbolos Rios) parecem ser uma submissao a fé crista
e uma procura final da unidade apds toda uma vida e
uma poética em que o multiplo se sobrepde ao um, tam-
bém nao é absolutamente certo que tais rimas possam ser
consideradas como testamento filosdfico do poeta. “Filo-
soficamente convencionais no contexto de uma obra que
estd longe de o ser — compare-se, por exemplo, a maior
sutileza no tratamento do mesmo tema no soneto ‘Ca
nesta Babilénia’ — 6 inevitavel que isso também se reflita
no monocordico mecanismo da sua construgao estilistica.
O poema constitui, no entanto, um ponto de referéncia
fundamental para a compreensao, por contraste, da extre-
ma originalidade filosdfica da restante poesia de Camées,
65
A qual o significado deste poema vem acrescentar uma
perturbadora dimensio de risco metafisico.” (in Camées
e a Viagem Inicidtica de Helder Macedo)
Ou serdé que este desejo de unidade, apds uma vida
de dispersio e uma poética de transgressao,* poderd ser
lido ainda, e uma vez mais, como um transgredir da pr6-
pria regra, e um aspirar 4 maior das transgressdes, huma-
nas: a consubstanciagéo com o prdprio Deus? Mas se po-
derd perguntar, que Deus sera esse, o do Novo ou o do
Velho Testamento?
Neste caso o siléncio 6 a Unica resposta de um poeta
que tanto agiu e tanto escreveu e que tanto inovou. E o
siléncio de Camées 6 razao suficiente para a nossa duvida,
transgressiva também.
Estas observagdes abreviadamente reunidas nfo resul-
tam de inovagées originais mas apdiam-se principalmente
em trabalhos criticos alheios, como é evidente face As
citagdes em que se apdia o texto, mas de que eu aqui me
aproprio como fios condutores de uma demonstragéo que
julgo oportuna: a da modernidade de CamGes. A pertinén-
cia de tal demonstracao resulta principalmente do fato de
ter sido Camées 0 padrao escolhido por Fernando Pessoa
para a sua proposta de superagio. E com Camées que
Pessoa deseja medir-se e ser medido. E, pois, urgente sa-
bermos quem é esse CamGes, na sua totalidade polimorfa
e nao apenas na metade que Pessoa considerava como va-
lida: o épico, obviamente.
Recentemente, Vital Moreira, na revista Vértice (n°
447, 1982), perguntava: “A era pessoana da cultura portu-
guesa jd comegou? O fato é evidente e incontroverso: a
estrela de Fernando Pessoa cintila cada vez mais forte no
céu da cultura portuguesa. No universo cultural portugués
Pessoa parece estar em toda parte. Sdo constantes e in-
contaveis as referéncias pessoanas no discurso literdrio
e artistico (e, até, politico) portugués contemporaneo”.
No entanto, cabe perguntar também: essa era pes-
soana durara até quando? A sua estrela saberd durar por
66
muito tempo ou a sua cintilagiéo corresponderé a um
momento de confusao e de indefinicgéo que hoje indiscuti-
velmente se vive, nado sé cultural mas até, e principalmen-
te, na politica?
Se Fernando Pessoa pode desempenhar’o papel de
“ultimo mito possivel da nossa cultura”, como’ diz José
Augusto Franca, também se pode argumentar que ele hoje
6 0 ultimo mito possivel porque ainda nao ha outro.
ou porque continuamos a condicionar a cultura a exis-
téncia de mitos.
Por mim, acredito que isso um dia assim deixara de
ser e que a reconsideragao critica de obras desalienantes
do passado, face a critérios abertos e progressivos, como
é, por exemplo, o conceito de transgressao estética, pode
conduzir-nos a um estado cultural que dispense os mitos
e que se possa projetar no futuro sem a nogao restritiva
de “ultimo possivel”.
A reconsideragéo de Camées, na direc&io e nos termos
que aqui tentei, julgo ser um fator positivo de cultura
desmistificante que, a todos quantos procurem escrever
um portugués inventivo, para além da era pessoana, dira
certamente respeito.
NOTAS E REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
69. “Quotidiano nio”
Estamos todos bem servidos
de solidao.
De manha a recolhemos
do saco, em lugar de pio.
Pao é claro que temos
(nao sow exageradao)
mas esta imagem do saco
contendo um pequeno “ndo'
nao figura nesta prosa
assim do pé para a mao,
pois o saco utilizado,
que pode ser 0 do pio,
recebe modestamente
4 corriqueira fragio
desse alimento que é
tao distribuido, tio
a domicilio como
0 leite ou o pao.
Mas esse leitor ai
(bem real!) jd diz que nao,
Que nunca viu no tal saco
o tal “nao”.
Ao que 0 poeta responde.
sem maior desilusao:
— Para dizer a verdade,
eu também nao
Mas estava confiante
na sua imaginagio
(ou na minha...) @ que sentia
como eu a solidéo
e quanto ela é objeto
da carinhosa atengao
de quem hoje nos fornece
0 quotidiano “nao”,
por todos os meios, desde
a fingida distragao,
até ao entre-parénteses
de qualquer reclusao.
70. A Estrutura de Os Lusiadas ¢ Outros Estudos Camonianos e de
Poesia Peninsular do Século XVI, Jorge de Sena, Portugalia Editora, 1970.
I. The Spirit of Romance, Ezra Pound, Ed. New Directions, N. Y.,
1968.
72. Obras Completas, Baltazar Gracian, Ed. Aguilar, Madri, 1967.
73. Outra das caracteristicas das cantigas de amigo, nao usada por
Camées, é 0 emprego do feminino na 1. pessoa do narrador.
74. In Os Sonetos de Camées e 0 Soneto Quinhentista Peninsular,
Ed, Portugélia, Lisboa, 1969.
75. In Camdes e a Viagem Inicidtica, Helder Macedo, Moraes Edito
res, Lisboa, 1980.
76. Ver alguns exemplos in O Préprio Poético, E. M. de Melo e
Castro, Ed. Quiron, Sio Paulo.
68
PERIODIZAGAO E |
TRAJETOS SINCRONICOS NA
POESIA PORTUGUESA
A periodizacio é um mal util. De fato nao existe ne-
nhuma periodizacéo, mas apenas tendéncias que se sobre-
poem e/ou substituem outras no tempo e no espaco, e
que, por isso mesmo, podem ser seriadas ou organizadas
segundo padrées predeterminados.
A periodizacgéo é uma superestrutura mais ou menos
racionalizada que o historiador impée a fluidez dos fatos
e a plasticidade dos acontecimentos percebidos através
dos documentos. Tal como diz William Burroughs, “todo
0 passado é ficcio”.’* & uma construcio inventada a partir
de fatos presumiveis ou sé probabilisticamente reais, e os
documentos sobre que se funda e a sua periodizagao sao,
jd em si proprios, uma construgao conceitual de quem os
produz e utiliza: a historia.
Mas que outro modo teremos de nos relacionarmos
com o nosso proprio passado senao reconstruindo-0?
Existirdo, assim, varias possibilidades de construir
esse nosso passado modelando o grau de rigor relativo
com que o faremos, desde a desvairada e alucinante in-
vencado dos fatos que melhor nos definirao, até a procura
69
de uma inalcangdvel objetividade cientifica de tipo realis-
ta. Ou poderemos optar pela metaforizagao ou pelo rigor
da cronologia. Poderemos ainda tentar combinar’ ambas
as tendéncias na procura de uma mais ampla e sugestiva
edificagdo.
Julgo que a periodizacéo das tendéncias estéticas da
poesia portuguesa se inscreverd neste Ultimo caso, par-
ticipando de uma vontade de rigor cronolé6gico (embora
s6 aproximativo) e de uma capacidade de interpretacio
metaforica, ou seja, da construgiéo de grandes unidades
conceituais que permitam um outro entendimento (trans-
cendente?) das raz6es que para nds sao aceitdveis e va-
lidas da dinamica da produgao de textos ditos poéticos.
A funcéo dessas grandes metdforas (as escolas, os
movimentos, as tendéncias, as vanguardas) e suas relacdes
de oposig&io, corte, discordancia, correspondéncia ou con-
tinuidade e concordancia (conforme os casos) sé ganharao
consisténcia e significagao perante a nossa prdépria dptica
ou posicionamento ideologico face aos fenédmenos cultu-
rais que intentamos entender, se os periodizarmos.
Por isso as polémicas sobre a histdria e sobre a esté-
tica nunca se restringem somente a essas matérias, e se
transformam em didlogo de surdos sem qualquer produ-
tividade se nao forem entendidas as fungdes de metdforas
culturais em jogo e a sua relatividade intersubjetiva, por
um lado, e interideolégica por outro. Ao periodizarmos o
passado buscamos mais 0 nosso proprio posicionamento
e a nossa consolidacio no suporte real do presente, que
o estabelecimento ou fixacdo para a eternidade da verdade
historica ou sequer 0 apuramento policidrio dos fatos ou
das idéias do passado. Cada geragao (ou cada individuo?)
tenderad a produzir a sua escala de valores para entender
e avaliar o que julga ser 0 seu passado, procurando esta-
belecer a sua realidade documental, ou seja, produzindo
uma ficgéo que funciona como realidade — como todas
as ficgdes, afinal.
Trata-se agora de produzir uma periodizagio da poe-
sia portuguesa. Para isso procederei por unidades ampli-
ficantes no tempo, partindo de um posicionamento sin-
crénico no momento atual (1982) e agindo em sinteses
metaforicas (nfo em andlises categorizantes) das tendén-
710
cias da poesia portuguesa. Posteriormente tracarei varios
percursos ou trajetos possiveis, conforme os atuais posi-
cionamentos criticos considerados como relevantes. Note-
se desde jad que a adogio da medida temporal década é
um artificio que convencionalmente nos servira como es-
queleto referencial, pois as décadas, tal como os.séculos,
séo apenas medidas temporais, que acabam por ter.valor
imagético dentro da perspectivacao historica, tornando-se,
portanto, significantes repletos de cargas conotativas.
Assim, propée-se a periodizagéo a seguir.
Década de 80 — Revivalismo experimental acompanhado
de neo-romantismo e da tentativa de re-
cuperagao do discurso discursivo, com
tonalidades decadentes pds-simbolistas
em tom menor, hiper-subjetivismo de
influéncia pessoana.
Década de 70 — Pressio do discurso politico apés 25 de
abril de 1974. Recuperacaéo da oralidade
e da poesia popular. Poesia visual espon-
tanea de funcdo politica imediata: grafiti.
Década de 60 — Presséio obscurantista da censura fascis-
ta. Ruptura antidiscursiva e anti-senti-
mental (a chamada “ruptura de 60”)
com Poesia-61 e com Poesia Experimen-
tal. Desconstrugio dos discursos do po-
der instituido, politico e moral. Poesia
do significante com anterioridade de um
projeto ideologico aberto e antifascista.
Uso da poesia erotica. Ressurgimento do
neo-realismo na musica popular: Poesia
dos Baladeiros.
Década de 50 — Novissima Poesia, ou seja, a simultanei-
dade de varias posig6es: tradicionalismo
lirico, Surrealismo, Neo-realismo, Arvo-
re (realismo contraditorio), Barroco
(nos Ultimos anos da década).
Década de 40 — Neo-realismo, Surrealismo, Cadernos de
Poesia (ecletismo intelectualizante: a
poesia é s6 uma).
Estamos agora em condicdes de estender a periodi
zacao até o fim do século XIX através de um esquema
para melhor visualizacao:
a
1970
1964
1961
1955
1950
1940
1937/1940
1927/1940
1915/1927
1912/1915
1890/1912
1889/1898
1875/1890
2
Experimentalismo
polivalente
Poesia Experimental
Poesia-61
Barroco
Tévola Redonda —
lirismo tradicional
Novissima Poesia _| Surrealismo
| Arvore
Neo-realismo (2.8 fase)
Jorge de Sena
Sophia Andresen
José Blane de Portugal
| Ruy Cinati
Cadernos de Poesia
(Eugenio de Andrade
(1945 fim da Guerra) | Carlos Queiroz
Vitorino Nemésio
Manuel da Fonseca
Polibio Gomes dos
Novo Cancioneiro Santos
Uirismo social) Sidonio Muralha
Neo-realismo (1.4 fase) Armindo Rodrigues
José Gomes Ferreira
Carlos de Oliveira
José Régio
Miguel Torga
Presenca (esteticismo | Casais Monteiro
psicolégico) Antonio de Navarro
Edmundo de
| Bettencourt
Fernando Pessoa
Modernismo ORFEU | Mario de Sé-Carneiro
Almada Negreiros
| Angelo de Lima
Renascimento intel a Pascoais
nacionalista ee ened
(Saudosismo) pes Vicira
Correia de Oliveira
Simbolismo (formal) — Eugénio de Castro
(essencial) Camilo Pessanha
Boémia Nova
Antonio Nobre
(pessimismo)
Pré.simbolistas Cesirio Verde
e Gomes Leal
realistas | Antonio Feijo
| Guilherme de Azevedo
A caracterizagéo destes movimentos esta feita em
ensaios de varios autores, incluindo-se neste volume uma
bibliografia seletiva, por ser invidvel um resumo*e por
nao ser esse 0 objetivo deste ensaio.**
Prosseguindo no alargamento do Ambito da periodi-
zacao a totalidade da poesia portuguesa, teremos,.que au-
mentar a unidade temporal para o século:
Século XX
Poesia Experimental e Barroco
Arvore
Surrealismo
Téavola Redonda
Cadernos de Poesia
Neo-realismo
Presenga
Futurismo — Orpheu
Renascenca portuguesa
Século XIX
Geragio de 90: Pés-simbolismo
Realismo (Guilherme de Azevedo e Cesdrio Verde)
Geracéio de 70: Realismo e Espiritualismo
(Antero de Quental)
Classicismo
Romantismo (Almeida Garrett)
Século XVIII
Poesia arcddica e Academias
Barroco
Século XVII
Barroco
Maneirismo
Século XVI
Maneirismo
Renascentismo
Século XV
Renascentismo
73
Século XIV
Cancioneiro de Resende
Séculos XIII e XII
Cancioneiros medievais (cantigas de.amor,.‘cari-
tigas de amigo e cantigas de escdrnio e maldizer)
Uma vez estabelecidas estas diacronias torna-se ne-
cessério procurar relagdes de nexo critico entre os dife-
rentes momentos e movimentos, no intuito de ultrapassar
a mera seriacfo temporal e atingir uma ampla e polis-
sémica compreenséo sincronica atual dos varios sistemas
poéticos que neste processo estio envolvidos. Continuan-
do a proceder esquematicamente, podem ser definidos
quatro trajetos principais que nos ajudarao a construir
imagens criticas adequadas e multiplas muito mais produ-
tivas que a imagem dada pela simples diacronia, Assim,
teremos:
Trajeto 1 — Experimental
Poesia Experimental / Barroco / Modernis-
mo / Barroco dos séculos XVII e XVIII /
Maneirismo / Cancioneiros medievais;:
Trajeto 2 — Realista
Neo-realismo / Cesdrio / Realismo de 70 ft
Poesia arcddica / Gil Vicente / Cancioneiros
medievais: cantigas de escdrnio e maldizer;
Trajeto 3 — De influéncia francesa
Surrealismo / Arvore / Presenca / Po6s-
simbolismo / Romantismo;
Trajeto 4 — Espiritualista (messianico, Fernando Pessoa)
Modernismo (Mensagem de Fernando Pes-
soa) / Renascenga portuguesa / Antero de
Quental / Padre Antonio Vieira / Camées
épico / Cancioneiros medievais.
Um quinto trajeto sera ainda possivel, embora nio
téo coerente como os quatro acima enunciados, pois com-
portard rupturas e alguns possiveis desvios ou alterna-
tivas sofrendo também de uma certa indefinicao critica,
74
E 0 trajeto da chamada lirica tradicional portuguesa, es-
pécie de saco sem fundo, mas na verdade sem uma concei-
tuagdo clara, que podera ter 0 seguinte esquema:
Trajeto 5 — Tdvola Redonda (Fernando Pessoa, ele-pr6-
prio, excluindo a Mensagem); aqui, haverd
uma ruptura modernista que diferenciara
qualitativamente a poesia de Fernando Pes-
soa da poesia nacionalista de um Antonio
Correia de Oliveira ou de um Augusto Gil. /
Antonio Nobre / Joao de Deus / Guerra Jun-
queiro / Castilho / Arcddicos. Aqui, a genea-
logia critica perde-se por falta de consistén-
cia da lirica de Castilho, o que permitira
concluir que este trajeto 6 o menos coerente,
mais dispersivo e também o menos original;
pelo que nado se entende o que seja a lirica
tradicional portuguesa para além de uma
manta de retalhos de sentimentalismos e
formalismos, esses sim ocos.
Os quatro trajetos estabelecidos representam as
tendéncias mais marcantes da poesia portuguesa conside-
radas a partir de uma conceituac&o critica atual, e nio a
partir das possiveis teorizagdes dos respectivos tempos
histéricos das correntes e escolas envolvidas. Cada um
destes trajetos necessitaria agora de um excurso caracte-
rizador, de uma stimula exemplificativa e de um debate
polémico. Seria também necesséria uma compilagéo das
excegdes notdérias ou das incompatibilidades ou dos casos
individuais de poetas de grande estatura, cujas obras ex-
cedem as caracterizagdes gerais, tal como, por exemplo,
Gomes Leal, para o fim do século XIX, e Vitorino Nemésio
ou José Gomes Ferreira, para o século XX. Tal nao é0
Ambito deste ensaio, pelo que se optard por uma sintese
das caracteristicas do discurso poético tipico de cada per-
curso, acompanhado de alguns exemplos e sumaria biblio-
grafia. Bom seria que fosse possivel a adogao de parame-
tros textuais aplicdveis aos quatro trajetos e em funcao
dos quais se fariam as caracterizagées pertinentes. E com
esse objetivo que retomo o binémio invengdo/mimese,
15
Século XIV
Cancioneiro de Resende
Séculos XIII e XII
Cancioneiros medievais (cantigas de amor, can-
tigas de amigo e cantigas de escdrnio e maldizer)
Uma vez estabelecidas estas diacronias torna-se ne-
cessdério procurar relagdes de nexo critico entre os dife-
rentes momentos e movimentos, no intuito de ultrapassar
a mera seriagio temporal e atingir uma ampla e polis-
sémica compreensao sincrénica atual dos varios sistemas
poéticos que neste processo esto envolvidos. Continuan-
do a proceder esquematicamente, podem ser definidos
quatro trajetos principais que nos ajudaraéo a construir
imagens criticas adequadas e multiplas muito mais produ-
tivas que a imagem dada pela simples diacronia. Assim,
teremos:
Trajeto 1 — Experimental
Poesia Experimental / Barroco / Modernis-
mo / Barroco dos séculos XVII e XVIII /
Maneirismo / Cancioneiros medievais;
Trajeto 2 — Realista
Neo-realismo / Cesdrio / Realismo de 70 /
Poesia arcddica / Gil Vicente / Cancioneiros
medievais: cantigas de escdrnio e maldizer;
Trajeto 3 — De influéncia francesa
Surrealismo / Arvore / Presenga / Pés-
simbolismo / Romantismo;
Trajeto 4 — Espiritualista (messianico, Fernando Pessoa)
Modernismo (Mensagem de Fernando Pes-
soa) / Renascenga portuguesa / Antero de
Quental / Padre Antonio Vieira / Camées
épico / Cancioneiros medievais.
Um quinto trajeto sera ainda possivel, embora nao
téo coerente como os quatro acima enunciados, pois com-
portard rupturas e alguns possiveis desvios ou alterna-
tivas sofrendo também de uma certa indefinicao critica.
74
E 0 trajeto da chamada lirica tradicional portuguesa, es-
pécie de saco sem fundo, mas na verdade sem uma concei-
tuacdo clara, que podera ter 0 seguinte esquema:
Trajeto 5 — Tdvola Redonda (Fernando Pessoa, ele pro-
prio, excluindo a Mensagem); aqui, hayerdé
uma ruptura modernista que diferenciard
qualitativamente a poesia de Fernando Pes-
soa da poesia nacionalista de um Antonio
Correia de Oliveira ou de um Augusto Gil. /
Antonio Nobre / Joao de Deus / Guerra Jun-
queiro / Castilho / Arcddicos. Aqui, a genea-
logia critica perde-se por falta de consistén-
cia da lirica de Castilho, o que permitira
concluir que este trajeto 6 o menos coerente,
mais dispersivo e também o menos original;
pelo que nao se entende o que seja a lirica
tradicional portuguesa para além de uma
manta de retalhos de sentimentalismos e
formalismos, esses sim ocos.
Os quatro trajetos estabelecidos representam as
tendéncias mais marcantes da poesia portuguesa conside-
radas a partir de uma conceituagio critica atual, e nao a
partir das possiveis teorizagdes dos respectivos tempos
historicos das correntes e escolas envolvidas. Cada um
destes trajetos necessitaria agora de um excurso caracte-
rizador, de uma simula exemplificativa e de um debate
polémico. Seria também necesséria uma compilagao das
excecdes notdrias ou das incompatibilidades ou dos casos
individuais de poetas de grande estatura, cujas obras ex-
cedem as caracterizacdes gerais, tal como, por exemplo,
Gomes Leal, para o fim do século XIX, e Vitorino Nemésio
ou José Gomes Ferreira, para 0 século XX. Tal nao 6 o
Ambito deste ensaio, pelo que se optard por uma sintese
das caracteristicas do discurso poético tipico de cada per-
curso, acompanhado de alguns exemplos e sumiaria biblio-
grafia. Bom seria que fosse possivel a adogio de parame-
tros textuais aplicdveis aos quatro trajetos e em funcao
dos quais se fariam as caracterizagoes pertinentes. E com
esse objetivo que retomo o binémio invengéo/mimese,
15
proposto no primeiro capitulo deste livro, procurando afe-
rir a sua aplicabilidade aos quatro trajetos.
Assim, no primeiro trajeto, o Experimental, assinale-
se uma predominancia quase total do polo inventivo,
No segundo trajeto, 0 Realista, observa-se exatamente
© oposto: 6 o pdlo mimético que domina a produgéio’ da
escrita da poesia.
No terceiro trajeto, o Romantico, de influéncia fran-
cesa, a mimese continua sendo a raiz da inspiragao poé-
tica, mas é agora filtrada por uma consciéncia individual
e subjetiva da escrita que, embora desvalorizando as pa-
lavras e a literatura como estatuto social por serem insu-
ficientes para a materializacéo ou expressao da intui¢gao
e da inspiragaio poética, delas nao pode abdicar, aceitando
o texto como um elemento redutor, mas afinal o unico
para a escrita da poesia. E desta tensio entre o mimético
e o inventivo que surgem as reflexes poéticas sobre a
escrita e se faz a poesia da poesia.
Por fim, no quarto trajeto, o Espiritualista,"” observa-
se uma situacio semelhante ao do terceiro trajeto, mas
em que o referente da mimese nao é a subjetividade do
poeta e sim um projeto idealista e imaterial de concepcao
do mundo, sendo a poesia, através do texto, 0 caminho
para alcangar as regides do espirito (Antero), o regresso
ao paraiso (Pascoais) ou ao quinto império (Mensagem)
ou a Sociedade chamada Portugal (Fernando Pessoa). E
a pratica inventiva (criativa) da lingua que é, para Pessoa,
a via da constituicio exotérica dessa projetada sociedade.
NOTAS E REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
77. Ver “Burroughs habla”, in Quimera, Revista de Literatura n° 24,
outubro de 1982, Barcelona.
78. Bibliografia selecionada sobre a poesia portuguesa no século XX.
Fernando Guimaraes — A Poesia da Presenga e 0 Aparecimento do
Neo-Realismo, Editorial Inova, Porto, 1969.
—. Simbolismo, Modernismo e Vanguardas, Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, Lisboa, 1960.
16
Nelson de Matos — A Leitura e a Critica, Editorial Estampa, Lisboa,
1971.
Eduardo Lourengo — Sentido e Forma da Poesia Neo-realista, Edito-
ra Ulisséia, Lisboa, 1968.
. Tempo e Poesia, Editorial Inova, Porto, 1974:
E. M. de Melo e Castro — As Vanguardas na Poesia Portuguesa, Bi-
blioteca Breve, Lisboa, 1980.
. O Préprio Poético, Edigdes Quiron, Sio Paulo, 1975.
79. Sobre este “trajeto” ou projeto para a poesia portuguesa, ver Fer-
nando Pessoa, Cidadéo do Imagindrio, de Joel Serrao, Livros Horizonte,
Lisboa, 1981.
Wi
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Toque - Jean Luc NancyDocument8 pagesToque - Jean Luc NancyErick Costa100% (1)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Dicionário Magos Adivinhos Etc Da Antiguidade PDFDocument323 pagesDicionário Magos Adivinhos Etc Da Antiguidade PDFErick Costa100% (4)
- Antonin Artaud - para Acabar de Vez Com o Juízo de Deus & O Teatro Da CrueldadeDocument98 pagesAntonin Artaud - para Acabar de Vez Com o Juízo de Deus & O Teatro Da CrueldadeErick CostaNo ratings yet
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Blanchot - A Escritura Do DesastreDocument190 pagesBlanchot - A Escritura Do DesastreDaniel Kairoz100% (3)
- Antes o Mundo Não Existia - Livro IndígenaDocument26 pagesAntes o Mundo Não Existia - Livro IndígenaErick CostaNo ratings yet
- Antonin Artaud - Linguagem e VidaDocument294 pagesAntonin Artaud - Linguagem e VidaErick Costa100% (1)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Antonin Artaud - Van Gogh, o Suicidado Pela SociedadeDocument31 pagesAntonin Artaud - Van Gogh, o Suicidado Pela SociedadeErick Costa100% (1)
- SHOSHANA Sobrevivência Postal, Ou Questão Do UmbigoDocument15 pagesSHOSHANA Sobrevivência Postal, Ou Questão Do UmbigoErick CostaNo ratings yet
- Blanchot O Espaco Literario PDFDocument140 pagesBlanchot O Espaco Literario PDFErick CostaNo ratings yet
- BARRENTO, J O Gênero IntranquiloDocument16 pagesBARRENTO, J O Gênero IntranquiloErick CostaNo ratings yet
- Maurice Blanchot - Pena de Morte-ImagoDocument62 pagesMaurice Blanchot - Pena de Morte-ImagoErick CostaNo ratings yet
- Fernand Deligny O-Aracniano-E-Outros-Textos PDFDocument144 pagesFernand Deligny O-Aracniano-E-Outros-Textos PDFErick Costa100% (1)