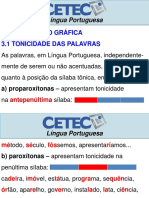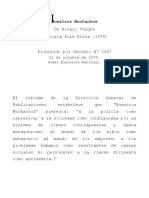Professional Documents
Culture Documents
Austral
Austral
Uploaded by
Dani Ferri0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views14 pagesOriginal Title
austral
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views14 pagesAustral
Austral
Uploaded by
Dani FerriCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
Repensar a América:
do Sul, ao plural, austral
Biagio D’Angelo
Sans donte pent on visquer |...) la definition suivante de cette
ste de
nonvelle « identité américaine, Tdentité multiple tra
Jronticres qui, aussi imperceptibles qu'elles puissent étre, n'en
constituent pas moins notre mémoire, En somme, ce que le roman
de Noil Audet, Frontitres on tableanx: d’Amérique suggere, a
travers son narratenr-promencnr-romancer, c'est que pour assurer
son identité québécoise, pour devenir « souvenir » am sens
istentiel du terme, il doit partager son
américaineté en Vinserivant dans l'hétérogéndité du continent tout
entier. Autrement dit, il doit assumer son identité impure et vivre
enfin la « différence » comme un phénomine dialogiqne dans une
esthétique comme
nouvelle facon de réver ! Amérique,
Liva LeGrand, Réver “Amérique: pour une lecture de
Frontitres on Tableans: d’Amérique de Noi! Audet
‘Temo que tenhamos os olhos maiores do que o ventre, ¢ mais
curiosidade do que a capacidade que temos. Tudo abarcamos, mas
estreitamos apenas vento |...) Nao ha nessa nagdo nada de
beirbaro e de selvagens, pelo que me contarany, a nao ser porque
cada qual chama de barbie aquilo que néo é de sen costume,
(Montaigne, Ensaios, Livro 1, XXX1)
da descoberta, por obra de Villegagnon, da
: : : ae
“Pranga Antartica”, 0 eético Montaigne adverte que “essa descoberta de i
is ii me, li-
pais infinito parece ser de considerivel importincia” (Montaigne, 1996,
Xx! ‘ fi = Fea Montaigne indi-
vro 1, XXXI). Atrds dessa misteriosa conotagio geografica, Montaigne 1?
coal “Tet aco latino-
a
mos, Perguntamo-nos: 0 espa
americano configura
Talvez. seja 0 momento adequado pa
para 0 comparatismo latino-americano a partir da discuss
Ao relatar a curiosa histori
Brasilis” que hoje ocu]
ainda como “franco-antartico”?
repensarmos novas 3
10 sobre 0 “
. éncia dos dis
espaco ¢ discurso insuficiente a abrangéncia dos
s como Hi:
um continente
no”-americano como
aroldo.
»-me indispensavel reler figu
cursos da atualidade. Parec
as “latinas” de
de Campos ¢ Octavio Paz, ¢ romper as mar
que é plural, marcado pela heterogeneidade, pelo plurilinguismo, pelos ™°
vimentos utdpicos, pelas conexdes com Africa e Oriente. 7
Nao é este o melhor lugar para detalhar um exxurus historiogrifico
sobre 0 termo “latino” ou “latinidade”. Porém, nos serve, como ulterior
ponto de partida, uma defini¢io de “atinidade” dada por Sérgio Rowane
em 2001, a ante sobre
francesas na América.
inalada por Regina Campos, em artigo muito instiga
as ideias
Nessa acepciio especifica de “atinidade”, os povos latinos estariam
vivenciando “uma sensacio de partilharem uma identidade comu™”
(Perrone-Moisés, 2004, p. 79). Tratar-se-ia de uma identidade comum qU°
muito se aproximaria de um conceito “es latinidade
encialista” de espirito, A
seria um elemento “essencial” que se transmite via linguagem. Porém,
“latinidade” da atualidade acontece por agregagio, A formacao do reconhecr
mento da latino-americanidade deriva hoje da reformulagio da conscience
continental, Novamente, Regina cates lembra que a palavra “Jatinidade”,
inventada por Charles Calvo, em 1862, e “dedicada” a Napoleao III, indica-
tia uma homenagem a unidade de todos os povos de raga latina (Perrone
Moisés, 2004, p. 82).
Os debates atuais sobre a globalizagio, 0 multiculturalismo, ©
ao
transnacional ¢ as migragdes tornaram indispensivel retomar a discus:
sobre a vivacidade da multiplicidade natrativa, etnogrifica, antropolégica €
epistemologica das Américas. Digo “das Américas”, e nao apenas “da Amé-
rica”, pois as narragdes ¢ as fibulas investem rerticalmente todo um mapa
geopolitico, A recuperagio das fibulas como expressio de uma forga ficcional
fi»
18
em um territério plural, global, e em uma “identidade miltipla”, Sa
z ; ented ia ta: ent dis
proposta de Edouard Glissant, uma tradi¢So “diversa”, incompleta, em
= f . eo ee
cussao continua, aproximativa, na qual as etnias ¢ as culturas coexistem se
Fati i 10 1
cfetivamente interpenetrar-se” (Glissant, 2005, p. 50):
se
se criouliza, isto é, se multiplica, misturando as flores
neagados, (roc!
ado, chamava
adas (p. 75)"
O Mundo treme,
indo.
tos ¢ seus blocos de gelo, todo
eaquilo qui
seus mares, seus de:
emudando seus costumes e suas cultu no pass
mos ainda as suas identidades, na grande maioria hoje massacr
jstematizar
O di
uma cultura “nacional” — talv
urso de Glissant busca as orientagdes basi
s para s
" “ inicana
liminar como aquela caribenha ou martinica
~a favor de uma mudanga de percurso.
» Glissant,
ntes do pensamento de Glissan
Mario de Andrade, varias décadas
s binarias,
tinha alimentado uma “tensio dialética” de superagio de regr ;
como escreve Ratil Antelo, “entre um fato de /angue © um fato de parole,
jabilidade das
enfim, entre a obrigatoriedade cega da lei e a constante va
Rormas que pautam a rapsédia” (1997, p. 301).
tre mascaras e totens, metanarrac’o e intertextualidade, identifica-se com °
discurso plural marioandradino. Por meio de mitos € utopias, Mario declara,
de fato, a obrigagio de se pensar um “nacionalis
isse narrador oscilante €~
no universalista”.
dos em relagao as civilizagdes o dia em que
criarmos 0 ideal, a orientagio brasileira. Entio passaremos da fase 40
“Nos s6 seremos civiliz
mimetismo pra fase da criagio. E entio seremos universais porque naclo~
nais”, escreve Mario a Carlos Drummond de Andrade (Andrade, 1982, P-
16). Ha uma maneira de ser nacional ~ segundo o autor de Masunaima -
que € totalmente contriria ideia fascista © separatista de nacionalisme-
Para consolidar a literatura, Mario de Andrade rompe com os regionalis-
mos que nfo siio ainda reconhecidos como parte da cultura nacional siste-
matizada, Mério nfio pensava nem em uma assimilacio nem em uma pura
insercio, mas em valorizar os segmentos regionais para se ampliar em uM
contexto internacional.
* “Oli les ethnies et les cultures coexistent sans vraiment s‘interpénétret”. Tradugio nossa.
* “Le Monde tremble, se ¢
es banquises, tous men
encore il appelait ses identités, pour une grande
lise, c’est-A-cire se multiplic, mélant ses foréts et ses mets, ses déset
és, changeant et échangeant s
19
Na regio austral das Amé
as, 08 processos discursivos pés-ut6picos
(ou, se quisermos, p6
preocupante da
modernos) estio encorajando um achatamento
significagaio ¢ das repercussdes da literatura comparada, A
auséncia das priticas comparatistas compromete 0 conhecimento do outros
pottanto, repensar a literatura (mundial e latino-americana) dev
ser asso-
ciado & problemiatica cultural das nagdcs ¢ das identidades, ‘Tania Carvalhal
escreve: “Propor a comparacio dos comparatismos é, efetivamente, reco-
nhecer que a literatura comparada é hoje plural” (Carvalhal, 1997, p. 11)
Resumindo: a literatura comparada na América Latina é sracunainica,
isto é, plural, mitica ¢ mitol6gica, irOnica, e nessa diversidade se apresenta
como um discurso necessario ¢ revelador, como 0 reconhecimento de uma
pratica e de uma
stratept
de leitura (uma leitura como tradugao) ¢ tentativa
de compreensiio da realidade:
Latin America is a fictional space, forever in between the hegemonic
domination of North America and nostalgia for Europe. This in-between
space is populated with voices of such diversity that the wildest fabulations
of the first Huropean visitors are but a remote and pale simulacrum, Latin
America does not only speak in Spanish and Portuguese, but also in Creole
and in Quechua, Nahuatl, Guarani... (Valdés, 1995, p. 5)
também
Ora, perguntamo-nos: aqui, nés, latino-americanos, falamos
japonés, chinés, coreano, ou uma das linguas primitivas do arquipélago
polinesiano? A resposta niio pode ser senio afirmativ
O diflogo cultural entre Oriente ¢ Ocidente tem se limitado, por exem-
plo, as trajetdrias dos assim chamados Fias-West Stadies, que revelavam formas
Ses culturais ocidentais
sado-
de aproximagio as expres da parte de pesqui
res, em sua maioria, do Extremo Oriente. O estudo das influéncias literarias
orientais (a “presenga” japonesa, em particular) na literatura latino-americana
permitiria introduzir-nos na tentativa de tr:
car uma “cartografia alargada”
da literatura latino-americana.
Uma figura-chave na construgio dessa ponte para a abertura da latino-
americanidade é 0 tradutor. Embora pensadores como Hans-Georg Gadamer
sustentem a inevitabilidade de se pensar a partir da evidéncia linguistica, na
qual 0 sujeito nas
¢ se desenvolve, 0 nosso pensamento nio sofre apen:
a
pertenca a uma realidade tinica que, do nascimento, tinha se dado; ele se move
dentro, também, dos frutos culturais que provém de uma nova nogio de cul-
>
20
tura ampliada ao panorama do mundo globalizado em que vivemos. O sujeito
pensa, portanto, no apenas com uma lingua apreendida do meio familiar,
5 culturais que sio os
ide 0 comego, mas vibra de uma rede de interconex6
d
estimulos profundos ¢, quiga, sub-repticios derivantes do hibridismo cultural
que domina os espagos e 0s discursos de um mundo em transformagé
O tradutor se transforma, retomando as palavras de Haroldo de Cam-
ntes €
pos, em uma série de figuras alegoricas: ponte entre dimensdes dis
insuspeitiveis, demolidor de fronteiras, dilatador de espacos, o tradutor possui
er com
a imensa tarefa de reconfigurar imagens pocticas, assim como faz
antes se recubram de significado € In-
que as express6es puramente signifi
tensidade vital, poética € profética. Nao é por acaso que para Haroldo ©
tradutor é, em primeiro lugar, um transcriador, que transita entre criagdes,
uma figura que se coloca no meio de duas ou miltiplas aguas; ao converg!T
nele a fungio de atragio das respostas plurais do imaginirio, dissipa ¢ desig-
ida)
significados que, de outra maneira, resultariam incompreensiveis, inacess
na (“dissemina”, poderiamos ousar dizer com um termo caro a De
veis.
define o tradutor como um “coredgrafo da danga das linguagens”, uma eX-
por isso que, com genialidade, mais uma vez, “oriental”, Haroldo
pressfio que demonstra as solugdes descobertas pelo poeta de Galaxias 00
encontro com a tradigaio do Extremo Oriente.
‘Tania Carvalhal, que tinha dedicado a taxonomia tradut6ria perspica-
zes trabalhos de abertura intelectual ¢ sabedoria “oriental”, afirmava que ©
ou
gesto da tradugio nunca é reduzivel a um intercimbio de letras, palavrs
uma atividade do espirito
verbos. A tradugiio, que Haroldo de Campos quis
€ de uma mente perceptora e receptora de verbo-voco-visualidade, 6, 48
palavras de Tania Carvalhal, principalmente “sempre uma aventura do co-
nhecimento”. A traducio assume, portanto, um valor nao apenas informativo-
cultural. Cada gesto tradutorio é uma espetacular abertura ao conhecimento
do outro, uma “aventura” metaférica, que se une & “consciencia da alteridade”,
ou scja, de uma dimensfio transgressiva, uma peculiaridade que, excedendo
08 confins mais préximos e imediatos do sujeito, langa-se ao reconhecimen-
e
to de si em outros rostos, paises, livros, ”’. Contudo, essa busca da
alteridade, signo constante de um desejo inenarravel de se conhecer, de se
superar e se desafiar na tomada de consciéncia da babélica divisio das cultu-
ras, ultrapassa “o simples exotismo ou a atragio pela diferenga, pois trata-se
21
da aquisigao de uma outra maneira de ver 0 mundo, de se apropriar dele ¢,
‘j-lo” (Carvalhal et al., 2004, p. 27).
Desde que Edward Said, com Orientalismo (1979), quis provocar, com
essencialmente, de expres
justo acerto, certa mentalidade restrita a0 programa cultural eurocéntrico,
niio é ficil entrar nos espagos orientais sem pensar no “orientalismo” como
uma formula magica separatéria, nfo acolhedora da cultura alheia, uma pos
tura egoistica © egocéntrica, mais que comodamente eurocéntrica, O
orientalismo, segundo Said, representa uma das ideias menos inocentes que
a cultura ocidental tinha promulgado. Atrevo-me a util
aro termo
“orientalismo”, evitando os artificios sectarios ¢ limitados, ¢ com 0 desejo €
‘a curiosidade que suscita 0 Oriente, por sua fascinagio indiscutivel de ser
“cultura-outra”, de apresentar um sistema cultural complexo de diferengas,
variavelmente interpret . As qualidades de
eis empatica ou analiticament
desejo ¢ curiosidade se justificam por ser 0 Oriente uma representagio ale
mbio de experiéncias da “alteridade”, ¢ nesse intercambio
gorica do inter
Consiste a necessidade epistemoldgica de langar-se ao conhecimento de um
de
Consideramos, por exemplo, para introduzirmos ao problema, um
onhecida.
Jugar ¢ de uma abordagem cultural q
pelissimo conto de Titaméia, intitulado, muito sugestivamente “Orientagio”,
Guimaries Rosa nos oferece, nesse breve relato, uma reconsideragio da nogio
de orientalismo, uma releitura da palavra ¢ do conceito de “exético”, basea-
sa diversida-
cio da “diferenga”, da diversidade, da aceitagao d
dana afirma
de como tolerincia ¢ enriquecimento reciproco dos valores proprios de cada
jndividualidade. Rosa reconhece no Oriente um caminho pottico que opera
uma profunda inversfio desestabilizante da identidade, como na significativa
definicao da cineasta ¢ critica vietnamita Trinh Minh-Ha: “I become me via
an other. Depending on who is looking, the exotic is the other, or itis me”
(Minh-Hla, 1994, p. 23). Guimaries Rosa é consciente de que a escritura é
uma experiéncia de mobilidade, veiculo de encontros, mediagao entre as
culturas, que cria ¢ abrevia distincias; cla mesma (a eseritura) pede ao artista
uma constante comparacio, epistemolégica € ontol6gica, entre a posi¢io
egaturalistica” do escritor ¢ 0 que estimula o objeto fora dele, mas, nele se
estabelece o centro das sua
s atengoes.
Esta focalizagio, em que o esctitor se dispde na atitude da aceitagio do
outro, é a filosofia prévia que guia Guimaries Rosa no conto que estamos
22
‘ Frequéncia, percebido
tratando: 0 Oriente, que em outros autores é, com frequéncia, perce
: aia Zo hostilidade, ganba na leitura
na sua incompreensibilidade, quando nio hostilidade, ganha na
ane Seman es dis-
rosiana uma atmosfera de certa familiaridade, formando, assim, wm
sobre 0 Oriente: de
a incontrolivel
curso irregular, instavel, ja que quebra as duas vise
uma parte, como idilio sentimental ¢, de outra, como ame
que tem que ser dominada.
io abstrata”, escreve
riente
Sempre “navegamos para Oriente”, uma “navegaga
num poema a portuguesa Sophia de Mello Breyner Andersen: esse “O'
nta, conforme @
do Oriente do Oriente” de que fala Pessoa — € que repr 4
8 “ ar ideal que no
leitura de outro poeta portugués, Manuel Alegre, “aquele lugar ideal que
s povos
vem em nenhum mapa, mas onde um povo, contatando com outros Pov
€ outras culturas, acaba por descobrir a sua propria alma” (Alegre, |
Mildonian et al., 2002, p. 18-19). .
Este “oriente” (mas poderiamos também chama-lo de “orientalismo >
de “alheio”, de “alteridade”) — que se manifesta como dramitico, quando
nao trigico, na interpretagiio dos autores da modernidade literiria, come
Edward Morgan Forster, Ezra Pound, Lafcadio Hearn, Paul Claudel ~
revela em Rosa como abertura ao diverso, accitando-o em todas as suas
diferencas e caracteristicas, que enriquecem a individualidade, a singulari-
dade, na sua esséncia precisa da alteridade ¢ também como construgio
poética. 3, 20 mesmo tempo, um “oriente” que inverte, do ponto de vista
artistico, os sistemas de valores eurocéntricos de supremacia ¢ poder, fun-
‘ador
ista
cionando, assim, como entre-lugar antinacionalista e antirracista, vivifi
€ dinimico construtor de identidades. Esse Oriente assim “orientalizado”
pode ser encontrado em outras manifestacées literarias latino-americanas
Provavelmente, 0 maior iniciador de uma redescoberta, na América
Latina, de vinculos com a cultura oriental é Octavio Paz, cuja teoria do
“orientalismo” pode ser identificada como um fluxo constante, uma niio-
separacio, a experiéncia realmente universal do pensamento poético. A
auséncia de exploragdes sobre as relagdes entre Oriente ¢ Cultura Latino-
Americana é definida pelo critico e poeta mexicano como uma auténtica
“deficiéncia de nossa critica” (1996, p. 177). Paz admite que “a estética
nd
japonesa ~ melhor di 0 leque de visdes € estilos que nos oferece
essa tradigio artistica e poética — nao cessou de nos intrigar e de nos sedu-
zit”, porque o que se busca nela é “outro estilo de vida, outra visio do
mundo e, também, do fransmundo” (p. 171, grifo meu). Em definitiva, tra-
sa fa»
23
ta-se de uma “sensibilidade” que nao se reduz a
nsacio, nem a uma
intuigao falsamente devocional: poderia ser traduzida com a expressio ja-
ponesa “kokoro”, uma mistura entre raciocinio e sentimento, entre as entra-
has ¢ 0 coracio destituido de sua decaida no banal ¢ no sentimentalismo.
Ademais, Paz identifica de forma surpreendente em poetas significativos
squecide
hispanicos, embora ligeiramente , como 0 equatoriano Jorge
Carrera Andrade (
Téquio em 1940), os mexicanos José Juan Tablada (com sua obra inova-
dora ¢ pioneira Hiroshiqué de 1914, composta por textos e desenhos) ¢
u livro japonesizante, Microgamas, foi publicado em
Efrén Rebolledo, ¢ também nas produgdes mais divulgadas de Federico
Garcia Lorca, Anténio Machado ¢ Juan Ram6n Jiménez, uma curiosa ali-
anca cultural: a aproximagio entre 0 haikai ¢ 0 tanka com a seguidilla de
origem andaluza. Essa sensibilidade primorosamente comparatista subli-
nha um movimento de bus
a da alteridade mediante o complexo e vital
fendmeno da tradugio: uma tradugio que funciona, portanto, como estra-
tégia privilegiada para entrar no conhecimento da cultura alheia. Sintetiza
Tania Carvalhal: “Na tradic:
oriental das imagens, 0 poeta encontra as
imagens da tradigao ocidental € com ambas elabor:
suas transcriagdes
poéticas, As tradugées comprovam, entio, o papel decisivo que represen-
tam nas relag6es interculturais” (2004, p. 26).
Se Rebolledo experimentou, pelo viés da poesia oriental, um exotis
mais parisiense que toquiano, Tablada soube descobrir na experiéne
es-
tética japonesa (¢ no por dltimo,
pintura), certos elementos originais
que recuperou na sua produgio postica: “economia verbal, humor, lingu
gem coloquial, amor pela imagem exata ¢ insélita” (Paz, 1996, p. 177).
Seria suficiente dar uma olhada em sua obra Hiroshigué, para ver até que
ponto a simbiose com a cultura japonesa foi cumprida pelo artista mexica-
no, oferecendo ao leitor de lingua espanhola composigdes poéticas que,
ainda hoje, conforme a opinidio de Octavio Paz, conservam “intactos seus
poderes de surpresa e seu frescor” (p. 178).
A mesma poesia de Paz, de Blanco (1966) a In/mediaciones (1979), bem
ilustra a assimilacio da cultura oriental como parte proveitosa para a propria
experiéncia poética, um enriquecimento cultural ¢ espiritual, que desembo-
card em uma extraordiniria amizade, uma verdadeira “convergéncia”, poéti-
ca ¢ intelectual, com Haroldo de Campos que, operando na mesma época
que Paz, dedicou ensaios de fundamental importineia no conhecimento da
24
fugaz da brevidade (1977), €
poética do haikai, em particular sobre a bel
também uma “tesposta” a Paz através da traduga
morfose” (é0 termo que utiliza Rodriguez Monegal) de Blanco por Transblanco
(1986). A correspondéncia vivencial entre Haroldo e Paz faz, dizer ao critico
uruguaio que a cultura oriental entra, dessa maneira, em um tecido de apro-
0, ou melhor, da “meta-
ximagao e fusio, fazendo com que “a intertextualidade se converta em
intervivencialidade” (Rodriguez Monegal, 1986, p. 11). Paz reconhece tam-
bém o papel decisiv da poesia espacial, em oposigio a poesia temporal,
discursiva, que terio os poetas vinculados com Haroldo, os grupos de
e-se a uma singular apropriagio
Noigandres e Invengao. Em Transblanco, 2
da cultura chinesa e japonesa (Li-Po, Matsuo Basho, em primeiro lugar),
io por ideogramas. O
segundo o principio programatico da compos
im, com pleno direito na estrutura morfolégica ¢ men-
extenso, na literatura latino-america-
ideograma entra, ass
tal da poesia concreta brasileira e, por
na, “um dominio novo de experimentagiio da fragmentagiio das palavras €
de sintese visual no poema” (Campos, 2004, p. 28).
Para Haroldo de Campos, é injustificavel a “aura de melifinidade ©
exotismo gratuito que a visdo ocidental procura, frequentemente, emprestar
a0 haikai, desvitalizando-o em sua principal riqueza — a linguagem altamente
centrada € vigorosa” (1977, p. 55-56, grifo meu). [i justamente o intere’
para uma linguagem tnica, na qual por meio de uma estrutura unificante de
grafemas e signos se chega a uma fulguragio, muitas vezes, metafisica, que
uscita a atengao de um leitor ¢ transpositor (em outras palavras, um
“transcriador”) como Haroldo. Citando grandes nomes da critica oriental
no Ocidente, como Donald Keene, Earl Miner e¢ Ernst Fenollosa, sobre
cujas reflexes Ezra Pound fundamentou sua poética imagética, Haroldo
Sintetiza a vigorosa ¢ original dinamicidade do ideograma como signo poé-
tico por exceléncia, compondo-se de “duas coisas conjugadas” que no
Produzem uma terceira coisa, “mas sugerem alguma relacio fundamental
entre ambas” (p. 56). As explicagées e traducdes de textos de Buson (como
© seguinte: “canta o rouxinol// garganta mitida// -sol lua — raiando”), ou
de Bashé (“o velho tanque// ra salt// tomba// rumor de agua), com a
disposi¢ao visual das linhas poéticas © as impressionantes invengdes
linguisticas, efetivamente “transcriativas”, renovam com forga uma lingua-
gem poética ocidental talvez ja estancada e impenetravel aos compromis-
sos culturais de lugares desconhecidos,
25
Para Haroldo, a maior obtencio cultural da poesia oriental, em parti-
cular da japonesa, é constituida pelo uso do elemento visual ¢ da concisao.
Es
da sua propria natureza” (p. 63). Através de uma imagem-escrita
(ideogramitica), a matéria poética “passa do vi
apd Campos, p. 64), ou seja, se transforma imediatamente, sem media-
ses dois fatores sao intrinsecos 4 poesia japonesa, porque “participa[m]
el ao invisivel” (Fenollosa
goes logicas definitorias, no recurso da metifora, em que “o uso de ima-
gens materiais” é a ferramenta de obtengio e “sugerir relagdes imateriais”
(p. 64). Dessa forma, a poesia se libera, conforme Haroldo, da patina do
tempo, assim como do desgaste linguistico causado pelo pérfido uso coti-
diano ¢ revela, “nao obstante, toda a sua concreticidade” (p. 65). Haroldo
explica em que consiste essa concreticidade, que define com uma
remanipulagio fecunda do termo, “verdadeiro realismo magico”, que pe
mite revisar um cliché literario, abusado, através de outras lentes, outras
leituras, mais agudas ¢ perceptiva
Para um poeta japonés, aids, o “magico”, o “surreal” parece no ser outra
cois
imaginirio franqueiam-se os respectivos umbrais, si ingredientes do seu
cotidiano; bastaria lembrar a presenga constante do maravilhoso na tradi
ou referir, por tris da téeni
seniio a sua mancira de considerar o auténtico “real”: para cle, real ¢
io
do haikai, 0 “momento de
literdria nipOni
iluminagao”, de inspira
‘io zenbudista (p. 67).
descobrimento da cultura oriental, com particular énfase na poesia
japonesa, permite, conforme Haroldo, sublinhar o carter ontologico do
fendmeno literirio como “poética sincrdnica”.
Haroldo de Campos faz suas as palavras de Octavio Paz, sob o impacto
da leitura da “poesia concreta”, em uma carta que 0 escritor mexicano man-
jleiro, datada 14 de margo de 1968. Ao
da ao bras onhecer que os idiomas
espanhol e portugues
oriental, font cour), Par. declara que 0 que se pode “fazer”
“esti no Extremo oposto” da cultura japonesa (¢
apenas “inventar
procedimentos plisticos ¢ sintiticos que, mais do que imitacgio dos
} Seria interessante, mas escorres
nna produgio literiria ocidental, eitande
io com uma referéncia a Fernando Pessoa, atr
oriental
> espaco da culty
guns nomes mais evidentes, Haroldo de Campos conelui
de seu heterénimo Alberto
iro.
seu en:
Goostaria apenas de reenv
que contém um excelente texto sobre as influéncias da poesia zen na poet
Mois
La»
iro eitor ao volume de Le
Perrone-Moisés sobre poeta pormgués,
de Caciro. L. Perrone
5, Fernando Pessoa, aguém do en, alin do ontro, Sio Paulo, Martins Fontes, 2001
26
: ; se énicos” (Pa cam-
ideogramas, sejam suas metiforas, seus duplos antagonicos” (Paz. apud C
idade inte-
pos, 2004, p. 200), Trata-se, portanto, nao apenas de uma curic
a serem reassumidas
lectual, nem de adesfio a umas culturas desprestigiadas
A : A - ética oriental
pela inteligencija da época. Ambos os poetas identificam na poética oren
ilidades novas as palavras ¢ &S
uma verdadeira aprendizagem que abre pc
i : ee cain ane
imagens poéticas, oferece nova vida a sincronia literria, superando as fr
; ; eycsteento,
teiras amortecedoras do tempo ¢ do espago. Paz vé na poesia concreta
F : ‘cana, filtrada pelo
futuro fenomenolégico da experiéncia poética latino-americana, filtrada pel
rsio do curso: um nove:
vigs oriental-japonés: “A poesia moderna é a dis-pe
. : on ct ‘a
dis-curso. A poesia concreta é 0 fim desse curso ¢ 0 grande re-curso cont
esse fim” (Paz apud Campos, p. 200).
O haikai apresenta a ambigio de responder a es
a dis-persao, reunin-
ano, um
do em um fragmento fulgurante, como reverberagio do aleph borg
instante minimo ¢, ao mesmo tempo, total. Nio é fragmentado, pols ele
recolhe uma poética arquetipica que se funda em um tempo sempre prese™
te. E, em outras palavras, a con
iéncia do pr o gesto poctice.
Depende do limite da palavra, mas
sente que fa
lata por superd-lo, O haikai reformula &
literatura latino-americana para poder repensar a crise do ato poético, num
geracio de forgas culturais referenciais ¢ de nova lina, “Desenraizada € 60S”
mopolita, a literatura hispano-americana é regresso ¢ procura de uma tradi-
cio. Ao procuré-la, a inventa”, escreve Octavio Paz em Pnertas al campo (apd
Campos, 2004, p. 265),
Assim, a histéria e a geografia literirias instituem uma abertura peculi!
elas “inventam” ¢ permitem novos transitos politico-culturais para outros
lugares do Brasil e para paises diretamente mais voltados 4 cultura ocidental
(como Argentina, Uruguai e Colémbia), mas também insistem em “pene-
trar” outras margens, outros espagos fronteirigos que leem a “América” des-
de o Sul, o Oriente a partir das rotas do Pacifico, a Africa como simbolo de
uma outra origem comum.
Unico risco: a suspeita que a cultura “outra”, a alteridade, se insinue
no espaco proprio com a violéncia da separagao e do arranco do autoc-
tone, do indigena.
Os Andes, coluna vertebral do continente latino-americano, dividem 4
América em dois lugares contraditorios, nao apenas por problemas
linguisticos: de fato, eles parecem, por um lado, dar as costas ao continente
> 7? =
27
sio” de
europeu, em um gesto de autodesafio ¢, por outro, manifestam a “il
abrir-se ao descobrimento do continente as
‘itico. Trata-se, efetivamente, de
uma aparéncia:
a impenetrabilidade permanece como aspectos peculiares
desses espaco
nao se limitando 4 divisio puramente geografica ou politica,
mas penetrando, também, a
produ
sfera cultural, Se tomarmos como exemplo a
» poética peruana, pode-se observar um reflexo dessa “impermea-
bilidade” aos elementos alheios nas formas culturais nacionais, ancoradas
ainda nas disputas internas entre oralidade e escritura, ¢/ou nas imitagoes
exclusivas dos cinones europeus, nao obstante na presenca estrangeira (¢
oriental, justamente) n
es territérios. Contudo, a proximidade com 0 con-
tinente asiatico, ainda insuficientemente ponderada, parece ter adquirido nova
forga nas tiltimas década de im-
, se considerarmos as experiéncias postica
portantes tradutores ¢ poetas como Javier Sologuren, José Watanabe, Marco
Martos, Pesquisadores peruanos como Fernando Iwasaki ¢ © comparatista
Estuardo Nuiiez dedicaram parte de seus estudos aos contatos literatios, a
partir da época da coldnia, entre Peru ¢ Japio!
A publicagao de Saswki Blues (Lima, Lustra Editores, 2006), de Renato
Sandoval, dialoga com os mestres da literatura japonesa, a
im como pro-
poem Adriana Lisboa, com Rakushisha (2007) ¢ Bernardo Carvalho, com O
sol se pie em Sao Panlo (2007), no Brasil, reconhecendo na cultura japonesa a
vocacio local ao reconhecimento do outro ¢, portanto, da identidade,
Mais uma vez, e para concluir, Pierre Rivas adverte sobre o tecido com-
plexo da literatura emergente dessa identidade plural latino-americana: “A
preocupagio com o mundo € maior nas literaturas do Terceiro Mundo que
nascem com grande dificuldade, dai sua forga; elas falam da emergéncia de
uma Humanidade em vias de crioulizagio, jogam com as miltiplas identida-
des, rompendo o vinculo entre lingua € Nacio” (In: Nitrini, 2008, p. 52).
»” vertical €
forga”, uma “crioulizag:
Nés queremos uma “literatu
transvers
al, que polemize com a pluralidade desse espaco, a geografia que ©
compoe, com sua riqueza americana, afticana ¢ oriental, atkintica e pacifica.
allembrar que jé em 1630 foi publicado um poema intitulado “Poema das festas que se
n no convento de Sio Francisco pela canonizagio dos vinte seis 1
al, geradlor de
norreram ma
er
ires do Japio”, em que
am exaltados o luxo ¢ o exotismo do pais 01 ais heroieas figuras humanas, €
Lima, cidade vire
>
irizados,
inal que os acolheu ¢ onde
ALEGRE, Manuel
MILDONIAN
porta d'Oriente
c
minl
‘Adntico, minha pagina, Atlintico, minha
volas M. ALZIRA SEIXO; L. CANCIO MARTIN
vii Poesia / 4
arta do Oriente: viagens © poesia
Osmos, 2002. p. 17-26,
ANDRADE, Mitio de | Updo de amiga, Cartas de Meirto de Andrade a Car
a Andrade. Rio de J
pio, 1982,
ANTELO, Raul. Macu
Macunaima, ¥ dig
tima: apropriacio ¢ originalidade, |
In: ANDRADI
Lp
40 critica (Telé Porto Ancona Lopez, coord,), Madrid-F
Co-Buenos Aires-Sio Pp,
aulo-Lima-Guatemala Sao J
Chile: ALLCA xx, 1997 P. 295.305
CAMPOS, Harok
José de Costarica-Si
lo de. A arte no orizonte do provivel, Sio Paulo: Perspect
CAMPOs, Haroldo de. Me talingnavem e outras metas. Sto Paulo: Perspecti
CARVALHAL » Tania Franco,
méthodes, In: CARVAI HAL,
‘ssues and methods)
1a literatura comparée dans le monde, Qui
ia Franco (Ong,). Comparat
literature 3
La tieratura cany
parée dans le monde Oni Mae
Alegre: AILC, 1997, p. 9.14
CARVALHAL, Tania Franco. O priprio o albeio: en aios de literatura con
Sio Leopoldo: Un
CARVALHAL, T. M. F
Transcriagies,
sREBELLO, Lucia 4
Teoria ¢ priiticas. Texctos
*: Evangraf Editora, 2004
| FERREIRA, Eliane
memiria de
Fernanda
Haroldo de Campos
ANT, Edouard. La cobs du Lamentin. Paris Gallimard, 2005
MINH-HA Trinh Tc
MASH, Me
Tim editores,
>ther than Myself/My Other Self. In: RO}
linda - TICKNER, Lisa BIRD, Jon
Travellers? tales Narratives of
Routledge, 1904, p. 9-26,
BERTSON, G
CURTIS, Barry - PUT)
fame and displacement. London New
MONTAIGNE, Michel de Saggi. Milio: Adelphi, 1996,
MOURA, Jean-Mar
interfaces,
Des dise ‘ours caribéens
In: D'HUL
n-New York: Rodopi, 2007
» Lieven et al, Caril
Amsterda
P. 185-202
PAZ, Octavio. Signas on relario. Sao Paulo: Perspectiva, 1
996.
patria”. In
5 (Org). La
Lisboa: Fd.
» Drummond
, Mario de
aris-Méxi
ntiago de
iva, 1977.
2004.
stions et
rorldwide
., Porto
Cunha
Porto
corge
JAM,
York:
bean
PERR¢ NE-MOISTi
Leyla (Org.). Do positivisma a desconstrucao, Idéias Prancesas na
Amita, Si Paulo Edusp, 2004,
RIVAS, Pierre, Crise © mutagées na cultura e na liter Atura francesa (Mitos do declinio
€ mitologias da renov;
). In: NITRINI, Sandra et i
O:
)» Literatura, arte
Sio Paulo, Abralic
\deraldo & Rothschild, 2008, p. 43.64
RoDRiGUE MONEGAL, Emir Prologo In: Transblanco lem torno a Blanco de
Octavia Paz), dy Octavio Paz y Haroldo de Campos. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara, 1986, p. 11-17.
VALDES, Maria Hiena de Mario Valdés - Richard A. Young, [
is
tin America and
literature, Selected P,
Comparative
Report e«
pers of the XIV
Literature Ag
litors, 1995,
th Congress of the International
's World
‘sociation, ed., Council on N wdional Literature
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Ganarse La MuerteDocument1 pageGanarse La MuerteDani Ferri100% (3)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Apostilaço Venâncio Vem AprovaçãoDocument411 pagesApostilaço Venâncio Vem AprovaçãoDani Ferri100% (1)
- Acentuação GráficaDocument16 pagesAcentuação GráficaDani FerriNo ratings yet
- Cap. 1 Questão Preliminar - o PapelDocument22 pagesCap. 1 Questão Preliminar - o PapelDani FerriNo ratings yet
- Lógica PDFDocument140 pagesLógica PDFDani Ferri100% (1)
- Apostila Estatuto Do Idoso PDFDocument18 pagesApostila Estatuto Do Idoso PDFDani FerriNo ratings yet
- Aula-Ibge - Normas PDFDocument102 pagesAula-Ibge - Normas PDFDani FerriNo ratings yet
- Nuestros MuchachosDocument1 pageNuestros MuchachosDani FerriNo ratings yet
- ECA - Questões La SalleDocument2 pagesECA - Questões La SalleDani Ferri67% (3)
- VALENTIM (Org) Atuacao Profissional Na Area de Informacao PDFDocument193 pagesVALENTIM (Org) Atuacao Profissional Na Area de Informacao PDFDani FerriNo ratings yet