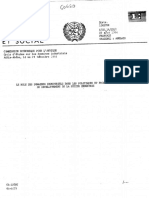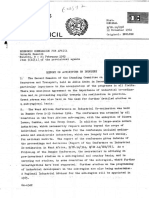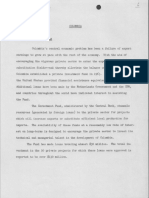Professional Documents
Culture Documents
Alf Schwarz Logica Camponesa
Alf Schwarz Logica Camponesa
Uploaded by
Assis Daniel Gomes0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views40 pagesOriginal Title
alf_schwarz_logica_camponesa
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views40 pagesAlf Schwarz Logica Camponesa
Alf Schwarz Logica Camponesa
Uploaded by
Assis Daniel GomesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 40
‘Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1? sem. 1990
LOGICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E LOGICA CAMPONESA*
Alf Schwarz**
RESUMO: Este artigo tenta estabelecer que a modemnizagéo agricola dentro dos
pafses do terceiro mundo acarreta enormes incompreensoes sabiamente alimentadas pelas
elites modernizadoras. Estas iiltimas justificam suas politicas ¢ projetos de desenvolvi-
‘mento agricola por uma bela retérica sobre a situacéo miserdvel da agricultura familiar
sua sobrevivéncia, mas na verdade suprimem-se 08 trabalhadores do campo reduzidos a
‘uma categoria residual da economia nacional. O autor propde um quadro teérico que defi-
ne as Idgicas antagonisticas que so a base da organizacéo dos trabalhadores do campo
tradicionais e aquela da agricultura moderna. Ele mostra que a l6gica tradicional da produ-
géo da seguranga de vida a nfvel local néo pode se casar com aquela da producéo de um
excedente mobilizével com vistas acumulagdo a nfvel nacional. O pao cotidiano contra a
grandeza da nagdo, af est resumido ao mAximo o dilema que oferece aos trabalhadores do
campo tradicionais o jogo da modernizacéo agricola. Alguns exemplos so trazidos para
ilustrar esta situagéo,
UNITERMOS: modernizaco rural, produtores rurais pobres, familias rurais, acu-
mulagao, I6gica camponesa, produg&o, Estado ¢ campesinato.
O Estado apéia-se nos agricultores ¢ na sua produco para desenvolver a eco-
nomia nacional, 0s agricultores aproveitam a ajuda do Estado para prosperar. Essa é
uma complementaridade, uma reciprocidade de vantagens ¢ interesses que o bom
senso parece nfo poder recusar.
* O presente artigo trata sobretudo da situacéo da familia de produtores rurais que trabalham em
uma economia de auto-subsisténcia. A palavra agricultor designa portanto nesse texto 0s pe-
{quenos produtores rurais tradicionais ¢ nao os agricultores mais modernos do tipo “farmer”.
+ Professor do Departamento de Sociologia, da Université Laval, Canadé.
76 SCHWARZ, Alf, Légica do desenvolvimento do Estado ¢ I6gica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, (1): 75-114, L.sem. 1990.
No entanto, a prética do desenvolvimento agricola estravaza tensdes contradi-
Ges miltiplas entre o Estado ¢ os agricultores tradicionais. Na verdade, é bem raro que
os pequenos agricultores e os tecno-burocratas da modernizagio agricola estejam sinto-
nizados no mesmo comprimento de onda.
“Recuo para 0 auto-consumo”, “recusa em seguir as diretrizes da direcdo coope-
rativa”, “‘desprezo dos conselhos dos organismos oficiais de apoio a modernizacio
agricola”, “negligéncia e m4 conservacdo dos equipamentos fornecidos pela adminis-
tragio”’, “‘abandono do cultivo de arvores frutfferas efetuado com o apoio do Estado”’,
“‘manifestagées violentas de agricultores tradicionais contra um projeto de irrigagio e a
construgao de uma barragem”, estes sio os pedagos de frases tiradas, aqui e acol4, a0
acaso, das leituras de relatérios da administracéo que moderam o tom triunfalista dos
documentos oficiais que tratam da modernizacdo agricola.
Qual é exatamente a situacao? Os agricultores tradicionais seriam verdadeiramente
limitados ao ponto de ignorar, contra todo o bom senso e contra toda ciéncia dos peri-
tos, a pertinéncia e a racionalidade superior das instrugées e diretrizes que impde a tec-
no-burocracia do progresso agricola cada vez mais invasor?
De fato, o Estado ¢ suas agéncias especializadas na drea agricola e em setores co-
nexos ndo param de presumir as caréncias da sociedade agricola tradicional, de oferecer
seus conselhos técnicos, de impor sua viséo do mundo para lancar programa sobre pro-
grama com 0 objetivo de promover a agricultura nacional. Ao mesmo tempo, multipli-
cam-se os sinais de uma desilusio cada vez mais ampla dos pequenos agricultores. Esse
desencantamento tem conduzido varias coletividades de agricultores a desconfiar dos
projetos dos tecnocratas modernizadores. Na verdade, existem em todas partes, nos
quatro cantos do globo, agricultores tradicionais desenganados ¢ revoltados com as
tentativas de controle oficial da produco agricola.
De vez em quando, o desgosto de observadores atentos se une & célera dos agri-
cultores tradicionais:
“O melhor que se poderia fazer nao seria implantar a paz para os agricultores afri-
canos (e sem diivida além, para todos aqueles do terceiro mundo) ao invés de for-
gé-los a se modernizar a qualquer preco, introduzindo-os, assim em uma engrena-
gem onde tém todas as chances de se esmagarem? Como de fato nao reagir diante
da multidio dessas operacées, projetos, organismos, sociedades de desenvolvi-
mento financiadas com apoio externo, quando se sabe concretamente o que resul-
taré ao nfvel das coletividades agricolas tradicionais? No ultimo pafs onde morei,
L6gica do desenvolvimento do Estado ¢ I6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 77
, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990,
essa situagio pareceu-me to intolerdvel que, de volta de uma longa jomada, tinha
mesmo redigido um artigo intitulado ‘Operacées de desenvolvimento ou operacées
de arrecadagio?” Esse artigo ficou evidentemente dentro das minhas gavetas”
(Bellonde, 1982, p. 56).
No entanto, & primeira vista, as medidas de desenvolvimento propostas, os pro-
‘gramas os mais diversos, indo dos incentivos fiscais para investimento agricola até a as-
sisténcia técnica e formaco, passando pelos incentivos a fundo perdido e as medidas de
apoio & comercializagao e ao estabelecimento de estoques reguladores de precos, nio
parecem perversas a0 ponto de causar frustraca0. Ao contrério, 0 objetivo declarado e
as maneiras para alcanc4-lo, parecem ditados por uma boa compreensio da atividade
agricola. O Estado se legitima pela sua aco de aperfeigoamento do conjunto das condi-
Ges indispensdveis ao bemestar das comunidades rurais: acréscimo ¢ diversificacao da
producéo, procura de rendimentos mais elevados, selecdio de sementes, aumento da su-
perficie cultivavel, clevagéo da renda dos agricultores tradicionais, eliminacio dos
obstéculos & comercializagao, reforco da capacidade de resistencia as vicissitudes da
natureza, tais como secas e inundagées. E ainda mais, o Estado pode sempre exibir vé-
rios projetos pilotos para testemunhar a sagacidade dos seus peritos nacionais ¢ interna-
cionais. Tudo isso nao pode ocultar a realidade. O balanco global continua desespera-
damente sombrio. Em 1985, J.P. Dozon e G. Pontie resumiram a crise do desenvolvi-
mento agricola na Africa nos termos seguintes:
“Em matéria de desenvolvimento rural africano, um ponto est hoje mais ou me-
nos estabelecido. Os projetos, operacées, planos de desenvolvimento que se mul-
tiplicarem desde as independéncias, de uma maneira geral, nfo mantiveram suas
promessas. Os fracassos so numerosos, 0s éxitos raros; no meio termo existem
resultados medfocres e vagos, onde as técnicas propostas para melhorar ¢ trans-
formar as politicas e estruturas agricolas na Africa Negra parecem perder-se no
dedal das sociedades locais”” !
Muitas outras andlises confirmam esse triste balanco (ver por exemplo, a avaliagio
critica conduzida numa perspectiva comparativa, entre julho de 1976 ¢ novembro de
1977, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) sobre dez de seus projetos de
1 Dozon, J.P. & Pontie, G. Développement, sciences sociales et logiques paysannes en Afrique
noire, in Boiral, 1985, p. 67.
78 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado e légica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 201): 75+, 1.sem. 1990.
desenvolvimento rural integrado; ver também os documentos de anélise ¢ reflexdo do
Development Alternative Inc (DAI) que examinam 21 projetos de desenvolvimento ru-
ral integrado com apoio bilateral americano, espalhados na Asia, Africa e América La-
tina (Implementing: a review of 21 USAID projects, DAI, Washington, mai 1981) e en-
fim Mors, Elliot R. & Gow, David G. (ed.), Implementing Rural Development Pro-
jects: Lessons from AID and Work Bank Experiences, Boulder, Westview Press, 1985.
Bernard J. Lecomte tira desse género de avaliacao as conclusdes seguintes:
“Muitos dos estudos de avaliacdo das operacdes de apoio ao desenvolvimento,
conduzidos nesses iiltimos anos por uma grande variedade de agéncias, mostraram
que os resulados alcancados foram claramente menos satisfat6rios que os objetivos
almejados. Entre outros, os projetos de apoio & producao agricola, realizados junto
a milhares de pequenas propriedades familiares, e os programas de desenvolvi-
mento rural integrado tiveram um impacto desalentador”” (Lecomte, 1986, p. 9).
Essa situacao d4 lugar a uma certa consternagao e perplexidade. Porque tanta indi-
ferenga, resisténcia ¢ recuo diante de tanto progresso e sucessos que parecem despontar
no término dos esforgos que empreende o Estado para modemizar a agricultura?
‘Trés tipos de explicagdes sio habitualmente levantadas para explicar a situacao:
uma mA preparagao do projeto, um acidente climAtico ou deficiéncias na implantagao do
programa. Nesse titimo caso, os especialistas mais progressistas do desenvolvimento
agricola e, principalmente, os do desenvolvimento rural integrado, novo dogma da bu-
rocracia intemacional ¢ “‘iltimo grito” do desenvolvimento “in” (V. Boiral, 1985, p.
14-15), acrescentario de bom grado a auséncia de mecanismos apropriados de consulta
€ participaco das comunidades implicadas nos projetos em pane. Bernard Lecomte re-
lata nesses termos as reacées dos chefes dos povoados, reunidos por ocasiao de um se
minério de pesquisa-acéo na Africa do Oeste:
“Bles nfo vém aqui para pedir nossa opinido ou propor algo que deve ser organi-
zado por nés mesmos. Eles nos cumprimentam e nos pedem para organizar uma
reunifo informativa. Tudo j& esté decidido entre eles, que a seguir dizem: ‘nés os
convidamos a participar de tal aco’. Nés nfo decidimos nada. Quem decide € 0
coordenador. Com freqiiéncia ele deve mudar 0 que disse, pois seus superiores
mudaram de opiniéo. Mas, quando pedimos que nos ajudem em algo que vem de
16s, eles nunca tém tempo, ou ndo € 0 momento, ou ainda dizem: “fagam o pedido,
vamos estudé-lo’ e nada vem” (Lecomte, 1986, p. 29).
SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado e Igica camponesa. Tempo Social; Rev. 79
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, L.sem. 1990.
Nenhuma das explicacées, inclusive aquela que aponta a auséncia de consulta ¢
participacéo, parece capaz de resumir, isoladamente ou mesmo combinadas, as razées
verdadeiras das tensdes e insucessos que caracterizam 0 dificil encontro do pequeno
agricultor ¢ do Estado modernizador. Diante da semelhanca das situagdes e comporta-
mentos, em lugares ¢ climas téo diversos quanto seus regimes politicos, € conveniente
ultrapassar as explicagées parciais para procurar uma interpretacéo mais global do fe-
némeno. Essa compreensio poderia nascer de uma discussio mais radical dos desafios
fundamentais do proceso de modemizacao agricola controlado pelos organismos ofi-
ciais.
1. Da ilusio do interesse comum & realidade do conflito dos objetivos
‘As politicas e estratégias de modernizaco agricola tém sempre em comum o fato
de colocar e resolver problema agricola, em termos de vantagens comparativas. Esti-
pula-se com um otimismo & prova de toda diivida, que todo projeto bem concebido be-
neficiard ipso facto 20 conjunto dos atores econémicos que tocam de perto ou de longe
© setor agricola, além de ser benéfico para toda a sociedade.
Essa afirmacéo da complementaridade evidente do interesse de todos, fundidos em
um projeto de desenvolvimento agricola bem montado, toma como critério do sucesso
comum a criagéo de novas rendas divididas no melhor interesse de toda nado entre os
diversos estratos da sociedade. Com a ajuda de tabelas de interconexées setoriais e de
célculos econométricos complexos, os laboratérios tecnocrdticos do controle oficial do
desenvolvimento agricola, pretendem elaborar uma distribuicdo racional das riquezas
que circulariam para uma felicidade maior do produtor agricola, do fornecedor de insu-
mos, dos comerciantes e dos industriais que transformam os produtos agricolas ¢, evi-
dentemente, do Estado que teria sua recompensa, através dos impostos € outras taxas.
Infelizmente, a realidade opée freqiientemente uma negaciio categérica a esse belo
otimismo racionalizador. O niimero de programas e de projetos de modemizacao agri-
cola, construidos a partir de previsées cientificas que se apresentam cada uma mais pre-
cisa que a outra, existe em grande quantidade ¢ frustra as mais belas ambicdes. Os re-
Jat6rios que tentam dissecar as causas do fracasso se dizem também cientificos e pro-
porcionam trabalho ¢ bons saldrios a um exército de especialistas que empilham relat6-
tios sobre relat6rios, estudo técnico sobre estudo técnico, preenchendo, com certeza, os
arquivos das burocracias nacionais ¢ internacionais do desenvolvimento agricola sem,
no entanto, garantir 0 sucesso aos agricultores tradicionais. Esses escribas da moderni-
80 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado € légica camponesa, Tempo Soci
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990.
zagio agricola adotam, na maioria dos casos, uma mesma convicco que se encontra na
propria origem da impoténcia de ultrapassar, por um aperfeicoamento cada vez mais
aprofundado dos métodos e estratégias de modernizacdo, os bloqueios dos agricultores
tradicionais que est4o na origem de tantos dissabores de mirabolantes projetos de revi-
viticagao agricola: eles antecipam a compatibilidade e a convergéncia fundamental ¢
necesséria dos interesses dos pequenos agricultores ¢ do Estado.
De fato, eles sempre afirmaram que, em prinefpio, a modemizacéo agricola apre-
senta, por sa prdpria natureza, vantagens compativeis para o agricultor e para o Esta-
do. O aumento da produgéo, sua diversificagdo, a melhoria dos equipamentos produti-
vos, 0 impacto dos programas de assisténcia e formaco na mudanga de mentalidade,
beneficiariam forgosamente os dois parceiros: 0 pequeno agricultor veria sua renda au-
mentar, o Estado veria crescer as possibilidades de arrecadaco de um excedente agri-
cola gerado por uma produgéo e uma produtividade aumentadas. Assim, um poderé
consumir mais ¢ investir no seu empreendimento agricola para produzir mais e 0 outro
poder desenvolver, servindo-se do excedente agricola reinvestido em outras atividades
produtivas, uma economia moderna; enfim ambos beneficiaréo do conjunto das ativida-
des inseridas a jusante a montante da atividade agricola propriamente dita. Dessa for-
ma, tudo parece caminhar para o melhor, no melhor dos mundos possfveis da teoria da
modernizacao agricola.
Mas essa bela promessa de vantagem tedrica para cada um, tem 0 vil defeito de
escamotear os sacrificios que se pede a alguns para possibilitar 0 lucro de outros, pois
nem todos se beneficiam do progresso agricola. A massa dos pequenos produtores ru-
rais beneficia-se com certeza 0 mfnimo poss{vel. A falta de participacdo das coletivida-
des rurais, sua indiferenca ostentat6ria ou mais sutil, ou seu recuo hostil que sabota os
projetos mais sabiamente concebidos, ilustram a impoténcia dos tecnocratas da moder-
nizacéo agricola em manter suas promessas. De fato, os célculos caracteristicos da l6gi-
ca desenvolvimentista do Estado ndo tém nada em comum com os objetivos que defende
a I6gica camponesa, Nao existe compatibilidade esponténea e natural entre os objetivos
dos pequenos agricultores e os objetivos do Estado.
Poucos tecnocratas da planificacdo esto inclinados a engajar-se, a fundo, numa
discusso teérica que poderia confirmar ou infirmar a validade da tese da incompatibili-
dade dos desafios fundamentais que dividem 0 mundo dos agricultores tradicionais
a tecnocracia da modemizacéo. Essa situacéo vai contra a sobrevivéncia da tiltima: co-
mo serrar um ramo sobre 0 qual est4-se confortavelmente sentado? Nesse caso, a pala-
vra volta ao pesquisador em ciéncias sociais que néo sofre desse tipo de “‘inibicao pro-
fissional”. Eles poderao deixar a superficie cromada da modernizacéo agricola, exposta
NOs prospectos preparados por uma tecno-burocracia reformista, para alcangar uma di-
SCHWARZ, Alf, Légica do desenvolvimento do Estado e I6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 81
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, I.sem. 1990.
mensao mais profunda, isto é, aquela que fundamenta o fenémeno da oposicdo radical
entre a visio do agricultor tradicional e a visdo tecnocrética da economia rural.
Na Optica de uma reflexao te6rica dos desafios fundamentais conflitantes, as ten-
tativas de medir os elementos constituintes do sistema de producao agricola em termos
fisicos (produco, rendimento), em termos monetérios (prego, custo, renda), em termos
de valor de uso (auto-consumo), ou ainda em termos de vantagens para o Estado (au-
mento da receita, etc.) no sio mais suficientes. Esses so os parimetros preciosos aos
planificadores e conceptores de programas que se fecham no casulo metodologicamente
confortével dos dados mensuraveis, esquecendo-se rapidamente que essas grandezas
so, quando olhadas mais de perto, apenas meios para alcancar objetivos complexos ¢
fundamentais.
Nossa opcdo teérica é colocar no centro desses objetivos fundamentais, que cor-
respondem aqueles que permitem ir ao fundo do problema, a questo da reproducao dos
sistemas. Em outros termos, nds nos colocaremos a questo da incompatibilidade da re-
producao na perspectiva dos pequenos agricultores € na perspectiva do Estado moderni-
zador.
No fundo de todo projeto coletivo de sociedade, de todo sistema vivo, encontra-se
a procura da reproducdo dos invariantes do sistema. Em um pais em desenvolvimento
ou recentemente industrializado, o Estado com sua burocracia do desenvolvimento € 0
mundo do agricultor tradicional pertencem a duas légicas de reproducao diferentes.
Nesse caso, € necessério identificar os elementos constituintes dessas Idgicas e 0 seu
modo de funcionamento, para melhor apreender suas naturezas fundamentalmente dife-
rentes. E no funcionamento das contradicées, nesse nfvel fundamental da reprodugao
dos sistemas, que a realidade problemética e contestada de um desenvolvimento agri-
cola sob tutela estatal pode tomar toda sua significagao.
No que se refere ao sistema agricola tradicional, a anélise sistémica lembra que os
diferentes elementos que contribuem a produgdo rural (terra, ferramentas, material ve-
getal, insumos diversos, forca de trabalho, etc.) esto estreitamente interligados por um
modo de funcionamento que individualiza esse sistema. Para uma familia de pequenos
produtores rurais, 0 sistema nao constitui no entanto, uma finalidade em si. Os estudos
antropoldgicos e sociolégicos sublinham que o sistema de produgao esté fortemente ar-
ticulado com o sistema social e politico, e com o sistema cultural. Esses estudos de-
monstram também, que a finalidade do conjunto desses sistemas ou sub-sistemas € a re-
producdo local de uma sociedade distinta e caracterizada pela salvaguarda de seus inva-
riantes. E necessério entiio, examinar os elementos ¢ as estratégias dessa reprodugao,
ver sua interconexdo para melhor compreender a l6gica da reprodugao local da socieda-
de rural tradicional, no nfvel mais basico possfvel. E somente compreendendo sua légi-
ca de reprodugdo que se poderé compreender seu horror aos entraves & reproducao da
sua l6gica. Ora, a caracterfstica prépria de todo controle oficial da questo agricola é
82 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado € ldgica camponesa. Tempo Social; Rev
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, sem. 1990.
precisamente o desmantelamento do bloco monolitico da Iégica agricola tradicional, que
os grandes sacrificadores da racionalizacdo da atividade agricola entendem imolar no
altar da modernidade rural.
A I6gica da reproducdo do Estado moderno apresenta-se téo coerente e estanque
quanto a légica tradicional da reproduco local. O Estado atribuiu-se como funcao ele-
mentar ¢ fundamental a garantia da reprodugdo material ¢ simbélica do conjunto nacio-
nal. Ele tem, como finalidade wiltima, a reprodugao dos sub-sistemas econémico, social,
politico e cultural que fundamentam a nagdo na sua complexidade, mas nao sem subli-
nhar o alinhamento nacional a sacrossanta causa da modernidade técnica e industrial.
Nesse caso, o resultado é 0 choque inevitével entre as Idgicas divergentes da re-
producio agricola tradicional ¢ a estatal (V., por exemplo, Champagne, 1980, p.
37-44), Ele explica o encontro tantas vezes malogrado entre os agricultores tradicionais
€ os protagonistas da modernidade nacional (Lipton, 1977).
2. A légica camponesa: a producao da seguranca
funcionamento bésico de uma unidade agricola tradicional repousa como se sa-
be, na combinacdo de trés grandes fatores de produco: a terra, os meios de produgéo
(préprios, alugados, emprestados ou subsidiados) e a méo-de-obra que no final de um
ciclo produtivo resulta em uma produgéo que ser, economicamente falando, dividida
em dois elementos: a produgéo necesséria (PN) € 0 excedente. A producdo necesséria
(PN) € constituida pela parte da producio que deve ser reinserida no proceso de pro-
duco no ano seguinte para que o tiltimo possa reproduzir-se. A producio necesséria €
constituida, essencialmente, pela parte da producdo que serve ao auto-consumo e pela
parte da produgéo agricola, cujo produto de venda serve, por um lado, para comprar os
bens indispens4veis para a satisfacéo das necessidades essenciais dos produtores rurais
€ de sua familia (a reproduco da forca de trabalho) e, por outro lado, para a reprodu-
0 dos meios de producéo (compra e substituiggo de ferramentas, derrubadas para
substituir as terras em alqueive, sementes, insumos diversos, etc.).
SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado ¢ Idgica camponesa. Tempo Social; Rev. 83
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990.
O excedente representa a produgdo que ultrapassa os limites da produco necess4-
ria. O excedente pode ser dividido em duas partes: uma primeira que ser mobilizada
pelos produtores agricolas sob a forma de tesaurizagdo, e uma segunda que serd arreca-
dada pelo Estado (por exemplo pelo sistema de fixagéo de pregos), pelos circuitos fi-
nanceiros € pelos agentes financeiros a montante e a jusante (proprietérios de terras,
comerciantes, etc.) (Ver figura n® 1).
De fato, 0 excedente agricola € composto de duas partes essenciais: 0 excedente
mobilizdvel (EM) e 0 excedente arrecadado (EA). A partir dessa constatagdo, torna-se
banal, no plano analitico, concluir que o produto agricola (PA) € igual A soma do pro-
duto necessério, do excedente mobilizével e do excedente arrecadado (para cada um dos
ciclos de produgdo): PA = PN + EM + EA.
Em um sistema que funciona normalmente, as arrecadagGes sobre 0 produto agri-
cola existem inevitavelmente. O Estado recebe os impostos, as taxas e as cotizagées do
produtor agricola. O mercado continua impor 0 mecanismo da troca desigual, etc. O ex-
cedente arrecadado é dessa forma sempre superior a zero. A produgéo necesséria (PN)
6, do mesmo modo, sempre superior a zero, nfo podendo cair abaixo das exigéncias es-
tritas da sobrevivéncia biolégica do pequeno agricultor. A tinica grandeza da equacio
sujeita a cair a zero, em um sistema capaz de reproduzir-se, € portanto o excedente mo-
bilizvel (EM). E também no nfvel desse excedente mobilizdvel que se vai definir 0 tipo
da agricultura em questao.
Quando 0 excedente mobiliz4vel é superior a zero (EM > 0), esté-se em frente da
reproducao ampliada do processo de producio agricola, com a condic&o evidente que
uma parte desse excedente seja reinvestida e acumulada no sistema de producéo, con-
duzindo, de uma maneira ou de outra, 8 ampliagao da base produtiva. Na realidade, po-
de-se estar em presenga de um excedente mobilizével que no dé lugar a uma reprodu-
do ampliada, se esse excedente € destindo inteiramente a0 consumo social ou, ainda, se
sua importancia € to insignificante que no proporciona nenhum tipo de acumulacéo.
Quando o excedente mobilizével € nulo (EM=0), trata-se da reproducdo simples,
com a condigéo que o produto seja suficiente para renovar o processo de producdo ante-
rior. Em uma situago onde a reprodugao simples néo é realizével, em fungao de insufi-
ciéncia da produc&o necesséria, trata-se da reproducio simplificada que corresponde
normalmente ao desaparecimento, mais ou menos lento, mas certo da base produtiva.
camponesa. Tempo Social; Rev.
1990.
Alf, Légica do desenvolvimento do Estado e Iégica
75-114, 1.sem.
iol. USP, S, Paulo, 2(1): 75-
{ “~~ """""" Sonmmnpoud sosmoar so auqos oySepesomy
opeisy
ogSnpoad % sorpysqng
so fo
:
be —
ovSnpod op apeprun ep wjoopide oBSnposd ep sagSatp SesIaAIp SY
T vanol
SCHWARZ, Alf, L6gica do desenvolvimento do Estado e I6gica camponesa, Tempo Social; Rev. 85
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, L.sem. 1990.
A dinémica do sub-desenvolvimento agricola est justamente caracterizada por
relagées sociais ¢ econémicas entre o produtor agricola e seus antagonistas sociais, que
mantém uma situacio de reproducao simples ou simplificada do proceso de produgéo
agricola.
No caso da reproducao simplificada, a unidade agricola no pode renovar seu pro-
cesso de produgao. Assim, ela tende a desaparecer caso a situagéo se mantenha por
muito tempo. Se esse desaparecimento ameaca um grande mimero de propriedades agri-
colas, 0 Estado pode tomar iniciativas para parar ou diminuir, 0 que se poderia denomi-
nar, para todos os fins titeis, a desintegragao da sociedade agricola tradicional.
Essas iniciativas desenvolvem-se, em geral, seguindo trés direg6es. Primeiramente
08 esforcos podem ser dirigidos no sentido de diminuir a importancia real e relativa do
excedente arrecadado. E 0 caso quando o Estado diminui o fardo das taxas, dos impos-
tos ¢ das cotizacdes do agricultor; € 0 caso, ainda, quando intervem no mercado para
aumentar o nivel real dos pregos agricolas ou quando diminui ou suprime de jure a ren-
da dos grandes proprietérios e dos proprietirios absentefstas e de outros parasitas (como
no caso de certas reformas agrérias). Em segundo lugar, tais medidas podem revelar-se
insuficientes para restabelecer 0 equilfbrio minimo da reproduco simples. O produtor
agricola deve entéo, fazer ajustamentos pessoais para asscgurar sua propria sobrevivén-
cia e a de sua familia (para mais detalhes, ver Chayanov, 1966), pois de qualquer for-
ma, a parte do excedente arrecadado pode diminuir, mas no desaparecer. Durante tais
tentativas de sobreviéncia pessoal, o produtor agricola diminui 0 produto necessério,
conduzindo-o 0 mais perto possivel das necessidades de sobrevivéncia biolégica. Essa
liltima representa um limite fisico abaixo do qual ndo se pode permanecer por muito
tempo. Em caso extremo, 0 ajustamento se faz portanto pelo estémago, a menos que 0
agricultor tradicional seja capaz de ir recuperar uma parte do excedente j4 arrecadado.
Isso € possivel, mas improvavel, pois a agéo deveria ser politica e radical, exigindo uma
organizagao e uma coesdo raramente alcancada pelas massas rurais do Terceiro Mundo
(Ver, por exemplo, Hobsbawn, 1971, 1973 e Moore, 1966). Em terceiro lugar, o Estado
tendo baixado, a0 mfnimo, © montante do excedente arrecadado ¢ o agricultor tradicio-
nal tendo efetuado ajustamentos extremos, conduzindo-o a contentar-se somente com &
sobrevivencia biolégica, € sempre possivel que, apesar desses esforcos, 0 equilfbrio mi
nimo que corresponde & reprodugéo simples, nao possa mais ser restabelecido, acarre-
tando a diminuic&o incessante do produto necessério, ao longo dos sucessivos ciclos de
producdo. Nesse caso, apenas 0s subsidios podem desempenhar um papel corretivo. Pa-
a evitar a morte pura e simples do agricultor tradicional que se tornou incapaz de se
nutrir, um complemento alimentar deve-lIhe ser fornecido sob a forma de programas de
ajuda alimentar. Para evitar 0 desaparecimento rapido da base da atividade agricola, os
meios de produgéo devem ser decididamente fornecidos através de subsfdios & produ-
cio.
86 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado ¢ Idgica camponess. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, I.sem. 1990,
Em todas as circunstancias esbocadas, observa-se que a dinémica do subdesenvol-
vimento agricola, por ocasiao da reproducao simplificada, impde-se como uma ameaca
aguda e continua para a propria sobrevivéncia biolégica do agricultor tradicional. Po-
der-se-ia entio supor que esse agricultor vai contestar o Estado, reivindicando, néo
apenas garantias mfnimas de sua sobreviéncia como individuo, mas também como pro-
dutor agricola. Poder-se-ia igualmente supor que ele entraré em luta direta (revoltas
camponesas) ou indireta contra o rendeiro e outros parasitas, aos quais devota, sem dii-
vida, profunda aversao.
A recorréncia ao Estado continua na maioria das vezes ineficaz, enquanto que a
esfera mercantil da economia imp6e impunemente suas leis aos agricultores tradicionais.
As relagées com os atores sociais dessa esfera, sendo mediadas pelo mercado, resta a0
agricultor tradicional apenas resignar-se e retirar-se sobre si mesmo, freqiientemente,
em um tiltimo gesto de despreendimento (Ler, por exemplo, Gutelman, 1974 e Paquette,
1982). Encurralado, no maximo desespero, 0 agricultor tradicional ¢ sua familia vao
abandonar o mundo rural para procurar em qualquer outra parte um refiigio totalmente
incerto. E 0 caminho do éxodo.
Quando se trata da reproduco simples do processo de producio agricola, 0 equi-
Ifbrio minimo da equagao do produto agricola (PA) est normalmente assegurado: PA =
PN + EA. O produto agricola é igual ao produto necessério mais o excedente arrecada-
do. A sociedade pode portanto arrecadar seu excedente, enquanto que o produtor agri-
cola continua a assegurar a renovagao do processo de producao agricola. Na melhor das
situagées, a dindmica do subdesenvolvimento agricola ndo constitui mais uma ameaga
aguda para a sobrevivéncia bioldgica do agricultor tradicional e 0 produto necessério
pode, nesse caso, permitir mesmo uma certa abundancia material pela cobertura de cer-
tas necessidades econémicas e sociais essenciais. No entanto, o equilibrio continua tao
frégil, que todo elemento gerador de uma ligeira modificagdo 0 perturbaré profunda-
mente. Pode-se tratar do crescimento demogrifico, de acidentes climéticos, da deterio-
racéo momentanea dos precos agricolas, de uma sobrecarga temporéria de impostos pelo
Estado, do aparecimento de novas necessidades da parte do produtor agricola, etc.
O inventério das circunstancias perturbadoras e dos fatores de desequilibrio é, na
realidade, tio amplo que essa alteragao sempre se produz. No momento em que esses
distirbios ocorrem, a situacdo transforma-se rapidamente numa situacdo de reproducdo
simplificada com 0 encadeamento diabslico dos problemas j& evocados. Para evitar
inicio dessa tal mecAnica da catfstrofe, os esforgos sobretudo do Estado, tendem, como
Jé foi dito, a fornecer ajuda alimentar para nutrir 0 agricultor e conceder subsidios
produgao agricola para manter 0 produto necessério em um nivel satisfatério. As inter-
veng6es tendem entao a regulamentar mais severamente o mercado agricola, afim de
manter 0 excedente arrecadado em um nfvel compativel com 0 equilfbrio da reproducao
SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado ¢ l6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 87
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1-sem. 1990.
simples. No entanto, a politica do Estado € tao complexa e complicada que quase nunca
alcanca o éxito previsto. A situacdo evolui ento, em diregio & marginalizagaio do pe-
queno agricultor.
De fato, no momento em que a capacidade interna de acumulago é quase nula ou
quando a arrecadagao do préprio produto agricola tomna-se excessiva, ao ponto de per-
mitir apenas um processo de producdo agricola simples ou simplificado, aparece na co-
letividade agricola um fendmeno geral de marginalizaco caracterizado por:
“Um conjuno de mecanismos de empobrecimento, cujas formas so heterogéneas:
proletarizacao, semi-proletarizacao, crescimento massivo do desemprego, sub-em-
prego, etc.” (Amin, 1973, p. 208).
Esse fenémeno de marginalizacao dé origem a todo um processo sécio-econémico
de empobrecimento do agricultor tradicional, que encontraré cada vez mais dificuldades
para garantir a reproduco biolégica, econémica e social de sua vida e de sua base
produtiva, durante 0 ciclo repetitivo do processo de producdo agricola. Duas reacées
sao entao possiveis: ou bem o agricultor tradicional se exila na cidade, a procura de um
ganha po diferente e é 0 éxodo rural, ou bem ele continua na terra, procurando, ao seu
redor, ocupar outras atividades remuneradoras para completar sua renda agricola que se
tornou muito vulnerdvel. Nesse caso, é a proletarizacao rural que comeca.
Quando essas condigées precérias se degradam, surge um ator ultramarginal que
nao consegue mais encontrar um emprego para garantir sua subsisténcia. Em caso ex-
tremo, esse sub-proletério interrompe toda atividade de produgao agricola, pois chega
ao ponto de consumir integralmente seu capital ¢ a base produtiva de sua atividade
agricola.
A sociedade agricola tradicional que contava com produtores agricolas a tempo
integral, conta também doravante com proletarios que vendem sua forca de trabalho,
além dos sem-terra. Essa nova estratificacao da sociedade agricola tradicional contribui-
r4 para 0 agravamento do subdesenvolvimento agricola, além de torné-lo persistente.
Vejamos porque.
Examinemos primeiramente 0 tipo de relagées sociais que existem em uma unida-
de de produgao agricola familiar. Dado precisamente ao caréter familiar da producao, as
relacGes que prevalecem entre os diferentes produtores de uma mesma unidade familiar
‘sao de um tipo nao mercantil: diante do chefe da unidade agricola, a atividade dos ou-
tros membros da famflia € reduzida & fungéo doméstica como expressao da renda fami-
liar; desde ento, ao longo do processo produtivo, as relagdes de trabalho obedecem as
convengées que regem as relacées familiares entre 0 homem e a mulher, entre os pais e
as criangas. Nessas condig6es, estando ausente a preocupacio mercantil das relacdes
88 SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado ¢ \6gica camponesa. ‘Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem, 1990.
de produgéo, € normal que a légica de produco tenha por finalidade nao a acumulacio,
mas a garantia da produgdo necesséria & unidade familiar de produgéo e consumo.
A l6gica de reproduco do sistema agricola tradicional é portanto perfeitamente
compatfvel com a auséncia de um excedente mobilizdvel. Com base nesse fato pode-se
supor que 0 combate desigual travado pelos agricultores do Terceiro Mundo com seus
antagonistas sociais, os conduz, conforme sua Iégica, a aceitar um nfvel de arrecadaco
que pode ir até a anulagéo do seu excedente mobiliz4vel. Nesse caso, o agricultor tra-
balha constantemente em uma situagéo de subdesenvolvimento agricola que o lancaré
numa catéstrofe, ao menor acidente. Mesmo se programas ambiciosos e projetos espe-
ciais séo concebidos para que a maioria dos agricultores tradicionais disponha de um
excedente mobilizAvel, os fenémenos sociais produzidos pelo subdesenvolvimento en-
tram em acdo para restabelecer as condicées instveis da reproducao simples do proces-
so de producio agricola, reabsorvendo esse excedente. Em certas sociedades do Tercei-
ro Mundo, como por exemplo na Africa e no sul do Saara, onde a solidariedade da so-
ciedade agricola tradicional continua forte, a populacéo exilada na cidade continua a
recorrer Aqueles que ficaram nos povoados para assegurar sua subsisténcia. Do mesmo
modo, aqueles que ficaram no meio rural ¢ que se transformaram em sub-proletérios
sem trabalho ou simplesmente em sem-terras, no tém outra escolha para sobreviver se-
no recorrer a solidariedade daqueles que se agarram ainda a sua unidade de producdo
agricola,
Quando a solidariedade familiar do agricultor entra em jogo para salvar todos es-
ses sub-proletérios rurais sem trabalho, sem terras e citadinos marginais (ver Schwarz,
1983, p. 37-52), 0 eventual excedente mobilizével desaparece e 0 processo de produgéo
agricola entra ainda mais numa dinfmica de produgdo simples ou simplificada, tomando
ainda mais persistente a situacdo de subdesenvolvimento agricola. O agricultor continua
prisioneiro daquilo que Guy Belloncle denomina ‘‘uma série de dominagées” que o en-
cerra “‘no circulo vicioso” da dependéncia e do empobrecimento (Belloncle, 1982, p.
46). Assim, 0 subdesenvolvimento agricola, empobrecimento, dependéncia e reprodu-
40 simples ou simplificada andam juntos, mesmo se as duas dltimas divirjam nos seus
efeitos sobre a manutengao do sistema de produgao agricola.
A reprodugao simplificada € a reproduco simples tém em comum um critério fun-
damental que explica porque, mesmo sendo diferentes, ambas so tipicas do subdesen-
volvimento agricola. Esse critério é a auséncia da seguranca alimentar que P, Bairoch
denomina “‘o limiar potencialmente livre de riscos e de uma situacdo de fome generali-
zada” (Bairoch, 1983, p. 21), que corresponde ao limiar acima do qual, mesmo uma co-
Ibeita muito ruim no acarreta mais, como anteriormente, seja uma pentiria de alimen-
tos, seja uma situacdo geral de fome, Esse limiar parece constituir a barreira fisica de
uma prosperidade agricola, abaixo da qual deve-se falar de subdesenvolvimento agri-
SCHWARZ, Alf, Légica do desenvolvimento do Estado e I6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 89
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990.
cola, Na auséncia total de seguranca alimentar, instalam-se na coletividade agricola a
fome generalizada estrutural, a pauperizagio e a proletarizagéo que estimulam segura-
mente o éxodo rural.
Essa descrigao demasiadamente sumfria do funcionamento do desenvolvimento
agricola por ocasio da reprodugdo simplificada ou simples, nao permite concluir ante~
cipadamente que a emergéncia do excedente mobilizvel, daria necessariamente lugar a
uma reproducio ampliada. Tudo depende de fato da maneira como esse excedente €
utilizado. Destinado ao consumo social, & tesaurizacao e ao armazenamento, esse exce-
dente pode aumentar a seguranga alimentar sem jamais contribuir & acumulagéo.
E necessério interpretar as prioridades e estratégias da agriculura tradicional no
contexto do subdesenvolvimento agricola, caracterizado pela incapacidade de gerar um
excedente mobiliz4vel que permitiria ultrapassar o limiar potencialmente livre de riscos
de fome generalizada ou, pior ainda, caracterizado pela anulacéo progressiva de todo
excedente mobilizével que conduz ao desaparecimento puro e simples do produtor agri-
cola.
Para compreender como os agricultores tradicionais concebem seu sistema de re-
producéo, é necessério situar-se, indispensavelmente, numa perspectiva hist6rica. Essa
perspectiva permite constatar melhor que, em qualquer meio agro-ecol6gico ou sécio-
econémico, depara-se sempre, na maioria das sociedades rurais, com objetivos priorité-
rios da mesma natureza. Esses objetivos correspondem, em geral, a uma concepgao
muito particular da natureza do excedente formado pelo sistema de produgéo e sua utili-
zacéo. Historicamente, na maioria das sociedades rurais, 0 objetivo prioritério foi sem-
pre o de assegurar pelo menos a reproducao simples. De fato, as situages nas quais se
encontraram os agricultores tradicionais frente ao Estado, as feudalidades, as oligar-
quias, a esfera mercantil, tiveram o resultado de nem mesmo colocar o problema da re-
produgao ampliada. Era necessério antes de tudo tentar sobreviver, néo desaparecer.
A situaco continua igual em grande parte do mundo agricola atual nas sociedades
de predomindncia rural. A reproducao da forca de trabalho continua sendo 0 objetivo
prioritério. Ela compreende principalmente os elementos seguintes: os aspectos fisicos
que concernem, ao mesmo tempo, a satisfacdo das necessidades basicas dos trabalhado-
res e da sua familia e a manutencdo do equilibrio entre o nimero de pessoas produtivas
€ ndo produtivas (0 que pode conduzir ao problema do éxodo rural); 08 aspectos técni-
cos (a transmisséo do saber) e, finalmente, os aspectos culturais que se referem também
a integracao na ideologia de base da sociedade.
Por outro lado, a prioridade dispensada A reprodugdo da forga de trabalho supde
que a reproducéo simples dos meios de produgao seja, por sua vez, considerada como
prioritéria. De fato, a urgéncia da reprodugéo da forca de trabalho coloca a producio
necessfria no centro dos objetivos do agricultor tradicional. No entanto, o que significa
90 SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado € I6gica camponesa. Tempo Soci
Sociol. USP, S. Paulo, 211): 75-114, L.sem. 1990.
essa prioridade? Ela € primeiramente uma opcio radical em favor da procura da segu-
ranca, muito mais que a tomada de riscos. E também uma opco fundamental em favor
da satisfacdo das necessidades essenciais, mais que a procura de renda monetéria, na
medida em que a maximizagéo dessa ultima no proporcionaré necessariamente uma
melhor satisfagao das necessidades fundamentais.
Uma vez assegurada a produgéo necesséria, 0 agricultor tradicional tentard tesau-
rizar uma parte da sua propria produgéo anual, ter acesso ao consumo social e even-
tualmente acumular, isto , mobilizar uma parte mais ou menos importante do seu exce-
dente na sua unidade de produgo. Essa mobilizacdo social do excedente vai, no en-
tanto, situar-se, regra geral, na perspectiva de uma garantia suplementar que deve ser
fornecida para a seguranca do sistema de produgdo. Premunir-se-4, por exemplo, contra
as eventualidades e vicissitudes climéticas (pela tesaurizaco), reforcar-se-f a coesio
social em caso de dificuldades (pelo consumo social por ocasiéo das festas e outros
eventos importantes da vida comunitéria) (ver, por exemplo, Wolf et alii, 1976; Wolf,
1955, 1969; Scott, 1976). Enfim 0 agricultor tradicional tentaré responder pela amplia-
do do process de produc (a acumulagao) & evolugao demogréfica do seu meio, &
transformagao dos hébitos de consumo, & degradagao dos precos dos produtos agricolas.
Assim a légica do sistema de reproducdo da sociedade agricola tradicional no
pressiona necessariamente o agricultor a maximizar sua produgéo sua renda. Ele vai,
de preferéncia, procurar otimizar a utilizacao da sua forga de trabalho, de maneira que o
funcionamento do seu sistema de reproducao fisica, técnica, econémica, social ¢ cultu-
ral seja garantido com a maior seguranca possivel ®. Isso poderd significar que a nature-
za € 0 volume da produgio nao serao determinados pelo desejo de obter um valor mo-
netério maximo, mas pela utilizacdo que o agricultor poderé fazer dessa producao, seja
diretamente (auto-consumo, sementes, etc.), seja indiretamente a partir da renda mone-
téria obtida. Assim, a opcao da utilizacéo da forca de trabalho se fara em funco da uti-
lidade buscada pela producdo. Em caso extremo, pode-se constatar que 0 aumento da
produtividade da forca de trabalho nfo é um fim em si num determinado sistema agri-
cola. O que mais conta é 0 aumento da capacidade da forca de trabalho para reproduzir
© sistema, 0 que no passa necessariamente pelo aumento da sua produtividade no sen-
tido habitual do termo.
Mergulhado em um mundo de incertezas varias ¢ de vicissitudes de toda natureza,
onde predomina a angiistia constante do amanha, o agricultor tradicional néo tem outro
2 Ler, para mais detalhes, Scott (1976) 0s outros “moral economists”.
SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado ¢ légica camponesa. Tempo Social; Rev. 91
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990,
projeto para o futuro que o de assegurar sua sobrevivéncia (Schwarz, 1983). Para ele,
nio se trata de lancar-se em longos célculos de rentabilidade: 0 que conta é a seguranca
alimentar do amanha acima de tudo. Tudo aquilo que contribuird a essa seguranca, esta-
14 de acordo com a Iégica bésica da sociedade agricola tradicional, tudo o que parece se
opor a essa situacéo, ird de encontro a sua circunspec¢ao extrema. Ora, o Estado e seus
organismos de controle oficial da modernizac&o agricola, parecem bem suspeitos aos
olhos de numerosos agricultores tradicionais, na medida em que, com muita freqiiéncia,
camuflam sua vontade de aumentar as arrecadacées sobre o excedente mobiliz4vel, atrés
de uma retérica vazia ¢ falsamente humanista em favor das coletividades rurais mais
tradicionais.
3. A légica do Estado: a produgao de uma economia moderna
Com certeza ao Estado nao faltam bons argumentos econémicos, sociais politi-
cos para prestar “‘ajuda” aos seus agricultores. A ele nao falta também, de vez em
quando, presteza real para com os agricultores submetidos aos terrores da fome genera-
lizada ou de outra catdstrofe qualquer. Mas nisso tudo é importante estabelecer a ordem
de prioridade que tem o Estado nas suas intervengGes na economia rural. A interrogagao
sobre 0s objetivos visados pelo Estado nas operages de desenvolvimento rural remete
imediatamente a duas questées preliminares. Primeira questo: se 0 Estado € responsé-
vel pela producgéo nacional, como vao articular-se os diferentes sistemas de decisao que
contribuem para assegurar a reprodugdo nacional, qual seré o contetido dessa reprodu-
cdo e como se situardo os agricultores tradicionais nesse sistema de decisio? Segunda
questao: qual € 0 hiato permanente que se deve constatar entre os objetivos explicitos,
0s objetivos implicitos e as realizacées?
Os limites desse breve esbogo tedrico nao permitem ir ao fundo dessas questées.
Vejamos, portanto, apenas o que se passa de maneira global na realidade das operacdes
concretas de desenvolvimento. As situagées podem ser bastante diferentes, mas obede-
cem, regra geral, a um dos trés cenérios seguintes: a) por um lado, maximizar com me-
nor custo para o Estado a produco agricola destinada aos mercados de exportacdo ou
aos setores urbano e industrial nacional e, por outro lado, compré-la dos produtores
agricolas, a0 preco mais baixo que seja compativel com a reproduc ampliada do sis-
tema agricola, convertido & nova produgdo; b) desenvolver culturas comercializveis
com vistas & integracdo agricultura-indistria; c) valorizar zonas ou regides “deficien-
tes”, no que se refere & topografia, ao clima, & auséncia de vias de acesso ¢ outros fato-
92 SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado © Igica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990,
res desfavordveis, pela introducao ou generalizacdo de culturas adaptadas ¢ comerciali-
zéveis, de maneira a ser capaz de melhor responder & demanda, seja interna, seja exter-
nna, estancando-se a hemorragia continua que representa o éxodo rural, além de favore-
cer a integragio econémica dessas regides marginais.
Esses trés cendrios gerais apresentam os objetivos cléssicos do desenvolvimento
agricola que compreende ao mesmo tempo o aumento da produgéo ¢ a elevacio do ex-
cedente mobilizdvel ao nivel nacional, seja sobretudo pelo Estado, seja sobretudo pelos
agentes econémicos a montante ¢ a jusante, seja ainda pelo Estado ¢ o setor privado.
Esse desenvolvimento permite uma acumulacao de capital fora do sistema de produgao
agricola que permitiré, por sua vez, o desenvolvimento dos outros ramos da economia
nacional.
A gestdo da producao nacional pelo Estado exige, portanto, que esse tiltimo possa,
seja apropriar-se diretamente, seja favorecer a apropriacao fora da agricultura propria
mente dita do excedente gerado pelo sistema de produgéo agricola. Essa situagéo é bem
conhecida: varios autores mencionam que é exatamente a partir da agricultura que pode-
se implantar um processo de crescimento industrial da economia nacional.
E ent&o normal que o Estado privilegie as culturas comercializ4veis: ele pode de-
ter 0 controle da comercializacao que se revelaré em uma da chaves da mobilizagao do
excedente. E 0 caso, por exemplo, do algodao na Africa. Essa situacéo nunca foi total-
mente vélida para o amendoim africano, mas a soja produzida no Brasil obedece bem a
essa exigéncia, O Estado langaré igualmente operagdes de modernizacao agricola e de
desenvolvimento regional que so de fato acées de integragéo da agricultura a indtstria,
seja unicamente a montante (insumos), seja igualmente a jusante (culturas sob contrato,
como por exemplo em certos perimetros administrados pelo DNOCS ou CODEVASF
no Nordeste Brasileiro). Essa integracio permite uma transferéncia as vezes importante
de excedente da agricultura a indiistria, No Brasil, por exemplo, entre outubro de 1979
e marco de 1980, os precos oficiais dos adubos comercializados com a ajuda do Estado
triplicaram, enquanto que os precos oficiais dos produtos de subsisténcia aumentaram
somente 50%.
A légica fundamental do Estado ¢ sua razio de intervengao na agricultura ¢ 0 de-
senvolvimento das forgas produtivas nacionais. E uma légica de acumulagéo e, em con-
seqiéncia, de mobilizagdo étima do excedente. A reprodugdo dos sistemas agrérios nao
entra como um fator limitante. Trata-se de organizar a economia nacional de maneira
que os sistemas agrérios se reproduzam a um nivel tal, que possam acompanhar 0 pro-
cesso nacional de acumulacio.
Para otimizar o funcionamento do sistema de producéo nacional, o Estado dispée
de um instrumento potente no sistema de precos agricolas. De fato, fixando nfo apenas
© prego dos produtos agricolas, mas também 0 prego dos insumos e pressionando os
SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado e Iigica camponesa. Tempo Social; Rev. 93
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990. " mee ”
precos dos produtos agricolas ditos de “primeira necessidade” (que se pode comparar
aqueles que correspondem em uma sociedade especifica as necessidades fundamentais),
© Estado vai determinar a parte do valor gerado pelo sistema de produgéo agricola que
sera mobilizado fora do sistema de reproducdo local, Realmente, se em uma etapa pre-
liminar elimina-se 0 auto-consumo, séo exatamente os pregos agricolas que fixam 0 va-
lor total da produgdo, tendo em conta, evidentemente, o fato que seu volume € determi-
nado pela natureza ¢ a qualidade da colheita. Ei importante lembrar também que esse
preco permitira determinar igualmente o nivel dos salérios urbanos e, portanto, a parte
da produgio social ndo agricola que poder4 ser acumulada. A partir da possibilidade de
determinar somente pela fixagdo dos precos agricolas o valor quase total da produgao ¢
© nivel de precos dos insumos e dos produtos de primeira necessidade, os responsdveis
oficiais do mercado agricola, podem determinar que parcela dessa producdo deve ser
utilizada para comprar os produtos necessérios & renovacao do ciclo produtivo, isto é,
para a producio necesséria. O Estado através da determinagéo do sistema de precos
(precos agricolas, pregos dos insumos, pregos dos produtos, precos dos bens de consu-
mo) fixa, portanto, 0 nivel da arrecadacdo e, em conseqiiéncia, a parte da producdo que
sobraré ao agricultor. Esse tiltimo deverd ent&o determinar se esse saldo poderd ser des-
tinado a outras atividades, além da reproducdo simples do sistema, a saber, ao consumo
social, & tesaurizagdo ou & acumulacao.
Entretanto, jé foi mencionado que esse saldo seré inferior ao limiar de reproducao
simples na maioria dos sistemas agricolas subdesenvolvidos. De fato, a distribuicao so-
cial do produto agricola engloba, nesse caso, a massa dos pequenos agricultores em
uma relacdo de forcas que quase sempre a desfavorece. Esses pequenos agricultores
estabelecem com 0 rendeiro e outros parasitas, relagdes que englobam arrecadacdo di-
reta em dinheiro ou em produto. Nessa relacdo direta, frente a frente, o agricultor tradi-
cional pode muito bem, no caso de uma arrecadagéo excessiva, orientar sua reaco so-
bre alvos claramente identificdveis. Essa reagéo é no entanto diferente, quando se trata
de relagées com o Estado. A aco € a competéncia estatal esto distribufdas em varias
escalas, através de uma multidéo de agentes que povoam as esferas do poder oficial.
Ainda mais, o Estado tem a possibilidade de evitar a relacio frente a frente, recorrendo
as arrecadacées indiretas, além de dispor de um poder oficial de repressio que pode ser
utilizado para contrapor as reagées dos agricultores julgadas excessivas. Compreende-se
desde entio, que agricultor tradicional ter4 frente ao Estado uma reagéo bem ambjgiia.
Estado nessas ocasiées, distribuiré ao agricultor subsfdios em produto ¢ em dinheiro
(ver por exemplo a criagio das frentes de trabalho por ocasiao das secas no Nordeste
Brasileiro).
Essa reago ambigiia da parte dos agricultores tradicionais, manifesta-se ainda nas
suas relacées com a esfera mercantil. Os atores dessa esfera mantém com o agricultor
94 SCHWARZ, Alf, L6gica do desenvolvimento do Estado e Idgica camponesa. ‘Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 211): 75-114, 1.sem. 1990,
tradicional relagdes mediadas pelo mercado. De fato, o agricultor tradicional ndo en-
contra em sua frente atores individualmente identificaveis, mas sobretudo toda a esfera
mercantil, contra a qual sua ago € impotente, pois o inimigo concreto nao 6, nesse ca-
so, tal e tal ator, mas sobretudo a Idgica prépria de toda esfera mercantil (Ver Gutel-
man, 1974, p. 65)
Nesse jogo de relacées de forca, 0 ator social de base é evidentemente o agricultor
tradicional, gerador do produto agricola que mobilizard todos os outros atores. Com a
generalizaco de uma esfera mercantil capitalista que impde sua Idgica a toda economia,
© comerciante representa outro ator social de uma importancia especial. O Estado, na
sua fungao de 4rbitro mais ou menos soberano, representa 0 terceiro ator social de im-
portancia. Nesse papel de drbitro e no apenas em fungdo das arrecadacées efetuadas na
agricultura, 0 Estado completa esse micleo central em torno do qual vém aglutinar-se os
outros atores sociais nas suas relagdes imediatas ou distanciadas com os agricultores
tradicionais (Ver figura n° 2). A importancia desses outros atores variaré em fungdo de
situag6es e circunstancias particulares. Assim, os grandes proprietérios fundiarios, por
exemplo, desempenharao na economia rural da América Latina ou do Sudeste asiatico
um papel bem mais importante que na maior parte das economias africanas.
No seu papel de regulador e de érbitro das relagées sociais entre 0 produtor agri-
cola € seus antagonistas sociais, o Estado esté submetido as pressées de diversos gru-
Pos: os comerciantes, os industriais, os proprietérios fundidrios, os trabalhadores, os
consumidores ¢ o préprios agricultores. Para cada um desses grupos a luta consiste em
tirar 0 méximo proveito do produto agricola.
Com referéncia aos agricultores tradicionais, suas reivindicagdes serao dirigidas
contra os rendeiros (proprietérios fundiérios) ¢ os parasitas sociais. Esses agricultores
pedirio ao Estado a adogdo de uma reforma agréria, se necessério, e uma revisio do
funcionamento da sua burocracia, na medida em que essa ultima permite a proliferagdo
dos parasitas sociais (que compeendem, em certos casos, como por exemplo nas econo-
mias rurais do sudeste asidtico, os perceptores de taxas e impostos), exagerando-se 0
fardo das taxas e impostos. O agricultor tradicional recusa, portanto, a arrecadagéo di-
reta dos rendeiros (proprietérios fundiérios e outros) e dos parasitas sociais (usurérios,
funcionérios corruptos, etc.), mas aceita mais facilmente a do Estado, a0 qual ele pede
apenas mais moderaco e, eventualmente, a revisio da ago dos arrecadadores de taxas
€ de impostos. No fundo, o agricultor tradicional sabe que praticamente nao tem meios
para recusar ao Estado a arrecadacéo de uma parte mais ou menos importante de seu
excedente, pois através dessa arrecadacdo ele cumpre 0 seu papel de contribuinte e de
cidadao.
95
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem, 1990,
SCHWARZ, Alf, Légica do desenvolvimento do Estado e Igica camponesa. Tempo Social; Rev.
Figura n? 2
Estrutura social das relagdes produgdo-circulacdo entre o agricultor tradicional e o resto da sociedade
Estado
Industriais
Funcionérios ¢ operérios fundisrios
96 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado € I6gica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 211): 75-114, 1.sem. 1990.
A pressio dos pequenos agricultores ser também dirigida contra a esfera mercan-
til, pedindo ao Estado, nesse caso, a elevacao dos precos dos produtos agricolas ¢ a di-
minuicéo dos precos dos produtos industrializados (insumos agricolas, bens de consu-
me, etc.), pois os produtos modemnos custam cada vez mais caro em tempo de trabalho:
a deterioragao dos termos de troca do setor agricola, obriga o agricultor a trabalhar mais
para um nivel de vida que diminui a cada dia.
A resposta do Estado as pressées dos agricultores néo é nem direta, nem fécil e ra-
ramente favordvel. E principalmente 0 caso quando os proprietérios fundidrios contro-
lam a elite politica dirigente, sendo capazes de servit-se da mAquina repressiva do Esta-
do para abafar os protestos dos agricultores. Por outro lado, o subdesenvolvimento eco-
némico pode conduzir um bom mimero de paises & incapacidade crénica de remunerar
adequadamente seus perceptores de taxas de impostos, de maneira que as arrecada-
‘g6es parasitérias efetuadas junto aos agricultores tradicionais representam uma renda de
ajustamento, cuja importancia é incontestével.
Os comerciantes, os industriais, os consumidores urbanos e os assalariados vio,
or sua vez, acossar 0 Estado no sentido de manter os precos agricolas a um nfvel baixo
(Gutelman, 1974, p. 86). Os comerciantes procuram a facilidade de revenda dos pro-
dutos agricolas, os industriais querem evitar 0 aumento dos pregos dos géneros alimen-
ticios para manter baixo o salério dos operfrios. Esses tiltimos, como todos os outros
assalariados, tentam evitar a degradacao do seu poder aquisitivo que € inevitével no ca-
so de aumento dos pregos agricolas sem ajustamento correspondente dos salérios.
© Estado encontra-se, assim, preso a um campo de relacées sociais conflituais
contradit6rias, acuado entre as reivindicagdes dos pequenos agricultores ¢ dos seus an-
tagonistas sociais. A acdo do Estado consiste entdo, freqiientemente, muito mais em
comprar a paz politica do grupo de pressio mais forte, que defender os grupos mais fra-
‘cos € menos organizados. Apesar disso, o papel do Estado continua capital para o fun-
cionamento dessas relacées sociais, pois € considerado 0 tinico Arbitro legitimo das di-
ferentes contradigées sociais, mesmo sendo parte integrante dessas contradigdes. Esse
papel do aparelho estatal na organizacao no controle das relagées entre os agricultores
tradicionais e seus antagonistas sociais se define também na percepco que os agriculto-
res fazem da sua propria situaco. E essa percepgao que determinaré seu comporta-
mento social e econémico como produtores agricolas (Paquette, 1982, p. 26).
Um sentimento de impoténcia geral se propaga no campo no mesmo ritmo que se
consolida a superioridade urbana (Schwarz, 1980, p. 113-133), que conduz & auséncia
quase total da representacao dos interesses das massas rurais nas instancias de decisio
do pais. Todos os poderes de decisio relativos ao produto agricola (preco, subsidios,
etc.) esto concentrados nas cidades, como lembra Pierre Campagne:
SCHWARZ, Alf. Lé6gica do desenvolvimento do Estado ¢ Wgica camponesa, Tempo Social; Rev. 97
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990,
“6 na cidade que serio tomadas todas as decisdes que afetardo a vida dos agri-
cultores: fornecimento de méquinas e insumos, comercializacao de produtos agri-
colas, fornecimento de servigos técnicos. Mesmo quando os agricultores tradicio-
nais dispunham de poderes teéricos (sindicatos, associagées profissionais), 0 de-
senvolvimento tecnolégico tende a concentrar o poder real: P.D.G. de complexos
agricolas alimentares, diretores de grande cooperativas agricolas, poderes politicos
que decidem os pregos” (Campagne, 1984, p. 25).
Desde que os interesses da maioria dos pequenos agricultores nio esti valida-
mente representados no nivel dos centros de decisées concentrados nas cidades, pode-se
facilmente compreender que a unc&o do produto agricola tem como tinico limite a preo-
cupacdo de manter 0 pequeno agricultor na érbita da agricultura. Isso quer dizer ~ na
medida em que os interesses dos antagonistas sociais do agricultor séo convergentes
(mas nao necessariamente idénticos) — que a pressio social sobre o produto agricola
tenderé forcosamente a impelir o processo da produgo agricola numa dindmica de re-
producdo simples, ou seja, numa dinamica da manutengao do subdesenvolvimento agri-
cola.
No plano econémico, em fungdo da troca desigual entre os pequenos agricultores
ea esfera mercantil, o agricultor € duplamente puncionado. Puncionado de um lado
quando vende seu produto a precos exageradamente baixos (a jusante) e de outro,
quando compra seu prdprios produtos a precos exorbitantes (a montante). O agricultor
tem apenas 0 Estado para defendé-lo contra esse tipo de exploracio do mercado. No
entanto, jé foi anteriormente mostrado que o Estado fica impotente diante da esfera
mercantil, procurando realizar uma arrecadacdo maxima do excedente agricola. O Esta-
do é entao mais eficiente nas suas agGes de arrecadacéo do excedente mobilizével e as
vezes mesmo da producdo necesséria.
Quando o agricultor é duplamente puncionado pelo mercado em conseqiiéncia de
uma mé representagao junto as indtistrias politicas de deciséo e quando, por outro lado,
© Estado procura também subtrair 0 méximo do produto agricola, a pressao social sobre
© produto agricola tem como limite tinico a preocupagéo de assegurar a existéncia de
um ntimero considerado suficiente de produtores no sistema de produgdo agricola. Isso
reconduz a conclusio precedente que se refere a um processo de producdo agricola en-
gajado numa dinémica de reproducio simples (quando muito) e, portanto, de subdesen-
volvimento agricola.
No entanto, € o priprio estado de subdesenvolvimento agricola que proporciona
uma maior legitimidade ao papel intervencionista do Estado. A gravidade do subdesen-
volvimento no exige urgéncia na agéo modemizadora? As politicas oficiais de moder-
nizaco agricola visarao logo a primeira vista a competitividade da economia nacional,
98 SCHWARZ, Alf, Légica do desenvolvimento do Estado e Iégica camponess. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, L.sem, 1990.
mais que a manutenc&o do equilfbrio local. As novas politicas agricolas procuraréo fun-
dar 0 sistema agricola sobre o estabelecimento de vantagens econémicas comparativas
nos mercados nacional e mundial e, se a competitividade 0 exige, liquidar-se-4, confor-
me a necessidade, pedacos inteiros da economia agricola tradicional, sacrificada & nova
especializacdo industrial definida, por sua vez, na base de vantagens intemacionais
comparativas que alids parece cada vez mais incerta. Escreve Servolin a esse propésito:
“‘Nesse momento de crise, 0 protecionismo agrério nos paises do centro implica
para os paises periféricos muito mais dificuldades para exportaco dos produtos
agricolas tradicionais que para a colocago dos produtos da nova especializagao
industrial"’ (Servolin, 1972, p. 82).
Tomando como base de célculo os custos ¢ os beneficios em funcao apenas de
uma I6gica capitalista ¢ sendo incapaz de responsabilizar-se pelos aspectos sociais ¢
ecoldgicos fundamentais, a modernizacdo da economia rural negligencia os interesses a
curto a longo prazo das massas rurais.
No final das contas, a grande maioria dos agricultores tradicionais “reciclados”
dentro ou fora da agricultura em via de modernizacdo, teré sido apenas vitima de uma
fraude: explorado ontem pelos rendeiros pouco produtivos (grande proprietérios, etc.),
aos quais se ajunta a multidao habitual de usuérios e outros parasitas sociais improduti-
‘Vos to insensfveis tanto uns quanto os outros aos problemas de existéncia do agricultor
tradicional, o pequeno agricultor seré amanha explorado por grandes empresas agricolas
hipertrofiadas, tao insensfveis quanto os exploradores tradicionais.
projeto de modernidade agricola, isto é, o alinhamento da producéo rural sobre
a Igica da producao industrial que permite aumentar 0 excedente mobilizével, se faré
assim ao prego de grandes riscos sociais e ecolégicos. De fato, 0 otimismo quanto a
alocacao mais racional dos fatores de producdo agricola em fungdo apenas da rentabili-
dade que poderia dinamizar 0 setor agricola e proporcionar-lhe uma perspectiva de
crescimento a longo prazo, cai facilmente na inctiria, quando minimiza-se a complexi-
dade dos impactos das tecnologias disponiveis na sociedade rural ¢ no equilibrio ecol6-
gico.
Para diminuir os custos de produco e aumentar os rendimentos, as téenicas reno-
varam-se profundamente € seus efeitos so, a0 mesmo tempo, qualitativos e quantitati-
vos: melhor selecio de espécies, tais como 0 milho hibrido e o trigo @ alto rendimento
ou adaptado a climas extremos; constitui¢ao de um parque de mAquinas pesadas muito
diversificado; utilizacéo de alimentos compostos, adubos, herbicidas, inseticidas, fungi-
cidas; intigacdo e drenagem. Com a criagdo industrial de vitelo, porco ¢ de aves, a pe-
cuéria tomna-se, tecnicamente falando, capaz de funcionar “fora do solo” integral, com-
SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado ¢ Iégica camponesa, Tempo Social; Rev. 99)
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, I.sem. 1990,
pletamente dissociada das condigées naturais. Alguns setores particulares da agricultura
tendem também em direcao a esse abandono da terra como, por exemplo, a produgao de
certos legumes em cultura hidropénica.
A mesma l6gica impele & concentracdo das propriedades ao preco da eliminacao
impiedosa dos pequenos agricultores. Essa “depuracio” efetua-se de maneira mais ou
menos completa, conforme os paises ¢ as regides. Por outro lado, as novas técnicas re-
duziram a necessidade de mo-de-obra agricola. Tornou-se desde entio indispensdvel
que 0 meio rural se esvaziasse. No Brasil, por exemplo, a porcentagem de homens de
mais de 10 anos que trabalha na agricultura passou de 64,6% em 1950 a 36,1% em
1978 (IBGE, 1980) para alcangar um magro 26,2% em 1983 (IBGE, 1984). Por trés de
estatisticas desse tipo anuncia-se a desertificagéo do espaco rural. O setor moderno
ocupard cada vez mais as melhores terras. O resto serd deixado aos “sobreviventes”” da
agricultura tradicional sem condicées reais de acumulacao.
Fundada em estratégias de localizacio e de concentracdo étimas de um excedente
mobilizével ao proveito da modernizac&o nacional, as politicas de modernizacao agri-
cola — apesar de uma retérica completamente contréria que pretende prestar ajuda aos
agricul ores — no consideram verdadeiramente os seus efeitos sociais perversos: deslo-
camento arbitrério de populacdo, separacao de familias, aceleracdo do éxodo rural ¢
aumento das favelas, nova diferenciaco social do meio rural com 0 conseqiiente au-
mento do potencial conflitual, proletarizacdo do meio rural, destruicao das antigas for-
mas de solidariedade e decomposigao do antigo sistema de sociabilidade, extincao dos
saberes tradicionais freqiientemente bem adaptados ao meio local.
A nova agricultura é inclemente tanto para os homens quanto para a natureza,
violentada pela tecnologia, que perde sua capacidade de auto-regulacéo e de ‘‘feed-
back’’, Os herbicidas ¢ outros tratamentos quimicos, por sua prOpria eficécia, signifi-
cam a morte de toda a vida natural, péssaros, insetos, cogumelos, flores, etc. No Brasil,
por exemplo, a utilizagao de produtos quimicos na agricultura aumentou entre 1981 €
1984 em 200%, gracas ao potente cartel dos industriais da agroquimica reunidos na As-
sociagéo Nacional dos Produtores de Defensivos Agricolas (ANDEF) que conta nas
suas fileiras com a presenca de gigantes da indtistria quimica mundial como a Shell, a
Bayer, 2 DOW Chemical, a ICI ¢ outros. Esse grupo de pressio conseguiu em 1985 a
declaracao da inconstitucionalidade parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da lei
que regulamenta a utilizacéo de produtos t6xicos na agricultura do Estado do Rio Gran-
de do Sul, votada em 1982 para proteger a satide publica (Isto €, 1985, p. 42). Esse g6-
nero de derrota foi ressentida pelos ecologistas nos quatro cantos do globo.
A racionalizagéo do espaco rural, o desbravamento € a desflorestacdo agravam
ainda mais a situacéio, eliminando sebes e pequenos bosques: 0 manejo das mAquinas
gigantes tinha prioridade. Os espacos cultivados n4o passam de substratos passivos
100 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado © I6gica camponesa.
Sociol. USP, S. Paulo, 211): 75-114, 1.sem. 1990.
para o desenvolvimento programado de uma espécie nica as expensas do equilfbrio
natural. Por certo, o Sahel ou o Sertéo Brasileiro encontra-se longe das proesas holan-
desas para ndo fazer apenas essa tinica comparagéo. Nesse pais cultiva-se tomates hi-
dropénicos, cujas raizes mergulham num banho quimico apropriado, através de um
chumaco de 1d de vidro e um banco de poliestireno. Contrastando com o “tratamento”
dos espacos “explorados”, o resto do meio ambiente rural, taludes, ramadas, declives,
abandonado as ervas daninhas e urtigas, aos detritos de todos os tipos, aos pequenos
agricultores miserdveis que sobrevivem na economia rural A margem das novas empre-
sas agricolas, engajadas numa corrida feroz para uma competitividade que deve afirmar-
se a cada dia.
As espécies escolhidas, ao beneficio das quais todo o resto foi devastado, esto
debilitadas pelas selecdes produtivas, seu crescimento forcado ¢ muito répido, sendo em
conseqiiéncia menos resistentes, como o demonstrou, por exemplo, uma longa seqiién-
cia de fracassos da “‘revolugdo verde”. Essa menor resisténcia encadeia um novo ciclo
infernal de intervencées quimicas e bioquimicas. As espécies escolhidas sofrem igual-
mente os efeitos perversos das técnicas que visam diminuir 0 custo: aves criadas sob 0
efeito da luz, arvores frutiferas sacudidas muito préximo das raizes por ocasifio da co-
Iheita. O mimero de espécies animais ¢ vegetais foi brutalmente reduzido com vistas &
padronizacio. Essa uniformizacio genética enfraquece a capacidade de adaptacio, tor-
nando-as mais frageis. As cadeias biolégicas estio infetadas pelo DDT, proibido em al-
guns paises mas tolerado em outros, pelos nitratos infiltrados no solo ¢ pelo chumbo
dos carburantes. No Canadé, anuncia-se que dentro de dois anos uma vaca das mais
comuns poder produzir até 40% mais de leite, gracas a uma injecdo quotidiana de
horménio de crescimento que varias companhias farmacéuticas conseguiram sintetizar.
Essa inovacao causa no entanto um problema: “‘a menos que os consumidores concor-
dem em beber mais leite, ser necessfrio eliminar pelo menos 25% das vacas... ¢ fazen-
deiros” (L’ Actualité, 1986, p. 172).
Nos paises onde a padronizagao da produgdo agricola fez os maiores progressos,
houve paralelamente uma queda da qualidade, em funcdo da forte pressio do sistema
para produzir a precos baixos. A carne de porco libera 4gua durante a coccéo, 0 novilho
de corte vermelho demais é sem sabor. Nesse contexto torna-se um luxo consumir fran-
g0 caipira e legumes nio industriais. No entanto, os géneros alimenticios seriam exor-
bitantemente caros se fossem produzidos massivamente, mantendo-se sua qualidade tra-
dicional: os agricultores modernos tiveram que sacrificar a qualidade pela renda. Essa
degradacao € ainda agravada pelas condicées de distribuicio e seus efeitos negativos:
para que um roquefort, naturalmente fridvel e flufdo, possa ser comercializado em peda-
cos triangulares envolvidos em pléstico, foi necessério modificar as técnicas de purifi-
cacao e portanto a composicéo da coalhada, contribuindo & diminuico do preco do leite
pago aos criadores.
SCHWARZ, Alf.
Sociol. USP, S.
Jgica do desenvolvimento do Estado ¢ I6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 101
ilo, 21): 75-114, 1.sem. 1990.
Em resumo, quanto mais rent4vel € um produto, mais penalizado sao os produtores
€ consumidores. A nova agricultura luta, por sua vez, contra os efeitos da contra-pro-
dutividade tio tipicos da modernidade. Precisamente porque sao eficazes a 100% em
uma determinada rea, as técnicas modernas acarretam conseqiiéncias gerais negativas.
Massivamente desbravada por méquinas pesadas, inundadas de produtos quimicos de
toda espécie, livre de qualquer @rvore e mesmo de caminhos, a terra consagrada as
grandes monoculturas ndo passa de uma paisagem lunar de aparéncia cinza-amarelo fora
da estacéio, onde essa “fébrica” de trigo, soja, cana-de-aciicar, etc., rende ao mAximo.
Mas 0 progresso deve estritamente ignorar a poluicao, os residuos ¢ detritos, as terras
sem culturas, 0 aumento das distncias, 0 deslocamento da populacao rural, a expulsio
dos agricultores tradicionais da terra, o empobrecimento da estrutura social. Se todos
esses efeitos fossem contabilizados, a agricultura moderna seria ruinosa e estaria arrui-
nada.
Seguramente, os idedlogos e artesdes da modernidade agricola adotam uma conta-
bilidade de um tipo diferente. Da complexidade inaudita das relagdes sociedade-técnica-
natureza, eles retém em seus escritos apenas a promessa de acumulacao.
Nesse empreendimento, 0 papel do Estado 6 preponderante ¢ se manifesta pela
acdo de milltiplas agéncias governamentais de planejamento, de desenvolvimento e de
apoio financeiro e técnico. Sao as politicas agricolas oficiais que decidiréo o setor onde
tentar-se-4 realizar 0 mdximo de excedente mobiliz4vel, além de indicar a diregao da
transferéncia desse excedente arrecadado para os diferentes setores da atividade nacio-
nal.
No entanto, toda essa tecno-burocracia da modernizagio agricola cairia no vazio,
se ndo pudesse apoiar-se em parceiros e intermedifrios fiéveis. Os grandes produtores
agricolas e 08 industriais do setor agro-alimentar encontram-se infalivelmente no pelo-
tao dianteiro dos principais modernizadores. O poder das grandes indiistrias agro-ali-
mentares pesa particularmente no funcionamento do mercado agricola, como fornecedo-
res de equipamentos e insumos para a produgao agro-pecuéria e, ao mesmo tempo, co-
mo compradores da producdo. Mas existem também as grandes cooperativas transfor-
madas em instrumentos de expansdo para uma nova ¢ original camada de dirigentes
agricolas que deformaram habilmente o ideal cooperativo para legitimar seu projeto de
um capitalismo corporativo. Essas cooperativas “‘reciclam” (principalmente) os agri-
cultores tradicionais em associados produtivos sem poder real de decisio. O exemplo do
Brasil pode ser instrutivo nesse aspecto, pois existem, ao mesmo tempo, um setor agri-
cola altamente competitivo em expansdo ¢ um setor agricola tradicional em plena de-
composigao: 0 movimento cooperativista tenta alcancar os dois. Nesse pafs, os casos se
multiplicam onde um punhado de dirigentes de grandes cooperativas agricolas efetuam
lucros extraordinérios nas costas dos associados que nao tém quase nada a dizer sobre a
102, SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado e légica camponesa, ‘Tempo Social; Rev
Sociol. USP, S. Paulo, 211): 75-114, L.sem. 1990.
aplicagéo desses lucros. Marcel Bursztyn ilustra bem esse fato, quando analisa 0 caso
das cooperativas brasileiras:
“A medida em que as cooperativas prosperam, a disténcia entre a maioria dos as-
sociados ¢ os ‘patrées’ (os cooperocratas) aumenta. © poder interno das coopera-
tivas se legitima, neste caso, pela dominagao burocrética, agindo de forma autori-
tdria em relagéo a0 conjunto dos associados e apoiando-se na funcio destes ‘pa-
trdes’ enquanto intermediérios entre os favores do Estado e os ‘beneficiérios’ tes
ricos. Assim sendo, o instrumento modernizador representado pelas cooperativas
acaba por reviver 0 esquema arcaico do coronelismo, onde um grupo de mandaté-
ios encarna 0 papel de mediagao Estado-povo, tirando obviamente proveito dessa
prerrogativa” (Bursztin, 1984, p. 58).
De fato, 0 Estado “‘modernizador” e as coperativas “‘mobilizadoras” efetuam um.
excelente manejo no momento de decidir sobre a aplica¢ao dos fundos piiblicos na agri-
cultura nacional:
“A Coopersucar ou a Coperflu, a Fecotrigo, a CCPL ou a Cooperativa de Cotia,
sio todas altamente lucrativas € muito eficazes na captacdo € na distribuicao dos
favores derivados da politica de protecdo estatal & grande agricultura” (Guima-
ries, 1979, p. 51).
Essa boa convivéncia manifesta-se, sobretudo, pelo menos num caso como o do
Brasil, na atribuicao de créditos subsidiados e de fundos especiais para a producéo, pa-
Ta o financiamento de trabalhos de infra-estrutura e para compra de terras. As coopera-
tivas gozam igualmente de prioridade na ocupacao de terras dos projetos de coloniza-
ao, concebidos e organizados pelo Estado nas zonas de expansio de frente agricola.
Nesse caso, o Estado responsabiliza-se pelo financiamento para aquisicao das terras €
dos meios de produgdo — sempre com crédito a taxas de juros subsidiadas. O crédito
agricola destinado as cooperativas so regulamentados pelo Banco do Brasil que deter-
mina a natureza, as taxas de juros ¢ os prazos de reembolso. Em 1980, por exemplo,
‘a taxa de juro mais elevada, calculada para um empréstimo concedido a uma cooperati-
va foi de 30% ao ano (nas regides do Norte e Nordeste) e de 33% ao ano para as outras
regides do pafs. No mesmo ano, a taxa de inflagdo anual ultrapassou os 100% (cit. por
Bursztyn, 1984, p. 59). As cooperativas se encarregam, por sua vez, de efetuar a sele-
ao entre os agricultores tradicionais deslocados pelos projetos de modernizagao ou
pela incleméncia da natureza, ou ainda, pela violéncia dos grandes proprietérios para
instalé-los como colonos. Nesse proceso ganham as cooperativas, porque o Estado as
SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado ¢ Iégica camponesa. Tempo Social; Rev. 103
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, L.sem. 1990.
apdia massivamente na tentativa de mobilizar esses novos produtores agricolas com 0
objetivo de aumentar a producao, o que seguramente conduziré gua ao moinho dos di-
rigentes de cooperativas que alcancarem essa nova etapa do proceso de modemnizacéo
agricola.
© Estado, por sua vez, ganha politicamente nesse processo pelo deslocamento €
pela disperso geogréfica de uma forca de trabalho que se tornou excedentéria e que
poderia eventualmente constituir um foco de tens4o social maior. De fato, no Brasil, os
primeiros fomentos oficiais ao cooperativismo nasceram no contexto das tensées sociais
do comeco dos anos sessenta, caracterizadas por reivindicacées cada vez mais insisten-
tes de uma reforma agréria. Essa efervescéncia popular em favor de uma reestruturacéo
do sistema fundidrio fortalecia, por sua vez, 0 projeto de um golpe de Estado de direita
que triunfou em 1964 com a tomada do poder pelos militares. O novo regime decretou,
‘em 1964, poucos meses apenas depois da tomada do poder, o Estatuto da Terra para
frear 0 movimento de contestacdo que poderia ter conduzido a uma radicalizacdo da luta
de classes no campo. A lei que estabelecia o novo Estatuto da Terra previa a criacio de
um sistema de cooperativas agricolas regido pelo Estado. Esse fato que na época foi
interpretado como uma concesséo do Estado aos trabalhadores agricolas descontentes,
tansformou-se rapidamente em um “‘Cavalo de Tréia’’ da influéncia crescente do Esta-
do na orientacéo do sistema de produgdo agricola.
Na verdade o Estado exerce um rigoroso controle sobre a situag&o e multiplica as
diretrizes para assegurar que as cooperativas se inscrevam na légica da acumulacdo na-
cional. Esse dirigismo estatal € mais evidente na fixacdo das normas de gestio econé-
mica e de adocéo de novas técnicas. Assim, por exemplo, as cooperativas brasileiras
devem, segundo a lei, constituir um fundo de reserva. Esse mecanismo de capitalizacio
produz dois efeitos imediatos: primeiramente, permite 0 desenvolvimento de cooperati-
vas sem que seus membros usufruam das vantagens pecunifrias; em segundo lugar, in-
troduz no meio rural uma nova Iégica de acumulago. De fato, a légica implicita desse
tipo de instrumento de acumulagio ¢ de reprodugao do capital oposta a maneira tradi-
ional dos agricultores tradicionais de mobilizar 0 excedente que, na sociedade tradi-
cional, € dirigido freqiientemente & tesaurizaco ou ao consumo social susceptivel de
servir, em caso de desgraca, & sobreviéncia do grupo local. A legislaco impée assim,
de maneira autoritéria, aos agricultores tradicionais membros de uma cooperativa, uma
mudanga de mentalidade e de comportamento econémico, aos quais estavam habituados.
Isso faz. parte da integracdo dos pequenos produtores agricolas na Igica da reprodugao
ampliada.
No que se refere & esfera técnica, diretrizes claras vinculam a autorizacdo de criar
uma cooperativa e todo suporte oficial para seu funcionamento & exigéncia que sejam
descritas “as condigées (...) de aquisicéo dos produtos a ser utilizados pelos associa-
dos” (Bursztyn, 1984, p. 62). Essa diretriz revela como o Estado pretende exercer sua
aco sobre as cooperativas agricolas: 0s 6rgaos oficiais reivindicam sobretudo 0 au-
104 SCHWARZ, Alf. Logica do desenvolvimento do Estado e I6gica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1-sem. 1990.
mento da composicao organica do capital. A distribuigao aos membros da parte do ex-
cedente no mobilizado para fins de producio e de gestéo interna da cooperativa que se
faz. proporcionalmente em funcdo do volume de aquisicées dos insumos agricolas, visa
um mesmo objetivo: 0 aumento da composicao organica do capital que acelerard a inte-
gracio agricultura-incistria.
O Estado engaja assim as cooperativas agricolas a participar do seu empreendi-
mento geral que visa a reprodugo ampliada para alimentar 0 processo de acumulagio
nacional. O desincentivo a tesaurizacao simples, os entraves ao consumo social (por
exemplo pela imposicao de um fundo de reserva), as presses para aumentar a composi-
cdo organica do capital, os subsidios e os incentivos que favorecem a especializagéo da
produciio em func&o das exigéncias somente da esfera mercantil, a importincia cres-
cente do setor bancério no financiamento da producao agricola dos cooperados, tudo is-
so traz a etiqueta do Estado modernizador, preocupado com a acumulacdo nacional. As
cooperativas agricolas constituem assim, uma estratégia prioritéria na manutengéo € na
ampliacio do controle oficial nas transformacées do sistema de producdo agricola que
deverd responder as exigéncias da reproducao ampliada do capital no pais. Ao mesmo
tempo que progride a integragao agricultura-indtistria pelo aumento das compras que 0
setor agricola faz ao setor industrial (equipamentos, insumos, etc.) € que reforga-se 0
controle do setor bancério sobre 0 setor agricola pelo endividamento progressivo desse
liltimo, acentua-se 0 retrocesso da producdo destinada ao auto-consumo que, no entan-
to, € primordial para a seguranca alimentar das massas rurais.
E claro que nao € apenas no Brasil que o Estado desempenha um papel no teatro
da modemnizacio agricola. Em todas as partes do mundo a modernizacdo agricola mos-
tra sem disfarces seu rosto de controle burocritico e de “‘acdo esmiucadora’’. Em
quantos paises 0 Estado € 0 maior patrdo local que utiliza umas vezes a seduc&o, outras
vezes a imposicio para ver adotados seus objetivos? O Estado € responsével por medi-
das de racionalizacao do espaco agrério, através de operagdes de agrupamento que arra-
sam as terras, além de elaborar as opgdes de desenvolvimento. A ajuda ¢ os subs{dios
do Estado orientam a producdo, atenuam os efeitos das calamidades, facilitam a instala-
do de grupos-alvos. O Estado lanca projetos pilotos de modenizacéo do habitat rural e
financia os equipamentos coletivos. Elimina as pequenas propriedades pelo jogo das in-
denizagées ou controla, ainda, principalmente, através do crédito, a érea minima para
exploraco agricola. Administra diretamente 0 equipamento rural: irrigagao, cletrifica-
cdo, estradas, saneamento. Estabelece programas de seguro agricola ¢ estabelece cotas
de produgo. Intervem na comercializacao ¢ na fixagdo dos pregos agricolas, através do
SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado © W6gica camponesa. ‘Tempo Social; Rev. 105
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990,
estabelecimento de estoques reguladores ou pela constituigao de um fundo de apoio aos
precos.
Quase sempre, os tecnocratas do controle oficial da modernizacao agricola enten-
dem-se suficientemente bem com seus parceiros mais importantes para progredir no ob-
jetivo de converter a agricultura tradicional de subsisténcia em um sistema de producao
agricola que permite a reproducdo ampliada. A interconexdo transforma-se em regra
entre todas essas engrenagens oficiais, financeiras, industriais, cooperativas € oligérqui-
cas. Os programas ¢ projetos de modemizacio agricola, sua aplicagao, seus ajustes ou
suspensao so negociados entre esses parceiros privilegiados do novo “pacto agrério”,
na auséncia da massa dos pequenos agricultores ¢ de seus porta-vozes. O pequeno agri-
cultor pode apenas bater a cabeca nas paredes desse quadrilétero formado pelo Estado e
sua pléiade de érgios que intervém nas questdes agrérias, a esfera mercantil, 0 coope-
rativismo reciclado e as oligarquias locais. O agricultor estaré ainda mais perdido quan-
do tentar enxergar melhor nessa profusio de associagées profissionais e grupos de todos
tipos que se aliam aos servicos piblicos, aos organismos cooperativos e &s empresas do
setor privado para formar essa vasta rede do “tercifrio agricola” que foi concebida para
girar ao redor do produtor agricola propriamente dito. A confusio do nosso pequeno
agricultor, que ter gasto todo o seu tempo para trabalhar a terra, ao invés de sulcar os
corredores dos ministérios e das sedes sociais de associacés diversas ¢ de grandes em-
presas do setor agro-alimentar, seré ainda maior quando perceber que nesse labirinto de
organismos e de servigos, os mesmos nomes de cabegas dirigentes reaparecem constan-
temente. De fato, um certo membro de uma cooperativa local pode nesse contexto apa-
recer sob méscaras diversas ¢ acumular varias fungdes ao mesmo tempo: grande pro-
prietério fundidrio, ele consegue ser nomeado delegado de uma associacao profissional
que participa do trabalho de uma comissdo estatal encarregada de estudar uma nova po-
Iftica de precos agrérios, sua fortuna familiar o terd permitido, por outro lado, adquirir
uma participagao notavel em uma pequena empresa quimica que produz herbicidas para
agricultura. Essa mesma fortuna teré contudo desempenhado um papel importante na
eleicdo do seu filho primogénito ao cargo de deputado que, por sua vez, seré membro
de uma comissio parlamentar sobre a utilizacdo de agro-t6xicos. Certamente, esse €
apenas um exemplo construfdo para o bem da causa, no entanto, a interconexio € a re-
gra no apenas no n{vel dos érgaos, mas também no nfvel dos individuos. Em resumo, 0
terciério agricola que retine em vérios paises efeitos desproporcionados em relacdo a0
niimero de produtores agricolas propriamente ditos, constitui um verdadeiro meio de
cultura para “‘conflitos de interesse”’ de toda natureza.
No entanto, nessa efervescéncia de interesses os mais diversos, 0 Estado conserva
‘a direc&o do seu principal objetivo: assegurar a modernizacao da agricultura do pats pa-
ra gerar um excedente mobiliz4vel em favor dos outros setores da economia nacional,
106 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado e I6gica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990.
mesmo se essa escolha implique sacrificios enormes da parte da maioria dos agricultores
tradicionais. A razo do Estado procura mais a seguranca nacional, baseada na capaci-
dade de acumulacéo de uma economia modema e industrializada do que a seguranca
familiar de milhdes de pequenos agricultores anénimos.
4. A seguranca quotidiana dos agricultores tradicionais contra a industriali-
zacao da nacéo
pao quotidiano contra a grandeza da nacio, eis aqui resumido ao méximo o di-
ema oferecido pelo desafio da modernidade agricola aos pequenos agricultores.
Nada na tradico desse agricultor o preparou para avaliar sua aco no conjunto de
uma economia nacional que deve parecer bem abstrata na sua perspectiva local.
A l6gica do sistema agricola tradicional € a reproducdo do seu sistema local. Seu
objetivo prioritério é a produc&o necesséria que deve ser obtida com o maximo de
seguranca (principalmente pela diversificago da produgdo para responder & multi-
plicidade das necessidades bésicas, a utilizacdo racional das terras através de longos
alqueives e para assegurar a estabilidade fundidria). A acumulagio e a tesaurizacdo
aparecem nesse sistema agricola tradicional, no apenas como meio para melhor sa-
tisfazer suas necessidades, mas sobretudo como medida de seguranca suplementar,
como testemunha, por exemplo, a importancia dos estoques de subsisténcia no Sa-
hel, antes do desenvolvimento da culturas de comercializaco.
Essa obsessio pela seguranca imediata desenvolvida na meméria coletiva das co-
Ietividades rurais que se recordam das dificuldades do passado, vai necessariamente
entrar em contradicao com essa outra obsesséo que manifestam os responsdveis da
nago, levados pela sua visio futurista do mundo, esperando concretizar esse futuro
pelo desenvolvimento das forcas produtivas na industria, através de uma arrecada-
do méxima de excedente na agricultura.
A contradic&o se manifestaré sobretudo em dois niveis: 0 da politica geral de utili-
zacao prioritéria do excedente mobilizével na agricultura e do impacto das modali-
dades concretas da implantagéo de projetos de desenvolvimento agricola sobre 0 ex-
cedente a disposicao do produtor agricola. Em numerosas cicunstncias pode, com
freqiéncia, ocorrer um actimulo de contradicées no nivel da politica geral ¢ da mo-
dalidade de aplicagéo dos programas, o que accntuaré a contradicao fundamental
entre a ac&io do Estado e a reago da sociedade agricola tradicional.
A contradicao no nivel da politica geral de aplicago do excedente agricola pode
ser resumida como segue: se o Estado procura maximizar sua arrecadacio, ele pode
SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado ¢ I6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 107
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990.
fazé-lo em detrimento do excedente mobilizdvel na unidade de producéo do agricultor
tradicional ¢, as vezes, as expensas da producao necesséria. Se 0 agricultor procura as-
segurar com a maior garantia possivel sua produgao necesséria, ele pode apenas fazé-lo,
através da mobilizaco maxima do excedente na sua unidade de produgéo, escapando,
ortanto, ao méximo possivel, das arrecadagées do Estado. Essa situacio assemelha-se
‘a0 que se poderia chamar de “‘cenério de recuo defensivo”.
A contradicao no nivel do impacto imediato das modalidades concretas da im-
plantagdo dos projetos de desenvolvimento agricola na manutengo ou néo da capacida-
de de reproducao simples do sistema agricola tradicional pode, por sua vez, ser resumi-
da como segue: a natureza e 0 volume da producao recém-introduzida podem favorecer
0 Estado em detrimento do agricultor tradicional. Se as novas culturas exigem uma uti-
lizago crescente de insumos, 0 nivel da arrecadacdo seré mais elevado: de uma maneira
geral, quanto mais a agricultura integra-se ao mercado, mais ela pode ser alvo de arre-
cadago. Finalmente, 0 modo de utilizacdo da forga de trabalho imposta aos produtores
agricolas pelas novas culturas que tém como objetivo uma maior produgéo, pode reduzir
suas chances de uma melhor reproducdo. Na realidade produzir mais significa, fre-
qiientemente, nesse caso, ser capaz de reproduzir-se com mais dificuldade. Esse fato
deve ser também considerado por ocasiao da fixagio dos niveis de arrecadagao. Essa
situagdo pode ser qualificada daquilo que poderia se denominar “‘cenério da integra-
gao/marginalizagao”.
Esses dois tipos de cendrios permitem melhor julgar a compatibilidade entre siste-
mas, onde um responde a Iégica dos pequenos agricultores ¢ 0 outro a Iégica do Estado.
Os dois sistemas esto condenados a uma coexisténcia que poderd durar um certo tempo
em numerosas regides do globo, onde tentaréo, tanto um como o outro, reproduzir-se
segundo a sua propria I6gica. O choque entre a légica da sociedade agricola tradicional
€ a légica do Estado modernizador se manifestaré, no entanto, de maneiras diferentes,
conforme o tipo de cenério predominante.
Eis aqui uma breve ilustragao do fenémeno. Em referéncia ao “‘cenério recuo”,
que se assemelha ao que ocorre em certas regides da Africa Sahelense, a reacio de re-
cuo do agricultor tradicional € muito clara. O agricultor tradicional manifesta, nesse ca-
so, uma certa tendéncia a abandonar o amendoim para cultivar 0 milho mitido, por
exemplo, que ¢ mais remunerador, além de proporcionar mais seguranca. Ea resposta
desses agricultores & famosa alternativa culturas de subsisténcia/culturas para comer-
cializagéo. O equilfbrio mantém-se, enquanto a renda monetéria marginal das jomadas
de trabalho consagradas as culturas para comercializacéo, permite obter, pelo menos, a
mesma quantidade de produtos alimentares que se teria produzido diretamente, consa-
grando-se essas jornadas as culturas de subsisténcia. No entanto, no momento em que a
rarefacio dos produtos de subsisténcia conduz a uma elevacdo significativa dos seus
108 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado e Iégica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, I.sem, 1990,
precos, existe um abandono das culturas de comercializacéo, provocado, a0 mesmo
tempo, pela diminuigao do seu poder de compra em comparagio aos produtos de sub-
sisténcia e pelo atrativo que representam, de ora em diante, as culturas de subsisténcia,
as quais quando chegam ao mercado, alcancam pregos mais elevados.
O excesso de arrecadacio, aliado aos acidentes climsticos (repeticao de secas) tem
como resultado 0 enfraquecimento da capacidade do Estado para arrecadar mais, jé que
a produgo comercializada pelo Estado (o amendoim) diminue, Sao entéo os agriculto-
res tradicionais que, pela sua escolha, permitirio a reproduco do seu proprio sistema,
apesar da atitude do Estado, a quem essa escolha ocasionaré sérios problemas de fun-
cionamento. Para resolver a contradicao, o Estado poderia ter utilizado uma outra via
que teria consistido em tentar implantar, de maneira segura e definitiva, a reproducao
simples, através de uma aco vigorosa sobre os sistemas de subsisténcia e por um siste-
ma de precos diferentes para o amendoim. Essa situaco teria, sem diivida, mudado de
maneira mais durével a opgao dos agricultores tradicionais, mas teria privado igual-
mente 0 Estado, durante muitos anos, da possibilidade de amecadar 0 excedente dos
agricultores tradicionais. Tudo isso demonstra bem que, em um primeiro tempo, em um
sistema precério como os sub-sahelenses, a primeira fase da intervencéo, aquela que
consiste em implantar de maneira durdvel a reprodugio simples, € apenas possivel
quando seu financiamento vem do exterior. A capacidade de acumulacéo nacional é
muito fraca para tomé-la sob a responsabilidade local. Em seguida, € talvez. possfvel
proporciorar, pouco a pouco, a emerséo de uma agricultura mais modema, se as solu-
Ges técnicas propostas pemitirem efetivamente um aumento continuo e durdvel da
ptodutividade da terra ¢ do trabalho.
O “‘cendrio do recuo defensive” mostra a reacao dos agricultores tradicionais a
uma politica de arrecadacéo autodestrutiva no contexto de repeticéo de acidentes climé-
ticos, que dramaticamente colocou em evidéncia a questio da seguranca alimentar. O
recuo defensivo restitui aos agricultores uma pequena margem de manobra. De fato, €
necessério compreender a reacdo desses agricultores tradicionais em termos de reprodu-
cdo do seu sistema. O exemplo dos agricultores tradicionais do Sahel que preferem cul-
tivar 0 milho middo e o milho comum, empregando certa parte das jommadas de trabalho
para beneficié-los ou comercializé-los, ao invés de produzir 0 amendoim que a OACV
adquire na propriedade agricola, demonstra bem que eles se questionam sobre a questo
da utilizagio que podem fazer, seja das jornadas de trabalho suplementar, seja da renda
por elas gerada para melhorar o funcionamento do seu sistema de producao, muito mais
que responder as exigéncias da acumulacéo nacional. O recuo desses agricultores para
as culturas de subsisténcia, impede momentaneamente a transferéncia do excedente
agricola para outros setores da atividade nacional, proporcionando um certo excedente
no sistema de reprodugao local.
SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado ¢ légica camponesa. Tempo Social; Rev. 109
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990.
A situac&io € no entanto diferente quando trata-se do “‘cenfrio de integracdo/mar-
ginalizacéo” que existe, por exemplo, no Estado do Parand no Sul do Brasil. Grosso
modo, a situagéo agricola pode ser resumida da seguinte maneira: o Estado decidiu in-
centivar no Parand a cultura de soja em grandes estruturas capitalistas para evitar, além
de outros problemas, os imprevistos préprios da cafeicultura, O Parand foi durante
muitos anos um dos grandes produtores de café do Brasil (Esteves, 1981), onde coexis-
tia grandes propriedades do tipo capitalista e pequenas propriedades familiares. A cultu-
ra do café desenvolveu-se sobretudo no norte do estado, mais favordvel do ponto de
vista dos solos e da topografia, j4 que o sul € 0 centro apresentavam relevo mais aci-
dentado. Com o rapido desenvolvimento da indtistria, o governo brasileiro deparou-se
com a necessidade de integrar mais estreitamente a indiistria & agricultura e aumentar
consideravelmente o volume das exportag6es. Por outro lado, o risco permanente que a
economia cafeeira significava, tanto para 0 Governo como para os agricultores, em fun-
do das geadas, concorria para uma tentativa de transformacdo do sistema de produgao.
Dessa forma, hé mais de vinte anos, estimulou-se no Parand um considerdvel desenvol-
vimento da cultura de soja. Em sucesso ao trigo, a soja representa uma cultura muito
mais integrante que o café, tanto a montante como a jusante. Em conseqiiéncia, a super-
ficie cultivada com o café diminuiu consideravelmente, enquanto que a cultura de soja
desenvolveu-se, primeiro em propriedades enormes, depois progressivamente também
‘em pequenas e médias propriedades, acompanhada de todos os fendmenos de integragéo
a montante (mecanizacéo, insumos, etc.) € a jusante (transformagées) que eram, até en-
to, praticamente desconhecida dos produtores de café. Assistiu-se ent&o ao apareci-
mento de uma certa especializagio regional: 0 norte transformou-se no espaco das gran-
des propriedades capitalistas que cultivavam a soja, no sul, espaco por exceléncia das
culturas de subsisténcia, ficaram as propriedades familiares que se tomaram altamente
integradas ao sistema, a montante ¢ a jusante, apesar da fraca rentabilidade das culturas
de subsisténcia ¢ da dificuldade de utilizacdo da mecanizagdo em terras muito inclina-
das. As conseqiiéncias dessa politica séo relativamente claras: progressio considerével
do ntimero e dos resultados das grandes propriedades no norte, abandono ou marginali-
zacdo das propriedades familiares no centro € no sul. O excedente mobilizAvel nas uni-
dades de producio familiar ¢ freqiientemente negativo, enquanto que esse excedente
pode alcancar 50% nas propriedades capitalistas (Esteves, 1981). Por outro lado, € inte-
ressante constatar que 0 retorno abaixo do limiar que permite a reproducdo simples po-
dia, em certos casos, ser acompanhado de um aumento da renda monetéria. E 0 caso,
principalmente, dos pequenos agricultores que vendem sua forga de trabalho a um prego
muito baixo, nao tendo, dessa forma, tempo para consagrar a0 seu proprio sistema de
produgao. Dessa maneira, esses agricultores aventuram-se de fato em um processo de
regressio do seu proprio sistema de reprodugao. Para eles toda esperanca de alcangar
110 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado ¢ Igica camponese. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 211): 75-114, 1.sem, 1990,
um dia © limiar de acumulagdo est4 doravante perdida. Por outro lado, o trabalho su-
plementar requerido pelo sistema de produco orientado para a intensificacao, amplia-
40, e diversificagao de culturas (utilizacdo de insumos, motorizagao, etc.), pode impe-
dir os pequenos agricultores de realizar, no seu sistema de produco, uma série de ope-
racées necessérias reprodugdo do ciclo produtivo ou da forca de trabalho (auto-cons-
truco, manuteng&o dos canais de irrigacdo, preparacéo do solo, etc.). Todas essas
questdes nao seriam tao graves se a renda marginal (do trabalho fora da propriedade)
permitisse, pelo menos, a realizacdo desses trabalhos pela contratagao de mao-de-obra
assalariada, o que est4 longe de ser o caso. Os baixos salérios obtidos fora da sua pré-
pria unidade de produgdo impedem os pequenos agricultores de pagar a forga de traba-
Iho indispens4vel para obter a producao necesséria.
Na verdade, os “pacotes tecnolégicos” preparados pela EMBRATER para solu-
cionar os problemas da agricultura paranaense, através principalmente de um package
deal tecnolégico para introducdo massiva da soja, foram perfeitamente adaptados as
grandes propriedades. Em oposico, foi dificil aplicé-los em propriedades que nao pos-
suiam a dimensao minima dos médulos propostos. Esses pacotes tecnoldégicos, tecnica-
mente inadaptados as pequenas propriedades, serviam para colocé-las em situacdo eco-
némica desfavoravel, provocando progressivamente a sua marginalizacao. Por outro la-
do, a répida integracdo da agricultura a industria tinha se transformado numa necessida-
de imperiosa do “modelo brasileiro”. Essa integracdo foi incentivada, a despeito da si-
tuagdo econémica dos sistemas agrérios aos quais devia-se aplicé-la. A légica do Go-
verno brasileiro foi, portanto, claramente determinada por esses dois objetivos maiores
promover ao mximo as grandes estruturas capitalistas, mesmo se essa escolha signifi-
casse 0 desaparecimento de um grande niimero de pequenas e médias propriedades.
Além disso, a integragdo a jusante e a montante ao sistema capitalista, devia efetuar-se
a todo prego, mesmo se a reproducao simples da forca de trabalho nao pudesse mais ser
assegurada, como € 0 caso das propriedades familiares do centro e do sul do Parané. As
pequenas propriedades agricolas, ansiosas para subir no “trem da modernizagdo agri-
cola”, tinham superestimado sua capacidade de reprodugdo. Essas pequenas e médias
propriedades tinham também subestimado as suas dificuldades em reembolsar os crédi-
tos para os investimentos necessérios & transformaco do seu sistema de producdo. De
fato, era freqiientemente por ocasiéo do reembolso que as principais dificuldades apare-
ciam. Essas dificuldades revelaram brutalmente que, considerando o sistema de precos
agricolas utilizados (precos dos produtos agricolas, pregos dos bens de consumo relati-
Vos as necessidades bésicas), a unidade de produco agricola ndo se encontrava em uma
verdadeira situacdo de acumulacdo. Se essa tltima situacdo tivesse ocorrido, essas uni-
dades de produgdo teriam sido capazes de cumprir as suas obrigacées de reembolso. No
entanto, constatava-se freqiientemente que as pequenas unidades de producdo simples-
SCHWARZ, Alf, Lé6gica do desenvolvimento do Estado ¢ W6gica camponesa. Tempo Social; Rev. 111
Sociol. USP, S. Paulo, 21): 75-114, 1.sem. 1990.
mente nao conseguiam reembolsar as suas dividas ou as reembolsavam as custas de uma
arrecadagdo nociva sobre a produgao necesséria. Nesse ultimo caso, o consumo familiar
diminuia drasticamente e 0 endividamento sobre os bens de consumo aumentava consi-
deravelmente. Por outro lado, certos bens de primeira necessidade podiam apenas ser
adquiridos, gragas a uma certa renda obtida fora da propriedade agricola. Tudo isso
demonstra que 0 produto social (valor total da producéo) foi insuficiente para liberar,
para fins de investimento, um excedente mobilizdvel na propriedade agricola. Pode-se
observar entdo, claramente, que teria sido do interesse dos pequenos agricultores con-
servar como objetivo prioritério a manutencdo da produgéo necesséria no nivel indis-
pensdvel, isto é, um nivel superior ao limiar que permite a tesaurizaco, 0 consumo so
cial e, eventualmente, a acumulagdo. Desde que a situaco permaneca abaixo desse li-
miar, desencadeia-se um processo manifesto de marginalizagéo numa economia rural
‘onde poucos conseguiréo manter-se na competic¢ao. Nessa derrocada, a producdo de
subsisténcia que continua ser a “especialidade” das pequenas propriedades, pode ape-
nas manter-se abaixo do limiar de acumulagdo: os precos oferecidos para os produtos
situam-se sensivelmente abaixo do nivel que possibilita a reproducdo da forca de tra-
balho que os produz.
A integracdo da agricultura do Parané inddstria nacional por intermédio da in-
troducao da cultura de soja, produzida em estruturas capitalistas que oferecem nfveis
elevados de excedente mobilizdvel, vai dessa forma a par com a marginalizacdo pro-
gressiva da produgdo agricola familiar, encurralada na produgdo de subsisténcia, inca-
paz de assegurar sua simples reproducio.
O agricultor tradicional do Sahel ¢ 0 pequeno agricultor do Parané estao separa-
dos pela imensidao do Oceano Atlntico; no entanto, um mesmo problema os aproxima:
um e outro e com eles a totalidade dos pequenos agricultores, estéo presos na engrena-
gem do controle oficial da modernizacao agricola. Todos so convidados, néo para jul-
gar a pertinéncia das estratégias propostas, mas para aceitar de corpo e alma 0 convite
feito para embarcar numa estratégia baseada, geralmente, na promessa de um aumento
da renda monetéria, através de uma mudanca do sistema de produgdo que abriria 0 ca-
minho para um novo modo de consumo, impedindo-se o éxodo rural. Finalmente, todos
esto presos no dilema fundamental de optar pela manutenco do seu préprio sistema de
produc&o familiar, baseado na Iégica da reproducdo simples que, no melhor dos casos,
permite uma certa tesaurizacao e consumo social local, de maneira a reforgar uma segu-
ranca imediata mas sempre precéria, ou de abandonar a Iégica asseguradora do sistema
tradicional para acompanhar 0 processo de integragdo nacional da producdo agricola,
baseado na obtencao de excedentes mobilizAveis, transferiveis a outros setores da eco-
nomia nacional, sob o risco da marginalizacao ou da eliminacio de um ntimero cres-
cente de pequenos agricultores do proceso produtivo agricola.
112 SCHWARZ, Alf. Légica do desenvolvimento do Estado ¢ I6gica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, I.sem. 1990.
Em resumo, esses agricultores encontram-se presos entre sua propria légica que os
ensina a reproduzir-se a qualquer preco, mesmo a nfveis de vida os mais estritos, e uma
l6gica desenvolvimentista que os ordena a produzir mais, mesmo se essa producdo deva
efetuar-se a um custo social exorbitante que se exprime por uma inseguranga alimentar
crescente ¢ pela expulséo de milhdes de agricultores tradicionais da agricultura.
Na verdade 0 infortinio dos pequenos produtores agricolas presos na mecdnica da
modemizagéo agricola reveste-se de formas diversas nas diferentes partes do mundo,
mas essas dificuldades se inscrevem mutatis mutandis numa mesma dinamica contradi-
t6ria que opée a légica dos agricultores tradicionais, fundada na procura da seguranca
alimentar a l6gica modernizadora do Estado, pronto a sacrificar no altar da modernidade
agricola um mimero crescente de pequenos produtores que se tornam refens de um pro-
gresso econémico que vira as costas a0 campo.
Recebido para publicagéo em agosto/1989
SCHWARZ, Alf. Logic of State development and peasant logic. ‘Tempo Social; Rev. Sociol. USP,
‘1):75-114, Lsem, 1990,
ABSTRACT: This article aims at showing that agricultural modernization in Third
World countries is full of misunderstandings, intellegently cultivated by the modernizing
elites. These, indeed, claim to build their policies and projects on the urgent need to
preserve and improve the very family agriculture which they in fact tend to jeopardize, if
not destroy. The author presents a theoretical framework capable of shedding light upon
the antagonistic logics opposing the organization of traditional peasantry and modern
agriculture. The former's objective of producing security at the local level cannot be
marched with the latter’s one of producing a surplus geared forward national
accumulation. Daily bread as against nation’s greatness, such is, in a nutshell, the dilemma
facing traditional peasantries confronted with the elites forwarding of agricultural
modernity. This dilemma is illustrated with a few examples.
UNITERMS: rural modernization, poor rural producers, rural families,
accumulation, peasant logic, rural production, State and peasantry
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
AMIN, Samir. Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme
péripherique. Paris, Ed. Minuit, 1973.
SCHWARZ, Alf, Légica do desenvolvimento do Estado e Iégica camponess. Tempo Social; Rev. 113
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990.
BAIROCH, Paul. Le tiers-monde dans Timpasse. Paris, Gallimard, 1983.
BELLONCLE, Guy. La question paysanne. Paris, Karthala, 1982.
BOIRAL, P. et alii. Paysans, experts et chercheurs en Afrique noire. Sciences sociales et
‘développement rural. Patis, Karthala, 1985.
BURSZTYN, Marcel. © poder dos donos. Petr6polis, Vozes, 1984.
CHAMPAGNE, Pierre. Etat et paysan. La contradiction entre deux systémes de reproduction.
Economie rurale, n° 147/148.
CAMPAGNE, Pierre. Zones rurales et systémes de production. Fasciculo I, 1984.
CHAYANOV, Alexandr V. The Theory of Peasant Economy. inois, Irwin Homewood, 1966.
ESTEVES, Hemandes. Implantation et pénétration du capitalise. L’exemple de certaines
communes au Brésil. [AMM, 1981.
GUIMARAES, Alberto Passos. A crise agrdria. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
GUTELMAN, Michel. Structure et réformes agraires. Paris, Maspero, 1974.
HOBSBAWN, Eric. Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th
and 20th Centuries. Manchester, Manchester University Press, 1971.
. Peasants and Politics. Journal of Peasant Studies, \(1), 1973.
IBGE. Anustio estatfstico do Brasil. Vol. 41. Rio de Janeiro, 1980.
. Anusrio estatistico do Brasil, Vol. 45, Rio de Janeiro, 1984,
Isto E. Ataque aos defensivos. Rio de Janeiro, 5 jun. 1985.
L’Actualié. Comme ga me plait. Montreal, dez. 1986.
LECOMTE, J. Bernard. L’aide par projet. Limites et alternatives. Paris, Etudes du Centre de
Développement de ' OCDE, 1986.
LIPTON, Michael. Why Poor People Stay Poor. A Study of Urban Bias in World Developement.
Londres, Temple Smith, 1977.
MOORE Jr., Barrington. Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Paesant in the
Making of Modern World. Boston, Beacon Press, 1966.
PAQUETTE, Romain. Désengagement paysan et sousdéveloppement alimentaire. Martinique,
Marie-Galante, Barbade. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1982.
114 SCHWARZ, Alf. L6gica do desenvolvimento do Estado e I6gica camponesa. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 2(1): 75-114, 1.sem. 1990.
SCOTT, James C. The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast
Asia. New Haven, Yale University Press, 1976.
SERVOLIN, Cl. L’absortion de l'agriculture dans le mode de production capitaliste. In: L'wni
vers politique des paysans. Paris, A. Colin, 1972.
SCHWARZ, Alf, Le déclassement du villageois zairois. Une approche psycho-sociologique du
développement inégal. Canadian Journal of African Studies. XIV, n° 1, 1980.
. Les dupes de la modernisation. Montréal, Nouvelle Optique, 1983.
WOLFF, Eric. ‘Types of Latin American Peasantry. A Preliminary Discussion. American Anthro-
pologist, n° 57, jun. 1955.
. Peasant Wars of the 20th Century. New York, Harper and Row, 1969.
WOLFF, Eric et alii. Vida rural e mudanca social. So Paulo, Ed. Nacional, 1976.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Assis Daniel Gomes 2018Document15 pagesAssis Daniel Gomes 2018Assis Daniel GomesNo ratings yet
- RICOEUR, Paul. A Metáfora Viva PDFDocument251 pagesRICOEUR, Paul. A Metáfora Viva PDFAssis Daniel GomesNo ratings yet
- Africa Ok PDFDocument6 pagesAfrica Ok PDFAssis Daniel GomesNo ratings yet
- Bib 68598 PDFDocument5 pagesBib 68598 PDFAssis Daniel GomesNo ratings yet
- Bib 64577 PDFDocument4 pagesBib 64577 PDFAssis Daniel GomesNo ratings yet
- 37 Vera Rozane Arac3bajo Aguiar FilhaDocument5 pages37 Vera Rozane Arac3bajo Aguiar FilhaAssis Daniel GomesNo ratings yet
- Writing The History of Labor in Canada and The United StatesDocument43 pagesWriting The History of Labor in Canada and The United StatesAssis Daniel GomesNo ratings yet
- The White House 7: Arl&XDocument5 pagesThe White House 7: Arl&XAssis Daniel GomesNo ratings yet
- Nsfaf Afp4 6 PDFDocument108 pagesNsfaf Afp4 6 PDFAssis Daniel GomesNo ratings yet