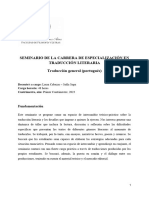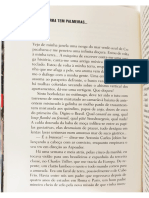Professional Documents
Culture Documents
Campos 81 PDF
Campos 81 PDF
Uploaded by
meeee20110 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views16 pagesOriginal Title
Campos 81.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views16 pagesCampos 81 PDF
Campos 81 PDF
Uploaded by
meeee2011Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
IIl_— Post Scriptum .
TRANSLUCIFERAGAO MEFISTOFAUSTICA
A tradug&o, como a filosofia, ndo tem Musa (Es gibt keine Muse
der Philosophie, es gibt auch keine Muse der Uebersetzung), diz Walter
Benjamin (“Die Aufgabe des Uebersetzers”). E no entanto, se ela nfo
tem Musa, poder-se-ia dizer que tem um Anjo. De fato, no entender do
proprio W. Benjamin, cabe 4 tradug4o uma func4o angelical, de porta-
dora, de mensageira (compreendida esta na acepgdo etimoldgica do termo
grego dngelos, do hebrdico mal’akh): a tradugfo anuncia, para a lingua
do original, a miragem mallarmaica da lingua pura; ela é mesmo, para 0
original, a Unica possibilidade de entrevisdo dessa lingua pura: — ponto
messianico (ou, em termos laicos da moderna teoria dos signos, — lugar
semidtico) de convergéncia da intencionalidade (mais exatamente, do
“modo de intencionar”, Art des Meinens, Art der intentio) de todas as
linguas, que assinala, entre elas, ao nivel desse telos desocultado gracas
ao peculiar “modo de re-producdo” (Darstellungmodus) que é a tradu-
¢40, uma “‘afinidade eletiva”, independentemente de todo parentesco
etimologico ou histérico. Por isso mesmo, por mais um rasgo paradoxal
de sua teoria do traduzir (que eu ja procurei definir algures como uma
metafisica, antes do que uma fisica da traducdo), W. 'B. inverte a relacdo
de servitude que, via de regra, afeta as concepgdes ingénuas da traducio
como tributo de fidelidade (a chamada tradugo literal ao sentido, ou,
simplesmente, tradugao “servil”), concepgdes segundo as quais a tradu-,
¢4o esta ancilarmente encadeada a transmissfo do contetido do original.
Pois, na perspectiva benjaminiana da “lingua pura”, o original é quem
serve de certo modo 4 tradug4o, no momento em que a desonera da tarefa
de transportar 0 contetido inessencial da mensagem (trata-se do caso de
tradugfo de mensagens estéticas, obras de arte verbal, bem entendido),
€ permite-lhe dedicar-se a uma outra empresa de fidelidade, esta subver-
siva do pacto rasamente conteudistico: Treue in der Wiedergabe der Form,
a “fidelidade a re-produgdo da forma”, que arruina aquela outra, ingénua
e de primeiro impulso, estigmatizada por W. B. com o tra¢go distintivo
da mA tradugfo: “transmissfo inexata de um contetdo inessencial” (eine
ungenaue Uebermittlung eines unweséentlichen Inhalts).
179
Nao ‘seria descabido, portanto, ultimar a teoria: benjaminiana. da
tradugdo “angelical”, da tradugdo como portadora da mensagem “inter”
(ou “trans”) -semidtica da lingua pura, dizendo que ela é orientada pelo
lema rebelionério do non serviam (da n&o submissfo a uma presenga que
Ihe é exterior, a um contetido que lhe fica intrinsecamente inessencial); ©
em outras palavras, como a propria expresso latina o denuncia, estaria-
mos diante de uma hipdtese de tradugdo luciferina. Pois 0 desideratum
de toda tradugfo que se recusa a servir submissamente a um conteddo,
qué se recusa a tirania de um Logos pré-ordenado, 6 romper a clausura
metafisica da. presenca (como: diria Derrida): uma empresa saténica. O
contraparte “maldito” da angelitude da tradugfo é a Hybris, o pecado
semioldgico de Sata, il trapassar del segno (Par., XXVI, 117), a transgressfo
dos limites signicos,, no caso’ o transgredir da relagdo aparentemente
natural entre o que dicotomicamente se postula como forma e contetdo.
Nesse sentido, o Anjo da tradugio bem poderia chamar-se AGESILAUS
SANTANDER, como o “Angelus Novus” de W. B., anagrama cabalistico _
de DER ANGELUS SATANAS, na exegese de Gershom Scholem. Pois,
no limite de toda tradugdo que se propde como operaco radical de trans-
criagfo, faisca, deslumbra, qual instante volatil de culminagdo usurpa-
dora, aquela miragem (que jd evoquei em minha introdugfo 4 “translu-
minagfo” de 6 Cantos do Paradiso de Dante) de converter, por um 4timo
que seja, o original na traducao de sua'tradu¢4o. Assim, nada mais estranho
4 tarefa do traduzir, considerado como uma forma (Uebersetzung ist eine
Form) que aspira a uma fidelidade — hiperfidelidade — a outra forma
' (“fidelidade a re-doagfo da forma”, Treue in der Wiedergabe der Form),
do que a humildade. Nesse dominio regional, aplica-se 4 maravilha o que
dizia o jovem Marx, no texto de 1842 em que ele defende, contra a censura,
0 seu direito a um estilo préprio (e onde se’lé: “Minha propriedade é a
forma, ela constitui minha individualidade espiritual. Le style, c’est
homme. E como!”); recusando-se a admitir a “modestia como esséncia .
do espirito”, Marx recorre a uma citagdo de Goethe: “S6 o esmoler é
modesto, diz Goethe. E é a um tal mendigo que vés quereis reduzir o
espirito?”. Aqui, como afirma por seu turno Nietzsche, “seria necessario
o habito do ar cortante das alturas, de andangas de inverno, de gelo e
montanhas em todos os sentidgs, (.. .) uma espécie de sublime maldade”,
uma “filtima malicia do conhecimento, muito segura de si, que faz parte
da grande sat:de”. Pois também aqui, nessa regifio sauddvel do transcriar,
os “mestres de resignacdo” (Lehrer der Ergebung) nao devem ter seu habi-
ticulo; aqui, 0 4se se costuma dar como “comedimento” — o colocar
“nossa cadeira no meio” —, ha de chamar-se de fato, sem contemplacdo,
nos termos de Nietzsche, “‘mediocridade” *.
* Para as citacdes de Nietzsche, extrafdas de “Para a Genealogia da Moral”
e “Assim falou Zaratustra”, vali-me da excelente verso brasileira de Rubens Rodri-
gues Torres Filho.
180
Este é o horizonte metafisico do problema. Agora, a fisica da tra-
dug4o, um indice do fazer. Traduzir a forma, ou seja, o “modo de inten-
cionalidade” (Art des Meinens) de uma obra — uma forma significante,
portanto, intracédigo semiético — quer dizer, em termos operacionais,
de uma pragmatica do traduzir, re-correr o percurso configurador da
fungdo poética, reconhecendo-o no texto de partida e reinscrevendo-o,
enquanto dispositivo de engendramento textual, na lingua do tradutor,
para chegar ao poema transcriado como re-projeto isomérfico do poema
origindrio. O tradutor de poesia é um coreégrafo da danga interna das
linguas, tendo o sentido (0 contetdo, assim chamado didaticamente)
ndo como meta linear de uma corrida termo-a-termo, sineta pavloviana
da retroalimentacdo condicionada, mas como bastidor semantico ou
cendrio pluridesdobravel dessa coreografia mével. Puls&o dionisiaca, pois
dissolve a diamantizag4o apolinea do texto original j4 pré-formado numa
nova festa signica: p6e a cristalografia em reebuli¢Ao de lava.
De Goethe, diz Adorno que nenhum escritor como ele, na litera-
tura alema, deu tanta primazia a palavra (motivo pelo qual, na exegese
do pacto mefistofélico, seria fatil distinguir a letra do espirito). Uma
instancia evidenciadora, ao nivel mais imediato, dessa profunda ciéncia
da fung&o poética enquanto fungao configuradora (auto-reflexiva) da
mensagem, encontra-se numa passagem do JJ Fausto, posta em destaque
por Roman Jakobson e sua colaboradora, Linda Waugh, na segdo “The
Spell of Speech Sounds” de seu recente The Sound and Shape of Language
Gloomington, Indiana University Press, 1979). Falando das “analogias
gramaticais”, escrevem Jakobson e Waugh: “Palavras ligadas por som e
sentido manifestam ‘“‘afinidades eletivas” (Wahlverwandschaften), capazes
de modificar a conformagdo e o conteiido das palavras envolvidas”. E,
por via de Albert Wellek (Die Tonmalerei der Sprache und die Sinnensym-
bolik des Worts, 1931), trazem a cena a fala do Grifo na Walpurgisnacht
classi¢a do IT Fausto (Ato II, “No alto Peneios”):
GREIF schnarrend:
Nicht Greisen! Greifen! — Niemand hort es gern,
Dass man ihn Greis nennt. Jedem Worte klingt
Der Ursprung nach, wo es sich her bedingt:
Grau, gramlich, griesgram, greulich, Graber, grimmig,
Etymologisch gleicherweise stimmig,
Verstimmen uns.
MEPHISTOPHELES: Und doch, nicht abzuschweifen,
Gefallt das Grei im Ehrentitel Greifen.
Enfrentar esta verdadeira pedra-de-toque irénica da arte goethiana de
poesia 6 uma empresa que nos permite por o dedo no nervo mesmo, aus-
cultar a palpitacdo do “‘coragao selvagem” do que seja a espécie singular
181
de arte que é a tradugfo: tradugdo poética — trans-criagdo — hiper-tra-
dugdo, Vejamos: Trata-se de criar uma ambiéncia fénica em que o nome
do Grifo, por forga do contégio de significantes convergentes e coinci-
dentes, se reconstrua e se motive, fragmentariamente, no interno do texto,
fazendo do acaso necessidade e transformando a “falsa” ou “pseudo”
etimologia (uma etimologia instaurada ad hoc, por forga da coocorréncia
textual) em nomeagfo adémica inaugural (Adfo, o que nomeia; “Addo,
© pai dos homens, e, — antes do que Platdo —, o pai da filosofia”, segundo
diz W. Benjamin no Ursprung). Como se a natureza fosse a assinatura
de si mesma. Assim: .
UM GRIFO, resmungando:
Gri ndo de gris, grisalho, mas de Grifo!
Do gris de giz, do grisalho de velho
Ninguém se agrada. O som é um espelho
Da origem da palavra, nela inscrito.
Grave, gralha, grasso, grosso, grés, gris
Concertam-se num étimo ou raiz
Rascante, que nos desconcerta.
MEFISTOFELES: O Grifo
Tem grito e garra no seu nome-titulo.
Aqui se pode encontrar in nuce a teoria da traduc%o como operagio
paronomistica generalizada, de Jakobson, centrada no princfpio de equi-
valéncia da fun¢do poética, que projeta o paradigma no sintagma. Goethe,
no ensaio “Moritz como etimélogo” (Italienische Reise), fala de um “‘alfa-
beto da inteligéncia e da sensacdo”, inventado por seu amigo, o escritor
Karl Phillip Moritz (1756-1793), mediante o qual se poderia demonstrar
a n&o arbitrariedade origindria dos idiomas, fundados no “sentido intimo”,
comum a todos os povos. Compara o “jogo etimolégico” a um jogo de
xadrez, no qual se podem imaginar centenas de combinagGes: “é 0 jogo
mais engenhoso (espirituoso) do mundo e exercita incrivelmente o senso
da lingua” (das witzigste Spiel von der Welt und iibt den Sprachsinn
unglaublich). O Grifo 6 uma das personagens mitologicas que intervém
como interlocutores de Fausto e Mefist6feles na fantasia grotescamente
“classicizante”’ da “Noite de Walpurgis”. O trecho em destaque sucede
a uma fala de Mefisto, quando este, recém-chegado aos péramos da
Antigiiidade, afeta reservada surpresa diante do déspudor dos corpos nus
que o cercam, e termina por saudar a todos, decorosamente: “Salve, belas
mulheres, velhos sdbios” (Glick zu! den schénen Fraun, den klugen
Greisen.). Ai engata o trocadilho: GREIS (velho; GRIS/GRISALHO)/
GREIF (GRIFO), Fazendo com que o Grifo reaja ao sentir-se, por um
mal-entendido, chamado de “velho”, Goethe engendra uma rea sémica
de tons sombrios ¢ tristes, girando em torno da figura fonica GREI ou
simplesmente do digrafo GR (4rea do que é “velho”), da qual o Grifo
procura desidentificar-se veementemente, s6 aceitando que se retenha
182
em seu “nome-titulo” (Ehrentitel, titulo nobiliérquico) a associag&o dos
fonemas de GREI com a silaba inicial do verbo GREIfen (“agarrar”).
A situagdo é tanto mais bufa, quando se recorda que o Grifo, animal fan-
+ tdstico, metade Aguia, metade ledo, é o guardifo vetusto, imemorial, dos
tesouros da terra, na concepgao mitolégica. Ao refugar o “sema” de
velhice, o Grifo comporta-se como o proprio Goethe (e Fausto) no seu
culto 4 perenidade da juventude. Ha pois, nesta passagem, um traco auto-
parédico. No comentirio da edig&o Goldman Klassiker, lé-se: “Jogo de
palavras entre o nome do animal fabuloso e o verbo greifen, uma das
palavras prediletas do poeta. A concepgdo goethiana da vida como uma
incansdvel atividade existencial conjuga-se estreitamente com 0 processo
do agarrar (greifen) e do tomar (ergreifen).” Respondendo ao cumpri-
mento de Mefist6feles (preocupado em desfazer o mal-entendido) sobre
a pertinéncia do GREI de agarrar (GREIfen) no seu nome-brasdo, o
Grifo acentua que, de fato, o “parentesco esté provado” (die Verwandt-
schaft, outra das palavras prediletas do poeta); que “‘aquele que agarta”
(em Greifenden) a fortuna sorri. . .
Como proceder, entSo, para transcriar em portugués este frag-
mento quase-sonorista do Fausto goethiano? Isto s6 se podera obter por
uma operacdo radical, cuja virtude transfusora aja blocalmente sobre os
paradigmas (desprezando-se o sentido pontual desta ou daquela palavra.
isolada), para remobilizar, no texto traduzido, um andlogo contraponto
de séries* fono-semnticas, visando ao efeito icdnico do todo: na traducdo,
mais do que em nenhuma outra operacdo literdria, se virtualiza a no¢do
de mimese, n4o como teoria da copia ou do reflexo salivar, mas como
produc¢do da di-ferenga no mesmo.
Examinemos 0 processo, com mais minicia:
De um lado temos, no original alem4o, o seguinte léxico-chave:
GREIS = velho;
GREIF = grifo (GREIFEN = agarrar; GRIFF = garra, unha);
GRAU = pardo, cinzento, grisalho, sombrio, triste;
GRAMLICH (GRAM = aflicio; pena, melancolia, desgosto) = rabujento,
triste, enfadado, de mau humor, melancélico;
GRIESGRAM = macambizio; notar a proximidade fénica da primeira sflaba da
palavra com o monossilabo GRIES, GRIESS = areia, saibro, cdlculo (renal);
GREULICH = horrivel;
GRABER (plur. de DAS GRAB) = sepulcros; também DER GRABER = co-
veiro, cavouqueiro;
GRIMMIG = furioso, irado, zagado, terrfvel.
Em portugués, a reconstituiggo da ambiéncia fono-semintica se
fez A base da seguinte série vocabular: .
GRIS
GRISALHO
GRIFO
183
“GRAVE
i, GRALHA: 3;
",, GRASSO = que vem do lat. crassus e convoca os semas de “gordura” e “peso”
(lerdo, pesado, crasso);
GROSSO = grave, espesso;
GRES. = areia dura (lembre-se GRIES, contagiando GRIESGRAM, acima).
A recriagfo, porém, ndo parou af: GIZ, na tradugdo, compensa fonica-
mente, rimando com GRIS, a particula de reforgo aprobatério (GERN
=.de bom grado) que ocorre no original com efeito aliterativo (o fonema
oclusivo /g/ se apresenta como uma chiante palatalizada /j/ em GIZ).
Note-se a reiteragdo fénica em ninGUEm e aGRada, respondendo a
klinGt e ursprunG. GRITO e GARRA substituem, numa daplice alegoria
fono-semantica, 0 GREI que brasona o “nom de guerre” do agarrante
GRIFO (sem esquecer que “Tem GaRRa e GRito” busca redesenhar 0
sintagma “Gefallt das GRei”, com o ITO da segunda palavra rimando
ainda com TiTul0...). Por outro lado, nfo se perdeu o jogo entre
STIMMIG (afinado, coricorde) e VERSTIMMEN (desafinar), que realiza
no texto, com agudeza “maneirista”, a irénica teoria etimolégica do
GRIFO (este ayoengo do semanticista HUMPTY-DUMPTY, de Lewis
Carroll. ..), enquanto concordia discors: ou, mais exatamente, harmonia
e reconciliagfo profunda do. aparentemente desacorde, cuja evidéncia,
qual memoria fonica da “lingua pura”, “‘adamica”, nos desconcerta. . .
Vejamos, agora, como se comportam diante do mesmo texto-amos-
tra as tradugdes comuns, “naturais”, destituidas de um projeto estético
radical. Estas so, geralmente, de dois tipos: ou se trata de tradug6es
simplesmente mediadoras, que outra coisa nfo visam senfo 4 Util tarefa
de auxiliar a leitura do original, como uma espécie de diciondrio portétil
ou léxico arrazoado ad hoc; ou se trata de tradugdes medianas, que pro-
curam intermediar de maneira média (como dizia Maiakévski de certa
critica), guardando da aspiracdo estética apenas as marcas externas de
um dado esforgo de versificagao (a medida métrica) e de um deliberado
empenho rimico (a rima terminal, consoante). A morigeragao da inter-
vencfo estética e a identificagdo ingénua entre a complexa e sutil dina-
mica da fun¢do poética, em sua multiplicidade configuradora, e os aspectos
mais Obvios e mais exteriores do exercicio desta (a métrica e o rimério),
levam ao obscurecimento da intrincada teia de som e sentido que per-
corre o texto como um todo, qual disseminado jogo paronomistico, s6
acessivel 4 leitura partitural propria da tradugdo radicalmente criativa.
Assim, nfo raro, 0 empenho estético mediano, morigerado, apesar de
suas inegiveis boas intengdes, redunda em Kitsch involuntério, seja pela
imperita selegao dos paradigmas lexicais, seja pela trivialidade das rimas
(obtidas, freqiientemente, pelo pingamento de palavras em “estado de
dicionario”, ou. por um dificultoso contorcionismo sintdtico, que acusa
© “versejador de domingo”). De qualquer modo, se o poeta-tradutor,
184
em seu estoque mobiliz4vel de formas significantes, ndo estiver ao nivel
curricular da melhor e mais avangada poesia do seu tempo, nfo poderd
reconfigurar, sincrono-diacronicamente, a melhor poesia do passado.
ContribuigSes. meritérias nesse campo, avalidveis positivamente como
obras de aturado labor, devogdo, erudic¢fo e paciéncia, nfo podem elidir
essa questo fundamental, que diz respeito a metafisica do traduzir:
a “diferenca ontologica”, por assim falar, que aparta, categorialmente,
toda tradugdo-mediagdo (embora sob paramentos extrinsecamente “esté-
ticos”) e a operagfo radical de tradugdo que designo por transcriagio.
‘\ Nas Obras Completas de Goethe, tomo III (Madrid, Aguilar, 1951),
a fala do Grifo aparece assim:
GRIFO. — (Chirriando) iNada de ancianos! iGrifos! A nadie le hace gracia -
que lo Mamen anciano. En cada palabra traslicese el origen de donde pro-
cede; gris, canoso, caduco, sepulcros, feo, que suenam etimologicamente lo
mismo, no resultan gratos a nuestros ofdos.
MEFISTOFELES. — Y, sin embargo, para no divagar, lo de Grei no desagrada
en el t{tulo honroso de grifos.
Rafael Cansinos-Assens, 0 erudito judeu sevilhano, a quem devemos essa
imponente e ingente obra de transladagdo para o espanhol dos textos
goethianos, digna, como tal, do maior respeito e dos melhores créditos,
nfo se propos um escopo criativo em sua versio do Fausto (apesar de
ser um intelectual atualizadissimo, amigo e mestre de poetas de van-
guarda como Huidobro e Borges). Podemos ver, no exemplo, que a tra-
dugdo 6 feita em prosa cursiva e que as dificuldades sf0 contornadas por
notas (uma delas elucida: “‘Anciano, Greise; grifo, Greif; outra assinala:
“Todas esas palabras muestran cierta aliteracién en alem4n: grau, grdm-
lich, griesgram, greulich, Griber, grimmig...”). No texto resultante, um
trago residual, mnémico, aponta para a auséncia da operacdo transcria-
dora: a aliteragdo apenas esbogada, entre CAnoso ¢ CAduco, a quase-
-rima cadUCO/sepULCro... E mais ainda, como flamula “non-sense”
dessa ‘auséncia, aquele GREI (“lo de Grei”) que, nfo se sabe bem por
que, sobrou do GREI de GREIF e ficou solto, sem lugar, no titulo de
GRIFO, apesar do movimento aliterativo que se produz quase sublimi-
narmente — embARGo/divaGAR/desaGRAda/GRifo — e que est4 como
que a exigir do tradutor, que nfo se parece dar conta disso, uma outra
“tesolugao”, no sentido musical do termo; imaginar GREY (conjunto
de individuos, rebanho) semantizando GREI, nao contribui para atenuar
a sensacdo de jogo malogrado. . .
Alexandre Arnoux e R. Biemel (Goethe, Faust, Paris, Albin Michel,
1947) conseguiram melhor desempenho no par Grisons/Griffons ena
recunhagem da linha aliterante, embora a transposi¢Zo em prosa faga eco-
nomia de outros importantes elementos configuradores do texto (entre
os quais a paronomfsia — a rigor parequese — entre stimmig/Verstimmen):
185
UN GRIFFON (ronchonnant)
Grisons, nous! Non, Griffons! Personne n’aime s’entendre nommer grison.
Chaque mot garde le son de son origine, od il se définit. Gris, grigou, grinchu,
grippe, grief, grimaud, tout cela a comme une parenté étymologique et nous
froisse.
MEPHISTOPHELES Lo
Permettez... Pour en revenir 4 la question, le gri ne déplaft pas dans le titre
@honneur de Griffon.
Em portugués, temos duas tradugdes integrais do Fausto: a primeira,
pioneira, de Agostinho D’Ornellas, apareceu em dois volumes, respecti-
vamente em 1867 (Fausto, 12 Parte) e em 1873 (Fausto, 23 Parte).
Cito-a pela reimpressfo de Paulo Quintela (Coimbra, Atlintida, 1958).
Eis a fala do Grifo: .
GRIFO (rosnando). Nao so velhos, so Grifos! — Ninguém gosta
De ouvir chamar-se velho. Cada termo
Da origem donde vem tira o sentido:
Velho, vildo, velhaco, vil, velhote,
Sons na etimologia quase andlogos,
Desagradam-nos muito.
MEFISTOFELES. Todavia, ‘ ,
Para ndo divagar, direi que “garras”
A idéia traz o tftulo de Grifo.
Paulo Quintela, ao republicar, com cuidado e aprego, o fruto do devotado
labor de Ornellas, nfo deixou de fazer-lhe restrigdes quanto ao “aspecto
literério e poético”, pois nado pode furtar-se a vislumbrar na obra “certo
tom arrastado, perro e contrafeito, esforgado em todos os sentidos do
adjetivo, de dentes cerrados e misculos tensos, que de certo modo a
macula”. No que se refere ao texto que tomei como exemplo, vé-se que
Ornellas. percebeu o problema, sem ter no entanto condicées de resol-
vé-lo de maneira cabal. Velho/Grifo nfo da conta do jogo fénico do
original, embora o tradutor tenha procurado restabelecer a cadeia alite-
tativa do texto goethiano, fulcrando-a em torno de “velho”. Nada restou
da parequese. O tradutor tentou instaurar uma relacao de afinidade entre
“garras” e “Grifo” e ficou desse empenho, nfo levado as Giltimas conse-
qiiéncias, um resquicio disperso em ‘“desaGRAdam-nos” e “divaGAR”.
Nas notas do volume, Ornellas deixou registrado: “Para quem entende
por tradugdo- a reproducfo fiel e escrupulosa do original, é dificil.esta
passagem da noite classica de Walpurgis. Mefist6feles, estranho entre as
criagdes da Mitologia grega, confunde Greifen, grifos, com Greisen,
velhos. Aqueles repelem o equivoco, aludindo ao mesmo tempo as con-
fus6es de palavras s6 semelhantes no som, em que,.ao dar os primeiros
¢ mal seguros passos, tantas vezes caiu a nascente ciéncia da linguagem.
A série do original ¢: Grau, gramlich, griesgram, graulich, Graber, grimmig.
Sendo impossivel traduzir as palavras, conservando a intencfo do autor,
186
traduzi a idéia por uma série de palavras, que tendo aparentemente o
mesmo radical, como as alemas, sfo contudo, também como elas, de
diversa procedéncia etimoldgica.” Omellas chegou a entrever, pode-se
dizer, a hip6tese .de trabalho produtiva, quando pensou em traduzir nfo
as palavras, mas “a idéia por uma série de palavras”, para assim conservar
“a intengfo do autor”; faltaram-lhe porém meios poéticos e rasgo arte-
sanal para levé-la integralmente a pratica. .
No Fausto brasileiro de Jenny Klabin Segall, empresa igualmente
respeitével e merit6ria, cuja primeira parte saiu em 1943 e da qual a
Editora Martins deu uma publicacfo integral, em dois volumes, em 1970,
a passage do Grifo foi assim reconstituida:
GRIFO
(rosnando)
Grilos, nio! Grifos! — ninguém quer que o chamem
De velho e Grilo! inda que em todo termo tina
O som de base de que se origina,
Grileira, grima, grife, gris, sangria,
Ha concordancia de etimologia,
Mas soam mal pra nés.
MEFISTOFELES __
Sons nfo tarifo, *
Mas vale o grif no honroso titulo de Grifo.
A tradutora procurou enfrentar o. problema nos seus varios niveis. Orellas
excluiu a dificuldade da rima (que ocorre no original), impondo-se apenas
a baliza da métrica (decassildbica). Segall preocupou-se com a métrica
e a rima, tentando ademais replicar ao contraste inicial de vocdbulos com
© jogo entre Grilo e Grifo. Infelizmente, a escolha da primeira palavra
nfo resulta eficaz semanticamente, deixando esvair a ironia autoparédica
do texto goethiano. A série aliterante peca ainda quanto a pertinéncia
sémica (de “grilo”, passou-se a “grileira”, que é a parte da armadilha para
cagar passaros onde se prende um grilo, vocdbulo que nfo agrega nada a
ambiéncia pesada e sombria que a fonia aqui seria chamada a criar), além
de envolver rebuscamentos desnecess4rios (grima, termo desusado,
para antipatia, raiva, faria, pavor; grife, como no francés griffe, ou ainda
grifa, para unha adunca); sangria também nfo parece uma escolha muito
feliz, tendo sido antes chamada 4 cena para rimar com etimologia. A rima
tarifo/Grifo soa forcada, embora tenha o escopo adequado, em linha de
princfpio, de preparar a integrag4o final da silaba grif em Grifo e seja
recuperada mais adiante, nos dois tltimos versos da estrofe seguinte, ao
projetar-se em grifa;
Que a grifa agarre virgens, ouro e trono,
Quem a usa, da fortuna obtém o abono.
187
(versos .cuja..fluéncia fica, porém, prejudicada, pelo esforgo.de inverséo
sintatica exigido pela rima de abono com trono).
Assim .como ‘a inconicidade, na teoria de Peirce, é uma quest&o de
grau;. também a consciéncia transcriadora pode’ incidir, em graus diversos,
numa praética do traduzir nfo regulada por essa idéia radical. O. impor-
tante serd, em cada caso, rastrear o despontar ainda indeciso. dessa cons-
ciéncia (que é.0 reconhecimento da pr6pria tradug4o como forma espe-
cifica), mesmo quando nfo reverta, no caso considerado, ém éxito esté-
tico, em termos de avaliacfo de resultado. Neste plano se coloca uma
possivel diddtica da traducgdo.
Dir-se-4 que a escolha da “fala do Grifo”, como instancia paradig-
mal para uma reflexfo sobre os problemas da traducfo no Fausto de
Goethe, é uma escolha sectéria. Que essa fala “logogrifica”, momento de
concentragfo irénica do poetar goethiano, nfo é representativa do todo
dessa poesia, onde a funcdo poética e seu contraparte “vicioso” — a fun--
¢fo metalingiifstica, raramente se apresentam assim, em estado, pode-se
dizer, quimicamente puro, mas antes, de preferéncia, se aliam a outras
fungdes mais discursivas da linguagem (e desde logo a referencial, comu-
nicativo-cognoscitiva). Que essa escolha “perversa” s6 foi possivel por
que aquele que a levou a termo passou antes pela experiéncia aliciadora
de traduzir a poesia alem4 de vanguarda (de Morgenstern, Holz e Stramm
a Gomringer e Heissenbuettel), e est4 agora, num movimento tatico de
retorno, relendo o.passado em modo sincrdnico e com ganas de reatuali-
z4-lo,. repristiné-lo, de fazer — pessoanamente — do outrora, agora. De
certo modo, isso é inevitavel, pois se a tradugdo 6 uma leitura da tradic¢do,
s6 aquela ingénua e nfo critica — que se confine ao museolégico (que
se faca tributdria do que Nietzsche chama “historia antiquarial”), recu-
sar-se-4 ao “salto tigrino” (W. Benjamin) do sincrénico sobre o diacrénico.
Por outro lado, se a tradugo de poesia (ou, numa palavra, a “trans-
criagfo”) visa, no conceito benjaminiano,, a “exprimir a relagéo intima
e:reciproca entre as linguas” (a desocultar-lhes — diria eu —, sob a cor
de. “afinidade eletiva”, sua forma semidtica.mais essencial), e se o seu
Darstellungmodus, nessa operaco translaticia, s6. pode ocorrer mediante
uma atualizacdo “embriénica” (Keimhaft) e “intensiva” (intensiv), entfio
nada mais coerente do que representar 0 modus operandi dessa forma
chamada tradug4o, miniaturando-o, modelarmente.
E aqui, mais uma vez, nos socorre Goethe, nfo por acaso citado
por W. Benjamin em epigrafe ao “Prélogo Epistemocritico” (Erkenntnis-
kritische Vorrede) do Ursprung. Trata-se de uma passagem da Farbenlehre,
188
na qual o poeta afirma “a necessidade de pensar a ciéncia como uma arte,
se dela quisermos esperar alguma espécie de totalidade”; pois esta, nds
ndo a encontraremos no “geral” e no “superabundante”, mas, “assim
como a arte est4 sempre integralmente representada em cada obra indi-
vidual, também’ a ciéncia se deveria revelar em cada objeto singular
tratado”.
O miniatural, o monadolégico, s4o “operadores” extremamente
fecundos para o pensamento de W. Benjamin, como lhe s4o congeniais
© estilo aforistico, a expressfo gnémica, e a técnica de mosaico. No
mesmo ‘“Prélogo” lé-se: “A relag#o entre a elabora¢fo microlégica e a
proporgo do todo figurativo e intelectual pde-a manifesto que 0 con-
tetido-de-verdade (Wahrheitsgehalt) somente se deixa apanhar por meio
de um mergulho extremamente preciso nas minimas particularidades de
um assunto (Sachgehalt, estado-de-coisas).” E mais adiante, com refe-
réncia a Leibniz: “Do ponto de vista de uma tal empresa de penetracdo,
nfo causa. espécie que o pensador da monadologia tenha sido também
0 fundador do célculo infinitesimal. A idéia é monada — isto significa,
em resumo: cada idéia contém a imagem do mundo..Seu escopo represen-
tativo 6 nada menos do que desenhar, de maneira abreviada, essa ima-
gem do mundo.”
Considere-se pois esta reflexdo sobre como traduzir (“transcriar”)
a “fala do Grifo” uma virtual “metdfora epistemolégica” (Eco), capaz
de nos elucidar sobre o problema da traduc4o em geral e aquele, em espe-
cial, da recriagfo do Fausto de Goethe. Como Benjamin, em agosto de
1927, conduziu Gershom Scholem ao Museu de Cluny, para mostrar-lhe,
extasiado, um texto ritual hebraico inscrito em dois graos de trigo, assim
também o tradutor-recriador poder divisar a fabrica geral da poética
de Goethe espelhada nesse texto-ménada: Aleph borgiano, que lhe per-
mite descortinar o universo pelo olho de uma agulha. . .
Aquilo que aqui se encontra em concentrac4o, em outros momen-
tos do poema de Goethe se achar4, via de regra, em dispersdo: como se
a compactura monadolégica tivesse, por seu turno, explodido meteoriti-
camente, deixando incrustados a espacos, com intermiténcia estratégica,
fragmentos, detritos, esquirolas, que, feito siglas e algoritmos, sustentam,
como parcelas imantadas ou pontos constelares, o desenho geral dessa
poética. A tarefa do tradutor-transcriador 6 reconhecé-los com sua mirada
aléfica e, por través deles, redesenhar a forma semi6tica dispersa, disse-
minando-a, por sua vez, no espaco de sua propria lingua.
Agora, a pritica: novos indices do fazer. Como 4 visada aléfica cor-
tesponde uma leitura partitural, o transcriador nfo pode contentar-se
com 0 jogo parco das rimas terminais e a compuls4o da métrica. No caso
189
das duas Cenas finais do Fausto, usei, como medida de base, o decassi-
labo, rompendo-lhe as estrituras coercitivas, sempre que me era neces-
sério para manter a sintaxe em movimento (ao invés de emperré-la em
contorg6es canhestras, para pagar o débito do metro e da rima); vali-me,
para tanto, da técnica de cortes, do agilizante enjambement; quanto ao
rimario, em lugar de aperté-lo no sapato chinés das consondncias, abri-lhe
0 leque, incorporando a asson4ncia (rima toante) e a quase-rima ou rima
imperfeita. Esse efeito de modernidade, legitima-o a intentio semidtica
mais funda do poema goethiano: como no ‘“Prélogo” benjaminiano, aqui
a historia aparece “como franja colorida de uma simultaneidade crista-
lina.”. SO nessa tratativa sincrénica se deixa restituir 0 modo de inten-
cionalidade do original, oprimido ¢ obscurecido pelo cerimonial museolé-
gico do versejar académico, ao qual se arrimam, como a um corrim4o
obsequioso, as tradugdes convencionais.
Por exemplo: na primeira fala de MefistOfeles, logo apés o “Coro
dos Lémures”, rimo subSCRITO com esp{RITO, mETODOS com
adEpTOS, nOvOS com SO (firmando na ténica /O/ e retrojetando a sibi-
Jante). A coreografia do gato que apanha o rato no ar (como o demo o
fazia com a alma prestes a escapar) é mantida por um curto-circuito sinté-
tico, que mima o giro interjetivo do original (observem: passt auf/
schnellste Maus// Schnapps!/ .. fest. . .Klauen):
Sonst mit dem letzten Atem fuhr sie aus,
Ich passt ihr auf, und, wie die schnellste Maus,
Schnapps! hielt ich sie in fest verschlossnen Klauen.
» Quando a alma, no ultimo suspiro,
Fugia, eu a pegava num regiro
De unhas, rato prestes a escapar.
(Observem: UltimU/sUspirU/fUgia// Unhas; sUspIRU/fUgla/regIRU; - as
coliteragdes em /j/ e /g/: fuGia, peGava, reGiro; as aliteragées em /r/,
Is/, Ip/ e /t/...) Comparem-se agora, atentando especialmente para o
registro da velocidade sintatica (e como esta se deixa neutralizar por pala-
vras-recheio e pelo vezo do hipérbato), as solugdes de Ornellas e¢ Segall:
ORNELLAS:
.. Em outras eras,
C’o tiltimo suspiro a alma safa,
Eu ’stava 2 espreita, e, qual ligeiro rato,
Zas! seguro nas garras a apertava.
SEGALL:
Surgia, outrora, com o supremo alento,
Vigiava-a, e, z4s! nas garras, a contento,
Qual veloz rato, a via, aprisionada.
190
A tradugio é também uma persona através da qual fala a tradi¢ao.
Nesse sentido, como a parddia, ela é também um “canto paralelo”, um
diflogo nfo apenas com a voz do original, mas com outras vozes textuais.
Assim, ela se deixa derivar no movimento plagiotrépico geral da litera-
tura, de que falei no ensaio inicial, e que tanto afina com a idéia que tinha
Goethe da apropriacgdo, pelo poeta, do patriménio literdrio extante. O
nosso Odorico Mendes, “‘pai rococé” (Sousandrade) e patriarca da tra-
dug4o criativa, interpolava, quando lhe parecia bem, em suas tradugdes
homéricas, versos de Cam6es, Francisco Manoel de Melo, Antonio Fer-
reira, Filinto Elisio. Na recriagfo do “Céro dos Lémures” (Grablegung/
Enterramento), usei deliberadamente de uma dic¢do cabralina, haurida
no auto Vida e Morte Severina:
(.. .DOIS HOMENS CARREGANDO UM DEFUNTO NUMA REDE. . .)
— A quem estais carregando,
irmfos das almas,
embruthado nesta rede?
dizei que eu saiba.
- Aum defunto de nada,
inmfo das almas,
que hé muitas horas viaja
a sua morada,
G.)
— Bem que poderd ajudar,
irmfo das almas,
é irmfo das almas quem ouve
nossa chamada.
— Eum de nés pode voltar,
irmdo das almas,
pode voltar daqui mesmo
para sua casa.
(..)
— Mais sorte tem o defunto,
irmao das almas,
pois j4 nfo fara na volta
a
la.
G.)
— Partamos enquanto é noite,
irma@o das almas,
que é o melhor lencol.dos mortos
noite fechada.
No texto de Jo#o Cabral .a rima.é toante.e a-métrica alterna a redondilha
maior. (metro de preferéncia popular, como adverte Manuel Bandeira)
com um verso de. quatro sflabas, que ora apdia o sintagma vocativo, ora
fecha o segmento dialogal. No Enterramento, vali-me de um decassilabo
que se deixa prosodicamente dividir em hemistiquios (duas redondilhas
menores, ou, ent¥o, uma redondilha menor e um verso de 4 silabas), pon-
tuando essa escancfo, para maior realce, com rimas internas, toantes
191
sA/pA; nEgro/bEm; mEsA/cadEirA; no sexto verso, mobflIA rima
ea e emprestAdA com pAgA no sétimo); as rimas terminais
fo. toantes (a excegfo de mesquINHO/IINHO, consoante). O efeito de
“toada”, em que os hemistiquios de certo modo respondem um ao
outro, como partes de um contraponto frisico, nfo deixa de evocar o
modelo do auto cabralino, que é também um canto finebre, em grande
parte do seu andamento (lembre-se o passo: “Essa cova em que estas,/
com palmos medida,/ é a conta menor/ que tiraste em vida”), antes de
resolver-se em alvissaras natalinas. Assim:
LEMURE (solo):
Quem fez esta casayespacgo mesquinho,
A golpes de pé e de escavadeira?
LEMURES (coro):
Héspede negro, vestido de linho,
Estas muito bem nesta casa estreita.
LEMURE (solo):
Ninguém pés a mesa na sala fria,
Nenhuma cadeira na sala magra.
LEMURES (coro):
Mobflia emprestada, venceu a divida.
Chegam os credores, quem é que paga?
Ser4 interessante referir aqui que meu procedimento, neste ponto, é
absolutamente goethiano: o poeta do Fausto, no canto dos Lémures,
deixa“passar ecos da cangdo dos coveiros, do V Ato do Hamlet de
Shakespeare:
A pick-axe, and a spade, a spade,
For and a shrouding-sheet:
O, a pit of clay for to be made
For such a guest is meet.
A tradugdo, aqui, labora em palimpsesto*.
Apés o “‘Céro dos Lémures” e a primeira fala de Mefist6feles, o
texto assume aspectgs grotescos, “carnavalizados”, com a convocago
da tropa demoniaca por Mefisto e as exortag6es e impropérios deste a
seus subordinados e aos adversdrios (a milicia celeste). O problema de
configuragdo da mensagem estética j4 se coloca no nivel das prdéprias
Tubricas de cena. Goethe, valendo-se das propensdes do alemfo, cria
expressivas palavras compostas, verdadeiros fonogramas gestuais, cari-
caturas fonicas, Justus Georg Schottel ou Schottelius, em seu estudo da
*- Em passagem anterior do “Céro dos Lémures”, Goethe j4 havia enxer-
tado outros versos dos coveiros hamletianos. $6 que, em lugar de se valer da versio
shakespeariana (que por sua vez reelaborava uma tradig&o oral mais antiga), o autor
do Fausto serviu-sé de ‘uma variante, recolhida pelo Bispo Thomas Percy em suas
Reliques of Ancient English Poetry (1765). Plagiotropia. . .
192
lingua alema de 1663, considerado a “surmma philologica do Barroco”,
faz o elogio das palavras compostas, cuja cOpia era, segundo ele, um sinal
de exceléncia do idioma alemdo, pelo cond#o que tém essas palavras de
“evocar os movimentos da natureza, as mudancas que afetam © ser
humano, — de pintar tudo, representar tudo, exprimir tudo, enfim, de
fazer com que fale através de nés o mistério mais intimo da lingua” (cf.
Poétes baroques allemands, antologia organizada e apresentada por Marc
Petit, Paris, Maspero, 1977). Detive-me, em meu ensaio inicial, nos tragos
barroquistas do IJ Fausto, e, em especial, no car4ter destas duas cenas
finais,.que remontam 4 tradig4o dos autos medievais e do teatro sacro
barroco (alids, segundo assinala uma ‘nota da edi¢fo Goldmann Klassiker,
a indicagdo cénica do escancarar-se da “horrenda goela infernal” é uma
explicita reminiscéncia dessa tradi¢do). Ndo poderia deixar, portanto,
de reconfigurar em portugués as aglutinagdes neolégicas de Goethe.
Tinha a meu favor, nesse sentido, uma pratica literaria que vem de
Filinto Elisio e Odorico Mendes até Sousdndrade (este tiltimo, inclusive,
diretamente influenciado, nas segdes infernais — “Tatuturema” e “O
Inferno de Wall Street”, do Guesa, onde ocorrem muitas de suas mais
surpreendentes composigdes vocabulares, pelos episédios goethianos das
“Noites de Walpurgis” romantica e classica). Um exercicio precedente,
levado a cabo com Augusto de Campos, a tradugdo da ‘“Marinha Bar-
roca” (Barocke Marine) do bizarro e ~pré-expressionista Phantasus de
Arno Holz (cf. “De Holz a Sousandrade”, Suplemento Literfrio de O
Estado de S. Paulo, 17.11.1962), levou-me a recunhagem das. palavras
compostas de Goethe, sempre que o procedimento me pareceu estetica-
mente rent4vel em minha transcriag¢do. Exemplos:
Phantastisch-flagelmannische Beschworungsgebarden.
Conjurogesticulante como um fantésmeo cabega-de-tropa.
Zu den Dickteufeln vom kurzen, graden Horne.
Aos diabigordos, de chifre curto e grosso.
Zu den Dirrteufeln vom langen, krammen Horne.
Aos diabimagros, de chifre longo ¢ torto.
Comparem-se, com os resultados assim obtidos (aos quais nfo faltou a
mantenga do paralelismo sintagm4tico nos dois tltimos exemplos cita-
dos), as vers6es mais convenciohais:
ORNELLAS:
Gestos fantasticos de esconjuro maneira dos serrafilas.
Aos diabos bojudos de ponta curta e grossa.
Aos diabos magros de ponta comprida e curva,
SEGALL:
Fantfsticos gestos giratérios de exorcismo.
Dirigindo-se aos dem@nios rechonchudos, de chifres retos e curtos.
Para os deménios de chifres longos e recurvados.
193
Outras reconfiguragdes, que visam a captar o vigor do “croquis” fono-
-semantico do original:
Von altem Teufelsschrot und -korne
Da velhae revelha cepa do Cujo
(ORNELLAS: “Senhores de infernal, antiga témpera”; SEGALL: “Senho-
res, vos, do real, diabélico feitio”.)
Eckzahne klaffen; dem Gewolb des Schlundes
Eniquillt der Feuerstrom in Wut,
Und in dem Siedequaln des Hintergrundes
Seh ich die Flammenstadt in ewiger Glut.
Aqui,. nesta pintura cénica da “horrenda goela infernal” (evocada por
Goethe com tintas dantescas e miltonianas), além do desenho aliterante,
inventei um neologismo verbal (flamirrompe/ irrompe em flamas, a
maneira do sousandradino florchameja), para compensar e recuperar, por
esse “efeito de choque” em relag&o aos haébitos de nossa lingua, a proli-
feragdo dos compésitos no texto alemdo (Feuerstrom, Siedequalm,
Hintergrund, Flammenstadt), favorecidos pela indole desse idioma. Com
isto, cumpro o preceito de Rudolph Pannwitz, formulado em Krisis der
europdischen Kultur (1917), tao valorizado a seguir por W. Benjamin,
no seu ensaio de 1923 sobre a “tarefa do tradutor”, que venho citando:
o invés de aportuguesar o alemfo, germanizo o portugués, deliberada-
mente, para o fim de. alargar-lhe as virtualidades criativas Aobeerie-et, sin ainda,
que flamIRRompe entra num acorde fénico, em que ressoam fURIa/
pURpUREa/URbe). Confira-se:
Maxilas hiantes! O fogo em firia
Flamirrompe da abébada da gorja.
No mais fundo da fumaca purpirea
A Urbe em chamas, qual eterna tocha.
Comparem-se, a seguir, as tradug6es de Ornellas e de Segall:
ORNELLAS:
A dentuga roaz se lhe escancara;
+ Da abédbada do bératro rebenta
De vivas chamas rabida corrente,
E no ardente fundo 14 descubro,
Em fogo eterno, a hirida cidade.
SEGALL:
A fauce se abre, enorme, € da abismal papal,
Vejo jorrar caudais de fogo em firia,
E no fundo, entre a brasa e o fumo que alevanta,
A urbe ignea em perenal conflagrag4o purpurea.
194
Agora, este pictograma aliterante, cinético, da maré incendiada, que sobe
até bater nos dentes da “enorme hiena” infernal:
Die rote Brandung schlagt hervor bis and die Zahne
Ressaca rubra rebate nos dentes.
~ Em Ornellas:
‘TE os dentes vem a ribida ardentia.
Em Segall:
Sobe, até a beira, a maré rubra, acesa.
Note-se que, nos exemplos confrontados, a aplicagdo aliterativa de
Ornellas é mais conseqiiente que a-de Segall, embora a ambos prejudi-
que © arrevesamento inttil do hipérbato, de finalidade apenas métrica
ou rimica,
Os compésitos ajudam-a:avivar em portugués as caricaturas bufas
dos legiondrios de Mefisto, que ficam assim esculpidos em palavras, como
gargulas ou mostrengos na arquitetura g6tica:
Nun, wanstige Schuften mit den Feuerbacken!
Thr glitht so recht vom Hollenschwefel feist;
Klotzartige, kurze, nie bewegte Nacken!
© rubicundos, rubibochechudos
Patifes, que o enxofre do inferno aquece!
Pescocicurtos, macigos, parrudos. . .
Neste caso, o que esté latente no original, por mais conforme a expec-
tativa da lingua, € como que exponenciado na tradugfo. As solug6es mais
convencionais serfo sempre, necessariamente, mais analiticas e explica-
tivas:
ORNELLAS:
Vés, 6 pancas de rosto afogueado,
Que to gordos luzis, fartos de enxofre,
Colos grossos, iméveis, quais madeiros!
SEGALL:
Eh vés, das pangas de barril, ventas purpireas!
Biltres dos r{gidos, macigos colos nus!
Que ardeis em pez oleoso’e exalacGes sulfiireas.
Um efeito “microlégico”, verdadeira célula fono-rftmico-seman-
tica, que passa completamente despercebido as tradugdes medianeiras,
& o que se trama no verso:
195
!
b Sie helten’s doch far Lug tend Trug und Troum.
LUG/TRUG/TRaUm, . ~Reaiiaks tnacecaligaenpts
Pensam que tudo logro, jogo, sonho.
Qu: 10GrUfOGU/sOnhU (trés ‘dissilabos toantes, preparados por um .
outro, préximo, tUdU, que replica posicionalmente a FUR). Em Omellas
e Segall, nem resquicio:
!
ORNELLAS: -
Julgam que sois mentira, ilusZo, sonho.
SEGALL:
; Pois julgam que ¢ ilusfo, tfo s6, mentira e sonho.
Sutis. apelos fonicos desse tipo disseminam-se ao longo do texto goethia-
no, Como nervuraé que enfibram seu tecido:
+» Ste kommen gleisnerich, die Laffen'
KOMMEN/LAFFEN. .. Traduzo, paronomasticamente:
Vem de manso, os palermas, sem alarma.
(Em Ornelas: “Vém com ar disfargado, os peralvilhos!”; em Segall: “De
manso vém, beat6es!. . .””). Outro exemplo:
Was duckt und zuckt ihr? ist das Hollenbrauch?
Traduzo: ..
Que tremor! Que temor! Nao sfo do Demo
Estes modos!. . .
DUCKT/ZUCKT... TREMOR/TEMOR (DEMO.. ./uckt/uckt... auch).
ORNELLAS:
Por que tremeis ¢ vos curvais? E uso
Isso no inferno?
SEGALL:
Recuais? estremeceis? do inferno isso € uso, ent&o?
Ou ainda: :
An seinen Platz ein jeder Gauch!
PLATZ/GAUCH. - - Traduzo:
E vés, a postos! Firmes! Estafermos!
196
FIRMES/EStaFERMOS. . .
ORNELLAS:
.- No seu posto
Cada fantasmal. . .
SEGALL:
Cada um a postos! sem hesitagdo!
Um dos mais notdveis achados do texto goethiano é a dicg4o mali-
ciosa, irénico-erdtica, das alusOes “perversas” do Demo senil aos andré-
ginos adversarios angelicais. Assim:
Es: ist das biibisch-madchenhafte Gestiimper
Trino meloso de mogo-donzela.
Joguei com o sintagma lexicalizado “‘moga-donzela” (que lembra um
pouco © populdrio nordestino), introduzindo nele, com o masculino
“mogo”, um desejado “efeito de estranhamento”. Nas vers6es conven-
cionais, a sutileza do matiz se perde, ou engrossando sem necessidade:
ORNELLAS:
Os tais abortos sfo hermafroditas,
ou diluindo-se, neutralizadamente:
SEGALL:
Medfocre fungdo, digna de adolescentes.
Outro momento, em. que tudo decorre da ambiéncia fono-seméntica,
pontuada, estrategicamente, por uma. sugestiva palavra composta
(Schmeichelglut): :
Die Kraft erlischt, dahin ist aller Mut!
. Die Teufel wittern fremde Schmeichelglut.
Temos: kraFT/TeuFel; tEUfEL/schmEIchEL... Na transcriagfo, obtive:
Mas falha a forga, o animo amorti¢a!
Atiga o Demo,um raro ardor-caricia. . .
Em Ornellas:
Quebra-se a forga, o 4nimo esmorece!
Do ignoto fulgor, deménios tremem.
Em Segall:
Vai-se o vigor, todo o 4nimo despejam!
Os demos 0 insinuante e estranho ardor farejam.
197
Mais adiante, em outro passo, novamente a palavra composta é a pedra-
-de-toque:
Als hatt ich euch schon tausendmal gesehn,
So heimlich-katzchenhaft begierlich;
Desde sempre parece que nos vemos,
E uma atrag&o felino-angelical!
Em Ornellas:
Jd nos tivesse visto, to aceso
Em desejo recéndito, felino.
”
Em Segall:
Como se amigos velhos fésseis ¢ bem-vindos; =
Chegais sensuais, mansinhos, como gatos. \
“Por vezes, tenho que recorrer a uma locug4o préxima do impacto
vivo da giria, para recapturar a forga do original. Assim, uso da expres-
sfo “no bafo” (que evoca 0 hilito do “‘bebum”, o “bafo de onca”), num
giro fraésico em que ela funciona como “na raga” (em “vencer na raca”),
para manter o dinamismo de:
Nun pustet, Pistriche! — Genung, genug!
Vor eurem Broden bleicht der ganze Flug.
... Avante, cospe-brasas!
Afugentai no bafo o bando de asas!
(A, idéia de “larga-brasas” também estd presente, ligeiramente modificada
pelo fato de Piistrich, de pusten = soprar, ser um {dolo arcaico da baixa
‘Alemanha, representado no ato de soprar fogo.)
Em outra passagem, fiz uma deliberada “mistranslation”, vertendo
Trépfen (Tropf = tolo) por “tropa”, e com isto mantendo 0 contato com
0. original no nivel: fonico (j4 que 0 apodo de “palermas”, “tolos”, “‘esta-
fermos”,’ para os comandados de Mefisto, deixa-se recuperar em mais
de um ponto no texto, suprindo-se como tal). Assim:
O Fluch! o Schande solchen Tropfen!
Madigfo! Minha tropa se dispersa!
(Notar 0 apoio aliterativo em /m/ /p/e a coliteragZo /d/, /t/.)-
Finalmente, um momento de alta tensfo, a fala de Mefist6feles,
abrasado de amor, vencido pela atragdo calorosa do céu:
Mir brennt der Kopf, das Herz, die Leber brennt
. Ein aberteuflisch Element!
198
Queima-me a testa, o coragdo, o figado
Um elemento sobredemontfaco!
Aqui, na reconfiguragdo em portugués, tudo dependeu do corte estra-
tégico que deixou em suspenso a palavra flgAdO e permitiu a rima toante
com o surpreendente composto sobredemonfAcO, relevante inclusive
por seu comprimento (ocupa cinco sflabras métricas). Comparem-se as
solug6es de Ornellas e de Segall:
ORNELLAS:
Cabeca, coracdo, figado fervem-me!
Elemento inda mais que diabélico!
SEGALL:
A fronte me arde, 0 peito, 0 corpo em fogo cruento,
Um supra-demonfaco elemento!
Este exemplario parece-me suficiente para indicar os problemas de
tecriagfo dos aspectos grotescos ¢ irdnico-satiricos da dicgdo goethiana,
na sua dimensfo “satanica” (como hd, no Inferno de Dante, um registro
ou tonus “pedregoso”,. que remonta as Rime Petrose do autor da
Commedia). Nas cenas finais do Fausto, esta elocugdo demoniaca entra
em deliberado contraste com a “superpoesia” dos Coros Angélicos e com
o tom de exaltagéo mistica e absor¢o contemplativa dos anacoretas e
. doutores da igreja que intervém a seguir, acompanhando a elevacfo as
alturas do “eidos” imortal do pactério redimido. A respeito dessa diccfo
“contrastiva”, que poderiamos chamar “‘celestial”, escreve Charles E.
Passage, em nota 4 Cena do “Enterramento”, por ele traduzida (Faust,
I & II, Indianapolis/N. York, The Library of Liberal Arts, Bobbs-Merrill
Co., 1965): “Todos os coros angélicos desta cena sdo elipticos até o
ponto da incompreensibilidade. Ndo é seu escopo a transparéncia verbal;
antes, eles se aproximam da qualidade do arrebatamento musical, claro
ao cora¢do, nfo 4 mente.” Henri Lichtenberger (Le Second Faust, Paris,
Aubier/Montaigne, s/data) tem opiniao semelhante: “Os coros de anjos
desenvolvem-se numa espécie de melopéia de ritmio dactilico, cujo sen-
tido é, por vezes, dificil de precisar.” J4 referi que Alexandre Arnoux,
também tradutor do // Fausto, viu, nas estrofes dos anjos .semeadores
de rosas, “a cintilagdo, a pureza diamantina, que, por anacronismo, seria
preciso denominar mallarmeanas”. (Essas estrofes, diga-se de passagem,
parecem inspiradas num momento jé “paradisfaco” da dicc4o dantesca:
os anjos que desparzem lirios, cantando louvores em latim e revoando
em tomo de Beatriz, quando esta aparecé no cortejo do Canto XXX do
Purgatério). De minha parte, antes do que Mallarmé, vislumbro nessas
fiorituras angélicas do velho Goethe como que um pré-violino verlainiano,
capaz de embevecer os sentidos em raptos sonoros e cadéncias sinestésicas.
Para evitar, de uma parte, a banalidade do hindrio, e, de outra, os exces-
sos de melifluéncia, perigos a vista, a operacdo tradutora ndo poderia deixar
199
passar o trago irénico, de malabarismo artesanal, com que o poeta do
Fausto desenha esses arabescos celestiais, entremeando-os, desde logo,
a sua primeira dicgado “‘satanica”. Palavras compostas (““celialiados”,
“tosiodorantes”, “‘celivoldteis”), replicando as que ocorrem com fre-
qiiéncia no original, ajudam a criar, no texto em portugués, a atmosfera
de “estranhamento” do senso pela sonoridade musical; por outro lado,
© recorte da rima, precisamente estudado como um intaglio, apara os
desbordamentos no limite justo, cortando rente a emoliéncia:
Rosen, ihr blendenden Rosas brilhantes,
Balsam versendendent Rosiodorantes!
Flatternde, schwebende, Celivolateis
Heimlich belebende; ~ Pétalas graceis!
Zweigleinbefligelte, Buqués alados,
Knospenentsiegelte, Entrefechados
Eilet zu blihn. Bot6es de cor.
Desabrochados,
Frithling entspriesse, z
Purpur und Grin; Desponte a flor.
Tragt Paradiese O Primavera,
Dem Ruhenden hin. Vem sem espera!
Primfcias d’fris,
Pirpurae viride! -
O Parafso,
Leva ao jazigo.
A fim de manter a delicadeza e a precisao do volteio goethiano, desdobrei,
para efeito r{tmico e rfmico, alguns versos do original (Zweigleinbeflii-
gelte/Knospenentsiegelte), assim como introduzi uma variante fono-seman-
tica em torno de “Primavera” (“Primicias d’iris”), justificada ainda por
uma reminiscéncia da “Regio Aprazivel” (Anmutige Gegend), do_ ini-
cio do Primeiro Ato deste JJ Fausto, onde ocorre uma antevisdo paradi-
sfaca (Ein Paradies wird um mich her die Runde/ Em torno a mim se faz
um Parafso) e desponta a imagem irisada do reflexo espelhante (farbiger
Abglanz): Sousindrade, ‘Vises d’iris” (Dante, “come iri da iri/parea
reflesso. ..”, Paradiso, XXXII). Tradugo: transtextualizagdo. Compa-
rem-se as vers6es convencionais do mesmo Coro:
ORNELLAS: SEGALL:
Rosas, fulgurando, Do alto frutuosas,
Balsamo exalando, Ritilas rosas!
Que no ar pairais, Voantes, flutuantes,
E vida excitais, Vivificantes,
Com ramos alados Semeai, alfferas,
E desabrochados Hastes frondiferas!
BotGes, florescei! Verde e purptireo,
“ Traga o murmirio
Com pispura 6 veade Do hiélito verno,
O verdo se arreie! ‘Aessa alma, 0 augtirio
De cima o erapireo Do Eden etemo.
Ao morto trazei!
200
Uma dicgfio que combina a leveza dos “sanglots longs” simbolistas
com toques da luminosidade da escrita paradisiaca de Dante (“O luce
etterna che sola in te sidi”) se propds como necesséria 4 recriagdo deste
outro coral angélico:
Blaten, die seligen,
Flores que exultam,
Flammen die frohlichen, Flamas que exaltam
Liebe verbreiten sie, Dom celestial.
Wonne bereiten sie, Dulcor se estende,
Herz wie es mag. No amor esplende,
Worte, die wahren, Coragées rende.
Aether im Klaren, Palavras, veras.
Ewig Scharen Clareza etérea.
Ueberall Tag. Legides eternas,
Dia total.
As, solugGes que Ornellas e Segall deram para o mesmo trecho podem
ser trazidas a confronto:
ORNELLAS: SEGALL:
Celestiais flores, Chamas balsfmeas,
Jucundos fulgores, Pétalas flameas,
Que amor espalhais, Béncdo influindo,
Delicias nos dais
Quais 0 peito anela.
O éter imbuindo
De auras de amor.
Verbo de verdade, Do alto a voz vera
Qual a claridade Da etérea esfera,
Da etema cidade, Na aurea hoste gera
Difunde luz bela. Brilho e luz aonde for.
A comparagfo entre o Ultimo Goethe e o tltimo Beethoven tem
ocorrido a mais de um estudioso. Arnold Hauser vé no estilo final de
ambos uma dissolucfo “maneirista” do classicismo, uma expresso que
se deixa atravessar por agudos contrastes, uma atrag4o por “formas fantas-
ticas livres e improvisadas”. Thomas Mann, como ja referi, manifesta seu
assombro reverente diante das “‘iltimas notas do Fausto”, distiladas pelo
cérebro octogendrio de Goethe, e as qualifica de “misica das esferas”.
Darei apenas mais dois exemplos do que chamarei “estilo celestial-ird-
nico” do Ultimo Goethe: um deles, a prece da penitente, agora resgatada,
Margarida, em favor de seu antigo amado, cujo “eidos” imortal Ihe vem
ao encontro; o outro, o enigmatico, emblematico fragmento final, o
“Chorus Mysticus”. Ambos estes momentos constituem-se em singulares
desafigs a.operagdo transcriadora.
UNA POENITENTIUM UNA POENITENTIUM
(sonst Gretchen gennant. (outrora chamada Margarida,
Sich anschmiegend:) achegando-se timida:)
Neige, neige, Inclina, inclina,
Du Ohnegleiche, O sem-igual,
201
Du Strahlenreiche, O luz-cristal,
Dein Antilitz gnadig meinem Glick. Sobre meu jabilo tua face que ilumina.
Der frih Geliebte, ;
Nicht mehr Getrabte, —_ outrora,
Er kommt zuriick. nara On
Retorna agora.
O texto goethiano é uma retomada, em _pauta jubilosa, da angustiada
oragio de Margarida a imagem da “Mater Dolorosa”, no Fausto I
(Zwinger). Para nossas sensibilidades p6s-expressionistas, nfo sera demais
conceber estes versos escandidos musicalmente em algo como a volatil
escalinata ‘de alturas do, Pierrot Lunaire schoenberguiano. De qualquer
modo, compostos como Ohnegleiche, Strahlenreiche, estavam a deman-
dar igual énfase nas sinteses expressivas em portugués, em lugar de bana-
lizag6es explicativas. Sousindrade, mais uma vez, ofereceu-me sugestdes.
Observem estes fragmentos da Harpa de Ouro (1889-1899) sousandradina:
Oh, borboleta-girassol!
Génio-amor! oh, luz-delirio!
Oh, tanta luz! tanto arrebol
(O riso-céus!) e o lume € 0 litio
De teus cabelos de crisol!
Dai, as minhas criag6es: “O sem-igual”/ “O luz-cristal”, ao invés de “Tu
Incomparavel/Radiante, Adoravel” (como ficou. em Ornellas; Segall foge
A dificuldade, omitindo os epitetos goethianos e substituindo-os por um
cliché: “O Mae Divina”). Por outro lado, havia que responder ao jogo
sutil de harmonicos que se tece em torno da vogal modificada (Umiaut)
/i/ no original (glUck/frUh/getrUbte/zurUck). Procurei fazé-lo através
de uma série vocdlica em /u/, que se deixa pontilhar nas palavras igUal/
1Uz/jObilo/tUa/ilUmina/desanUviado (sem contar as velarizagdes do /o/
Atono terminal). O ditongo /ei/ de nEIge, que se projeta em glEIche e
rEIche, encontra sua réplica no jogo inCLIna/CRIstaL do meu verso.
Semanticamente, nao se podia perder a conotag4o cromtica de Getriibte,
projefo, metafisica da Farbenlehre goethiana, no sentido do pecado que
‘conturba a alma como o turvo que anuvia a luz: anuviar, em port., signi-
fica “‘eclipsar, escurecer, enoitar, toldar’”’ (cf. Diciondrio dos Sindnimos,
Poético e de Epttetos de J. 1, Roquete e José da Fonseca, Paris/Lisboa,
Aillaud e Bertrand, 1848); desanuviar, por seu turo, significa ao mesmo
tempo “dissipar as nuvens” e “desassombrar, serenar” (Francisco Fernan-
des, Diciondrio de Verbos e Regimes, Porto Alegre, Globo, 1942). Nem
a solugdo de Omellas (“‘J4 nao contristado”), nem a de Segall (“Ja bem-
-fadado”), foram capazes de manter a dissemia (a segunda com a agra-
vante de optar por um rodeio interpretativo). Desdobrei 0 Er kommt
zurlick em dois versos quadrissflabos e com isto pude enriquecer a estru-
tura rimica da estrofe (amADO, desanuviADO, 1ADO; OutTRORA,
ReTORnA, AgORA), sustentando o cantabile do original. Paulo Quintela
202
es
(Goethe, Poemas, Universidade de Coimbra, 1949) tem para esta passa-
gem do II Faiisto uma verso que me parece ainda mais explicativa e delon-
gada que as de Ornellas e Segall, ambas comparativamente contidas:
QUINTELA:
Inclina, inclina,
O Incomparével, Divina,
0 Gloriosa, 6 Radiosa,
A graca desse olhar 4 minha feliz sorte!
O Amado de outrora
* Ei-lo regressa agora
Nao turbado e liberto ja das leis da morte.
ORNELLAS: SEGALL
Oh. volve! volve! Inclina, inclina,
Tu Incomparavel, 6 Mae Divina,
Radiante, Adorével,
O rosto para o meu doce exultar!
A luz que me ilumina,
O dom de teu perdfo infindo.
O outrora amado, O outrora-amado
Ja nfo contristado J4 bem-fadado,
Vejo regressar. Voltou, vem vindo.
Finalmente, a célebre visdo final do ‘“Eterno-Feminino”, invocada
¢ evocada pelo “Chorus Mysticus”:
Alles Vergangliche O perecivel
Ist nur ein Gleichnis; E apenas s{mile.
Das Unzulangliche, O imperfectivel
Hier wird’s Ereignis; Perfaz-se enfim.
Das Unbeschreibliche, O nao-dizivel
Hier ist’s getan; Culmina aqui.
Das Ewig-Weibliche OEterno-Feminino
Zieht uns hinan. Acena, céu-acima.
Em Ornellas e Segall encontramos:
ORNELLAS: SEGALL:
Tudo 0 que morte e passa Tudo o que é efémero é somente
E sfmbolo somente; Preexisténcia;
O que se nfo atinge, O Humano-Térreo-Insuficiente
Aqui temos presente; Aqui é esséncia;
O mesmo indescritivel O Transcendente-Indefinivel
Se realiza aqui; E fato aqui;
O feminino eterno O Feminil-Imperecfvel
Atrai-nos para si. Nos ala a si.
Trabalhei micrologicamente nesta estrofe terminal, que parece rema-
tar 0 poema como uma dessas “ctipolas aleg6ricas” que Walter Benjamin
estudou na emblematica barroca, onde o devir se simultanefza em ambi-
gilidade hierogrimica. Charles E, Passage, tradutor do Fausto para 0 inglés,
203
confessou-se impotente diante de suas “rirnas intrincadamente enredadas”,
que nfo conseguiu transpor sendo timidamente para a sua lingua:
All transitory
Things represent;
Inadequates here
Become event,
dneffables here,
Accomplishment;
The Eternal-Feminine
Draws us onward. &
Philip Wayne, no seu Goethe/Faust (Part Two) da série “Penguin Classics”,
nfo obteve melhor éxito, embora tenha imprimido mais fluéncia 4 sua
versdo:
All things corruptible
Are but a parable;
Earth’s insufficiency
Here finds fulfilment;
Here the ineffable
Wins life through love;
Eternal Womanhood
Leads us above.
Também nfo me parecem satisfat6rias as tentativas de Henri Lichtenberger
e Arnoux/Biemel em francés:
H. LICHTENBERGER: ARNOUX/BIEMEL:
Tout ce qui passe Le périssable
N’est que symbole; N’est que reflet;
L'mparfait Liinachevé
Ici trouve l’achévement; Ici s’achéve;
L'ineffable L'inexprimable
Ici devient acte; Se réalise;
L’Etemel-Féminin L’Eternel Féminin
Nous entraine en haut. Nous attire 1a-haut.
Pierre Garnier (Goethe, Paris, Pierre Seghers, 1960) dé-nos uma variante
‘de ambos, algo mais lograda, pelo menos quanto as rimas terminais:
Tout ce qui passe
N’est que symbole
L'Inachevé ici
S’achéve —
L'Ineffable ici
S’accomplit —
L'Eternel-Féminin
Nous attire et nous éléve.
204
Decepcionante a vers4o de Cansinos Assens (que se completa depois, sen-
tindo-se vacilar, por uma longa nota exegética):
Todo lo efimero
s{mbolo es s6lo;
es aqui un hecho
Jo inasequible;
aqui se cumple
Jo indescriptible;
Io eterno femenino siempre arriba
con potente acicate nos aguija.
Um comentador alemfo da tradug4o de Ornellas, Carl von Reinhardstoet-
tner, escrevendo em 1887, elogiou-lhe a versio do “Coro Mistico”, nos
seguintes termos (que cito através de Paulo Quintela): “Quando, por
exemplo, se criticou aqui e acol4 a excelente tradugdo de Ornellas do
coro mistico e se achou a bela interpretagao do Unbeschreibliches (“o
indescritivel’”) e do Ewig Weibliches (“‘o feminino eterno atrai-nos para
si”) algo ousada ou no suficientemente clara, nado se atentou com isto
em que estes passos também em alemfo nfo est&o dados em largueza,
€ que também nés, os naturais alemaes, temos de agradecer a compreen-
sfo mais profunda de tantos versos ao engenho dos nossos intérpretes.””
E, de fato, se a tradugdo de Ornellas na passagem nfo é radical, nem pos-
sui as exceléncias que lhe gaba o critico, sobrepuja, por sua maior con-
cisfo, 4 de Segall, que optou por injustificdveis explicagdes (glosas) filo-
s6ficas (“O Humano-Térreo-Insuficiente” por Das Unzuldngliche; “O
Transcendente-Indefinivel” por Das Unbeschreibliche), onde n&o cabe-
tia senfo a sucintez do vocdbulo justo, dentro de uma rigorosa pauta
fono-semantica. Também ‘O feminino eterno/Atrai-nos para si” (Omellas)
é visivelmente superior, do ponto de vista da fluéncia e da escolha lexical, -
a “O Feminil-Imperecivel/Nos ala a si” (Segall), que soa forgado e
rebuscado.
A uma leitura partitural, o segredo da sensagdo de cabalidade (algo
“cabalfstica”) que nos d4 a estrofe goethiana esta na sutil alquimia fonica
que enleia o som ao sentido, tirando partido também da estrutura para-
lelistica (das “figuras ritmico-sintéticas”, como as denominava Ossip
Brik), das estudadas analogias gramaticais (“poesia da gramética”, Jakob-
son). Comecemos pelo esquerna de rimas. Trata-se de uma oitava em rimas
cruzadas, formada pela justaposig¢do de duas quadras: ABAB + CDCD.
- As rimas terminais do 19 (vergANGLICHE) e 39 (unzulANGLICHE)
verso deixam-se projetar, residualmente, no 59 e no 79 (unbeschreibLICHE/
weibLICHE); por seu turno, 0 ditongo /ei/ das palavras em rima nos versos
2 e 4 (glElIchnis/erElgnis) incrusta-se também no corpo rimico das pala-
vras terminais dos versos 5 e 7 (unbeschrEIbliche/wElbliche). A estru-
tura fono-sintagmatica Das Un- (constituida pelo artigo neutro e pelo
205
prefixo. de negacdo) repete-se, anaforicamente, nos versos 3 e 5, proje-
tando-se dissimuladamente nos versos 7 e 8 (Das ocorre no primeiro; no
segundo, a forma pronominal uns substitui 0 prefixo). Hier wird’s (verso 4)
se deixa quase paralelizar por Hier ist’s (verso 6). Hwig/Zieht, transpassa-
dos nos versos 7 e 8, deixam-se associar por uma leve sombra fénica. A
sibilaco terminal de Alles (verso 1) nfo deixa de recorrer em Ist (2), wird’s
(4) e ist’s (6), com particular relevancia posicional nestes pontos. No
29 verso, ein embute-se logo a seguir em glEIchnis, reverberando nas pala-
vras em rima dos versos 4(B) e 5-7(CC). Finalmente, a rima em AN dos
versos pares da segunda quadra da oitava (6-getAN; 8-hinAN) deixa-se
levemente preparar pela vogal modificada e nasalizada de vergANgliche
(1) e unzulANgliche (3), isto sem falar na disseminada aliteragéo em
/g/, que ap6ia a ocorréncia de GEtan no 69 verso. Uma correspondéncia
visual para esta bordadura fono-sintdtica pode-se encontrar. nos rufos e
yolutas do texto manuscrito dessa oitava, que se pode admirar, em auté-
grafo, na caligrafia chancelar do velho Goethe. . .
Em minha transcriagfo, seguindo a lei da compensacdo, procurei
configurar uma trama analogamente complicada, sem perder o laconismo
“da escrita brasondria. Tomei liberdades quanto ao esquema de rimas e
quanto 4 obrigatoriedade das finais consoantes, para mais eficaz rendi-
mento, estético em portugués. Assim, perec[VEL (1) rima com imper-
fectlVEL (3) ¢ com dizfVEL (5); mas recupera também, por aproxima-
¢4o — CIVEL/SimILE — a palavra terminal do verso 2 (que, deste modo,
perpassa nos demais versos em rima, 3 ¢ 5): a diversidade na unidade cria
© desejado efeito de surpresa na coeréncia. A vogal tonica /{/ domina
as ‘palavras em rima de todos os versos da oitava, nasalizando-se porém
nos versos 4, 7 e 8 (enfIM, feminINo, aclma): a quase-rima quebra a
monotonia da repetigao, provocando o outro no mesmo. Os difonos PE,
ER e¢ 0 trifono PER disseminam-se através do corpo estréfico: PERecivel,
aPEnas, imPERfectivel, PERfaz-se, etERNO. Uma leitura partitural des-
velar4 o efeito paronomistico de anagramatizagao que reabsorve a pala-
vra PERECIVEL nos versos seguintes, transformando-a:
PERECIVEL
aPEnaS SImILE
imPERfEctlvEL
PERfaZ-SE
(entre IMPERFECTIVEL e PERFAZ-SE ha uma desejada parequese, que
explicita, para relevo da oposi¢#o semantica oximoresca, a origindria afi-
nidade etimolégica).
No que diz respeito aos paralelismos sintagmaticos, regulei-me pelo
principio da economia mais absoluta, respondendo ao original com pra-
ticamente o mesmo niimero de palavras (ou menos) em cada verso: Os
206
versos 1, 3 e 5 tém estrutura paralela, consistindo.num sintagma formado
por artigo definido + substantivo de derivado verbal, sufixado por -vel:
O perecivel
Os versos 4 e 6 seguem um Gnico modelo: verbo (34 pessoa, pres. indi-
cativo) + advérbio. Teria sido muito facil para mim obter neste caso uma
rima perfeita, consoante; bastaria substituir aqui por assim (rimando com
enfim); evitei esta solugo por ser sonoramente Obvia e pobre e por abrir
mao da fora indicial, locativa, do aqui/hier. Os dois dltimos. versos —
fecho-de-abébada da oitava — mereceram-me uma particular atengdo.
Na vertical, busquei um acorde de ACENA (8) com ApENAS (2).
FEMININo (7) rima em retrogrado com ENFIM (4), encontrando ainda
apoios em culMIna (6) e aclMa (8); estas duas ultimas palavras, ademais,
timam de través, na posig4o inicial e final dos respectivos versos.
Do ponto de vista semantico, a tinica escolha a justificar em espe-
cial parece-me a de “O ndo-dizivel” por Das Unbeschreibliche (‘‘o n&o-
-escritivel”, “co indescritivel”, ‘‘o ndo-inscrevivel”, “‘o inexpressdvel”).
Encontrei tradugées como ineffable, indescribable (em ingl.); ineffable,
inexprimable (em fr.); indescriptible (em esp.); em portugués, temos:
ORNELAS:
O mesmo indescritivel
SEGALL:
O Transcendente-Indefinivel.
Charles B. Passage interpreta: “Transition from earthly form into eternal
form is accomplished, though no words are adequate to describe it.”
Adotei.um padrdo métrico de quatro silabas, para os 6 primeiros versos,
mudando para hexassilabos nos dois tiltimos. “O ndo-dizivel” é um qua-
drissflabo. Semanticamente, é o-mesmo que “‘inefavel” (‘‘o que nfo se
consegue exprimir com palavras”, do verbo gr. phao = falar). Foge do
cliché léxico “‘indizivel”, compondo-se com o advérbio de negacfo ante-
posto. Na misica da estrofe, é mais fluente do que um rebarbativo “‘o
. inescritivel” e menos banal que “‘o indescritivel” (gasto em composi¢des
escolares tipo “espetaculo indescritivel”...). Derrida nos desvelou que
a fala também participa da grafia, que antes da linguagem falada e da escrita
usual ocorre uma escritura primeira ou “arquiescritura”, “movimento da
diferenca”, “‘arqui-sintese irredutivel”. Tanto o “indescritivel” (‘ines-
critivel”) como o “ndo-dizivel” (“inefavel”) tém portanto a ver com a
imaginag4o de um logos que nfo possa ser grafado. . .
207
.).:.Céu-acima (numa cadeia paronomistica iniciada por “‘Acena...”,
transformismo fénico de “apenas”, do 29 verso) é uma invencdo mol-
dada.em “rio-acima”, para epilogar, numa abreviatura sintagmatica, o
admiravel movimento fono-sintatico de Zieht uns hinan (zIEHt uNs HINan).
. O. Anjo. da Tradugio — AGESILAUS SANTANDER -, em sua
Hybris, é lampad6foro —, portador de luz, como a Angoisse mallarmeana.
Se cai, nfo capitula: cai “folgoreggiando”. Nele:talvez se emblematize
© caso extremo daquela “Anxiety of Influence” que Harold Bloom divi-
sou como caracteristica do artista moderno, e cujas modalidades estudou
sob. um leque de nomes neolégicos (clinamen, tessera; kenosis, daemo-
nization, askesis, apophrades), sem dar-se conta de que a traducdo/trans-
criago 6 uma de suas figuras exponenciais. A negligéncia de Pound no
paideuma de Bloom explica, de certo modo, este seu desconhecimento
da especificidade da traducdo enquanto inscric¢fo da diferenca no mesmo.
Ao definir: “...a poem is communication deliberately twisted askew,
turned about. It is mistranslation of its precursors”, Bloom, inevita-
velmente, opde escritura a tradugdo, esquecido de que, por um lado, como
frisa Valéry (‘Variations sur les Bucoliques”), “écrire quoi que ce soit
(...), est un travail de traduction exactement comparable a celui qui
opére la transmutation d’un texte d’une langue dans une autre”; por
outro, indiferente A evidéncia subversiva de que toda tradugdo criativa é
j4 também um caso deliberado de mistranslation usurpadora. Por essa
deflexfo, a tradugdo radical libera a forma semidtica oculta no original,
no mesmo gesto em que se dessolidariza, aparentemente, de sua super-
ficie comunicativa.
Ezra Pound, no primeiro dos Cantares, urdido palimpsesticamente
sobre um tecido migratério de traduges, praticou um rito de propicia-
¢4o: a Nékuia, a oferenda de sangue a Tirésias, para 0 vaticinio: ““Odysseus/
Shalt return. (...) over dark seas” (ODySSEUS/Over Dark SEAS, — 0
nome-persona do poeta viajante, do translator, anagramatizado — tradu-
zido fonicamente — no “mar escuro” do retorno...). Hugh Kenner (que
nfo percebeu este jogo onomastico) viu com argicia nesse Canto inau-
gural, na oblagdo de sangue, uma “nitida metéfora para a tradug4o”:
“Odysseus goes down to where the world’s whole past lives, and that
the shades may speak, brings them blood: a neat metaphor for transla-
tion...” (The Pound Era). Tradug&o como transfusdo. De sangue. Com
um dente de ironia poderiamos falar em vampirizac¢do, pensando agora
no nutrimento do tradutor.
Quando se pde a questdo da tradig#o, muitas vezes se esquece 0
fato essencial de que esta ndo se move apenas pela homologacfo: seu
motor, freqiientemente, € a ruptura, a quebra, a descontinuidade, a des-
sacralizagfo pela leitura ao revés. “Webern ndo era previsivel: para poder
208
viver utilmente apés ele, nfo se poder4 continud-lo; é preciso esquarte-
jélo”, escreveu o jovem Pierre Boulez, — “Boulez, le violent”, que se
converteria com o tempo, nfo por acaso, ao lado de sua contribuicfo
inovadora como compositor de vanguarda, num surpreendente e radical
regente-“‘transcriador” da mfsica do passado, por ele — possuidor, segundo
se diz, de uma “escuta absoluta” — sempre ouvida cont ouvidos novos. . .
“A importancia da tradugdo icdnica” — afirma Padlo Valesio, coincidindo
assim no uso de um conceito que me acudiu desde 1962, quando falei
do “isomorfismo” e da ‘“‘iconicidade” da traducfo criativa” — “esti no
- fato de que, ao radicalizar algo que est4 presente, em certa medida, em
toda traducdo, ela desmistifica a ideologia da fidelidade”. (“The virtues
of traducement: sketch of a theory of translation”, Semiotica, 18:1, Haia,
Mouton, 1976). Boulez incrustou sua reflexdo “antropofigica” sobre
Webern num artigo de homenagem a Bach (“Moments de J.-S. Bach,
Contrepoints, 1951); Webern, em seu momento, homenageara Bach tra-
duzindo-lhe desassombradamente a grande fuga a seis vozes da Oferenda
Musical em melodia-de-timbres. . .
Flamejada pelo rastro coruscante de seu Anjo instigador, a tra-
dugfo criativa, possufda de demonismo, ndo é piedosa nem memorial:
ela intenta, no limite, a rasura da origem: a obliteragdo do original. A
essa desmeméria parricida chamarei “transluciferaga4o”.
Sao Paulo, abril/junho de 1980
209
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Machado de Assis Magazine No 1-6149Document214 pagesMachado de Assis Magazine No 1-6149meeee2011No ratings yet
- La Canción y La SombraDocument8 pagesLa Canción y La Sombrameeee2011No ratings yet
- Entrevistas A Mia Couto - Folha de São PauloDocument5 pagesEntrevistas A Mia Couto - Folha de São Paulomeeee2011No ratings yet
- Couto, Mia - Espreitando o Mundo Insólito Do Contista MoçambicanoDocument2 pagesCouto, Mia - Espreitando o Mundo Insólito Do Contista Moçambicanomeeee2011No ratings yet
- Vico Rosetti Eguiluz Bonaparte SimposioDocument4 pagesVico Rosetti Eguiluz Bonaparte Simposiomeeee2011No ratings yet
- CHIZIANE Paulina Niketche Uma Historia de PoligamiaDocument169 pagesCHIZIANE Paulina Niketche Uma Historia de Poligamiameeee2011No ratings yet
- La Ceguera VoluntariaDocument6 pagesLa Ceguera Voluntariameeee2011No ratings yet
- Massaud Moisés - ModernismoDocument69 pagesMassaud Moisés - Modernismomeeee2011No ratings yet
- Miragaia Almeida GarretDocument37 pagesMiragaia Almeida Garretmeeee2011No ratings yet
- CABEZAS - SOPA. Programa Traducción General, PortuguésDocument6 pagesCABEZAS - SOPA. Programa Traducción General, Portuguésmeeee2011No ratings yet
- La Poesía Novohispana y Su Relación Con Las Artes Visuales y La MúsicaDocument1 pageLa Poesía Novohispana y Su Relación Con Las Artes Visuales y La Músicameeee2011No ratings yet
- VAZQUEZ Estudios de TraducciónDocument11 pagesVAZQUEZ Estudios de Traducciónmeeee2011No ratings yet
- Alejandrina Falcón. Traductores Del Exilio Argentinos en EdiDocument268 pagesAlejandrina Falcón. Traductores Del Exilio Argentinos en Edimeeee2011No ratings yet
- LÁZARO IGOA Traducción de Ensayo (Portugués)Document9 pagesLÁZARO IGOA Traducción de Ensayo (Portugués)meeee2011No ratings yet
- LATE Versão Regulamento PTDocument8 pagesLATE Versão Regulamento PTmeeee2011No ratings yet
- Patricia WilsonDocument19 pagesPatricia Wilsonmeeee2011No ratings yet
- PROGRAMA Congresso Professores de Português R.A 2023Document9 pagesPROGRAMA Congresso Professores de Português R.A 2023meeee2011No ratings yet
- Glosario - Pablo BeneitoneDocument6 pagesGlosario - Pablo Beneitonemeeee2011No ratings yet
- Traducción Comentada LFT - Proyecto Maestría ZyanyaPonceDocument24 pagesTraducción Comentada LFT - Proyecto Maestría ZyanyaPoncemeeee2011No ratings yet
- Catela Ludmila No Habra Flores en La Tumba Del PasadoDocument154 pagesCatela Ludmila No Habra Flores en La Tumba Del Pasadomeeee2011No ratings yet
- Stanley Fish - Como Reconhecer Um Poema Ao Vê-LoDocument5 pagesStanley Fish - Como Reconhecer Um Poema Ao Vê-Lomeeee2011No ratings yet
- MOISÉS - A Literatura Portuguesa Através Dos Textos - HUMANISMODocument32 pagesMOISÉS - A Literatura Portuguesa Através Dos Textos - HUMANISMOmeeee2011No ratings yet
- Mario de Andrade. Prefácio InteressantíssimoDocument36 pagesMario de Andrade. Prefácio Interessantíssimomeeee2011No ratings yet
- Andrade, Ana Luiza - Osman Lins Crítica e Criação OCRDocument122 pagesAndrade, Ana Luiza - Osman Lins Crítica e Criação OCRmeeee2011100% (1)
- Minha Terra Tem Palmeiras ViniciusDocument3 pagesMinha Terra Tem Palmeiras Viniciusmeeee2011No ratings yet
- Pageaux - Hispanoamérica y Literatura ComparadaDocument15 pagesPageaux - Hispanoamérica y Literatura Comparadameeee2011No ratings yet
- Escrever para Jornal e Escrever LivroDocument1 pageEscrever para Jornal e Escrever Livromeeee2011No ratings yet
- Leer Un Libro de Cuentos Deshoras de Julio CortazaDocument7 pagesLeer Un Libro de Cuentos Deshoras de Julio Cortazameeee2011No ratings yet
- Eder Rodrigues PereiraDocument10 pagesEder Rodrigues Pereirameeee2011No ratings yet