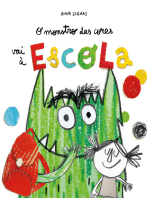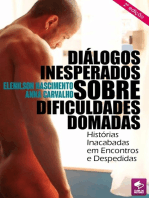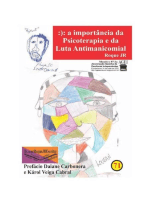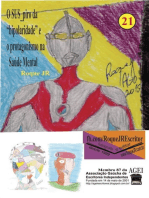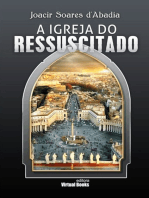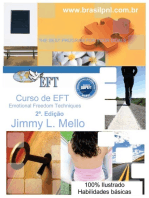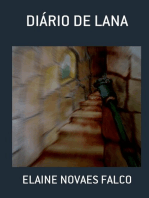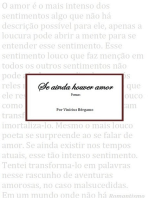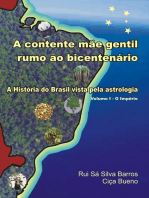Professional Documents
Culture Documents
Mais Alem Da Cultura Espaco Identidade E PDF
Mais Alem Da Cultura Espaco Identidade E PDF
Uploaded by
Victor Magalhães0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views20 pagesOriginal Title
Mais_Alem_Da_Cultura_Espaco_Identidade_E.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views20 pagesMais Alem Da Cultura Espaco Identidade E PDF
Mais Alem Da Cultura Espaco Identidade E PDF
Uploaded by
Victor MagalhãesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
MAIS ALEM DA “CULTURA®:
ESPAGO, IDENTIDADE E POLITICA DA DIFERENGA
Akhil Guptae James Ferguson
Para uma disciplina cujo rito de passagem central é o trabalho de campo, cujo fascinio tem-se baseado
na exploragio do remoto (*o mats outro dos outros” [Hannerz 1986, p. 363)), cuja fungao critica considera-se
estar em sua justaposigo de modos radicalmente diferentes de ser (ocilizados ‘alhures") dos da cultura
getalmente ocidental dos antropélogos, surpreendentemente tem hvido, na teoria antropolégica, pouca
consciéncia da questio do espago. (Algumas excepdes notiveis sio Appadursi (1986, 1988], Hannerz [1987]
«© Rosaldo {1988, 19891.) A colegio de cinco ensaios etnogrificos publicada pela revista Cultural Anthropology
em 1992, para a qual este artigo serviu de introdlucio,’ representa uma tentativa modesta de tratar das questocs
cde espaco e lugar, junto com algumas preocupacdes necessariamente relacionadas, como as de localizacio,
deslocamento, comunidade e identidade. Em particular, queremos explorar de que modo ¢ interesse renovado
sobre a teorizagie do espago na teoria pés-modernista e feminista (Anzaldua 1987, Baudrillard 1988, Deleuze
‘© Guattari 1987, Foucault 1982, Jameson 1984, Kaplan 1987, Martin Mohanty 1986) - encamado em nogoes
como vigilincia, panopticismo, simulacro, desterritorializagio, hiperespago pés-modemo, fronteiras © margi-
nalidade ~ forgi-nos a reavaliar conceitas analiticos centrais da antropologia como o de “cultura” ¢, por
extensio, a idéia de “diferenea cultural’
‘Eas tcxo fo pablo orginal rn ARB Gapt cries Ferguson (192) “Beyond ule: Space, deat end ihe poco erence”
Gara Atropotogy vl 7.121. Washington: Amerean Andaopclogical AStocation, fevers, p. 628. Tradugs de Peo Mala Soe.
1. sur referesea evs Cultura Anthropology, vl. 7.02 cle Reve le 1982. IN do
”
[As representagdes do espaco nas ciéncias sociais depenclem muito das imagens de rompimento, rupnura €
isjungio. A distingto entre sociedades, nagdes e culturas baseia-se numa divisto do espaco aparentemente niio
problemética, no fato de que ocupam espagos “naturalmente’ descontinuos. A premissa cht descontinuidade
configura 0 ponto a partir da qual sto teorizados 0 contato, 0 conflito €a contradic entre culturase sociedades,
Por exemplo, a representagio do mundo como uma colegio de “paises al como aparece na maioria dos mapas
rmundizis, considers-o um espago inerentemente fmigmentado, dividido por cores diferentes em diversas
sociedades nacionais, cada uma delas “enraizad” em seu devido lugar (cf, Malki)” F considerado to certo que
‘cada pais encama sua propria cultura distinta, que os termas “Sociedade” e *cultura” so rotineiramente apostos
103 nomes de estados-nagbes, como acontece quando um tursta visita a India para entender a “cultura indiana”
2 “sociedae indiana", ou vai 8 Tailindia para experimentar a “cultura tailandesa", ou visita os Estados Unidos
para respirar um pouco de “cultura americana
claro que 0s territérios geogrificos que, acredita-se, as culturas e sociedades devem ocupar, mio
precisam ser nagées. Temos, por exemplo, idéias sobre dreas culturais que recobrem virios estados-nagbes,
‘ou sobre nagdes multiculturais. Numa escala menor, talvez, esto nossos pressupostos sobre a associagdo
entre grupos culturalmente unititios (tribos ou povos) a “seus” terrtérios: os *Nuer” vivem na "Nuerlindia®
assim por diante, A ilustrago mais clara desse tipo de pensamento esti nos clissicos “mapas etnogesficos”,
que pretendem mostrar a distribuigdo espacial de povos, tibos e culturas. Mas, em todos esses casos, 0 espago
tome-se uma grade neutra sobre a qual a diferenca cultural, a meméria historica e a organizagio social s40
inscritas, & dessa forma que 0 espago funciona como um principio organizador central nas ci8ncias sociais,
a0 mesmo tempo em que desaparece da esfera de aglo analitica
Esse suposto isomorfismo entre espaco, lugar € cultura resulta em alguns problemas significativos.
Primeiro, hi a questio daqueles que habitam 2 fronteira, aquela “estreita faixa ao longo das bordas
escarpadas" (Anzaldua 1987, p. 3) das fronteiras nacionais. A ficgio de culturas como fenémenos distintos
que se assemelham a objetos que ocupam espagos distintos torna-se implausivel para os habitantes das
fronteiras, Relacionados a estes esto os que viver cruzando fronteiras ~ trabalhadores migrantes, nomades
«€ membros da elite profissional € de negécios transnacional: o que é “a cultura” dos lavradores que passam
uma metade do ano no México e a outra metade nos Estados Unidos? Por fim, hé aqueles que cruzam
fronteiras de forma mais ou menos permanente ~ imigrantes, refugiados, exilados ¢ expatriados. Nesses casos,
2 disjungdo de lugar ¢ cultura fica especialmente clara: refugiados khmer nos EUA levam a ‘cultura khmer”
com eles, da mesma forma complicada como os imigrantes indianos na Inglaterra transportam a “cultura
indiana’ para sua nova patria
2. Cl. Catral Antrepology, vo. 7, 8 1, fevercto de 1992.(N. do T}
|
:
:
:
j
(Um segundo conjunto de problemas levantados pelo mapeamento implicita de culturas por sobre os
tugares € conseguir dar conta cis diferencas culturais no interfor de uma localidade. © *muliculturaismo” &
0 mesmo tempo, um débil reconhecimento do fato de que as culturas perderam suas amarras 2 lugares
definidos, ¢ uma tentativa de subsumir essa pluratidade de culturas na mokdura de uma identidade nacional
‘Da mesma forma, a idéia de *subcultura” tenta preservar a idéia de "culturas" distintas, ao mesmo tempo em
que reconhece a relacio de diferentes culturas com uma cultura dominante dentro do mesmo espaco
geogrifico © territorial, Explicagées convencionais sobre etnia, mesmo quando utlizadas para descrever
diferencas culturais em cendtios onde povos de regibes diferentes vivemn lado a lado, pressupdem uma ligaclo,
problemitica entre identidade e lugar. Embora sejam sugestivos porque procurem alargar associag0
raturalizada de cultura com lugar, tais conceitos deixam de interrogar esse pressuposto de uma forma
realmente fundamental, Precisamos nos perguntar como tratara diferenca cultural ao mesmo tempo em que
abandonamos os clichés sobre cultura (localizada).
[Em terceiro lugar, hé a questo importante da siuagio pés-colonial: a que lugares pertencem as culturas
hibridas do pés-colonialismo? Sera que 0 encontto colonial cria uma ‘cultura nova" nos paises colonizados
colonizadores, ot seri que ele desestabiliza a nocdo de que nagoes e culturas so isomérficas? Como se
discutiré adiante, a condigio pés-colonial problematiza ainda mais a relagio entre espago e cultura
Por fim ~ € 0 mais importante ~ 0 desafio & paisagem fraturada de nagoes independentes ¢ culturas
autnomas levanta a questio de compreender a mudanea social e 1 transformacao cultural como situadas
dentro de espacos interligados. A suposi¢lo de que os espacos slo autonomos permitiu que 0 poder da
topografia ocultasse a topografia do poder. © espaco inerentemente fragmentado implicito na definigao da
antropologia como o estudo de culturas (no plural) pode ter sido um dos motives por tris da antiga ¢
persistente omissdo de escrever a histérla da antropologia como uma biografia do imperialismo, Pois, se
parimos da premissa de que os espagos sempre estiveram interligados hicrarquicamente, em vez de
naturalmente desconectados, ento, a mudanca cultural ¢ social no se torna mais uma questto de contato €
de articulaglo cultural, mas de repensar a diferenca por meio da conexio,
Para ilustrar, examinemos um modelo poderoso de mudanga cultural que tenta relacionar dialeticamente
‘local com arenas espaciais mais amplas: a articulagao. Os modelos de articulagto, venham do estruturalismo
marcista ou da “economia moral", postulam um estado primevo de autonomia (geralmente rotulado de
*pré-capitalista") que ¢ entdo violado pelo capitalismo global. © resultado € que tanto a arena local como as
arenas mais amplas se transformam ~ a local mais do que a global, com certeza ~, mas niio necessariamente
ums diregao predeterminada, Essa nolo de articulaglo permite que se explorem as ricas conseqiiéncias
1, Boo dbviamene lo vale pa estrada “nova nic iade” para teatos como os de Arzaun (1987) ¢Rathakishn (1987),
33
}
|
I
i
|
I
io intencionais do, digamos, capitalismo colonial, em que ocorrem paralelamente perda e invencao,
Contudo, 20 tomar uma “comunidade” localizada, pré-existente, como ponto iniial, essa nogio deixa de
examinar suficientemente os processos (Iais como as estruturas de sentimento que permeiam a imaginagio
a comunidade) que participam em primeira instincia da constructo do espago como fugar ou localidade.
Em outras palavras, em vez de supor a autonomia da comunidade primeva, devemos examinar de que modo
cla se formou como comunidade, a partit do espago intertigado que desde sempre existia. © colonialismo
representa, eno, a substituiglo de uma forma de intesligaglo por outra, No dizemos isso para negar que 0
lismo em expansio tenham profundos efeitos desarticuladores sobre sociedades
cexistentes, Mas, 20 trazet sempre para 0 primeiro plano a distribuigio espacial de relagdes de poder
hieriequicas, podemos entender melhor o processo pelo qual um espago adquire uma édentidade distintiva
como lugar. Nao nos esquecendo de que 25 nodes de localidade ou comunicade referem-se tanto a um.
espago fisico demarcado quanto a agrupamentos de interago, podemos perceber que a identidade de um
lugar surge da interseco entre seu envolvimento especifico em um sistema de espagos hierarquicamente
organizados e a sua construcio cultural como comunidade ou localidade.
E por essa razJo que aquilo que Jameson (1984) chamou de *hiperespaco pés-modemno” desafiou de
forma tio fundamental a conveniente ficcio que mapeava culturas por sobre lugares e povos. No ocidente
capitalists, 0 regime fordista de acumulagio, que enfatizava imensas unidades de produgio, uma forga de
trabalho relativamente estivel e o estado do bem-estar social, criou “comunidades” urbanas cujos contomos
ficavam mais claramente visiveis nas cidades industriais (Davis 1984, Harvey 1989, Mandel 1973). A
contraparte disso na arena internacional foi que as empresas multinacionais, sob a lideranga dos Estados
Unidos, exploravam constantemente as matériasprimas, os bens primirios e a mao-de-obra barata dos
cstados-nagdes independentes do “Terceiro Mundo" pés-colonial. Agéncias multilaterais e poderosos Estados
ocidentais pregavam as ‘leis’ do mercado ~ necessariamente apoiadas pela forca militar ~ para estimular 0
fluxo internacional do capital, ao mesmo tempo em que politicas nacionais de imigragao garantiam que nio
hhouvesse um fluxo livre Gsto é, andrquico, perturbador) de mao-de-obra para as ilhas de altos salitios do
centro capitalists. Os padrées de acumulagio fordista foram substituidos por um regime de acumulagao
exivel — caracterizado por produgio em pequena escala, mudangas rapidas nas linhas de produsio,
movimentos extremamente cipidos de capital para explorar os menores diferencials de custo de mao-le-obra
ieprima ~ baseado numa rede mais sofsicada de informagio € comunicagio e melhores meios de
transporte para bens € pessoas. Ao mesmo tempo, a producto industrial de cultura, diversto € lazer, que
atingiu pela primeita vez algo parecido com a distribuicio global durante 2 era fordista, conduziu
paradoxalmente a invencio de novas formas de diferenca cultural ¢ novas formas de imaginar a comunidade,
Algo como uma esfera publica transnacional tomou obsoleto qualquer sentido de comunidade ou localidade
cstrtamente limitado €, ao mesmo tempo, permitiu a criagao cle formas de solidariedade e identidade que
colonialismo ou o capi
ce mate
nio repousim sobre uma apropriaclo do espago em que a contigiidade © 9 contato pessoal sejam
fundamentais. No espaco pulverizado da pds-modemidadle, 0 espago nto se tomou irrelevante: ele foi
neertitorializado de umn modo que mio se conforma A experiéncia de espago que caracterizava a era da alta
modemidade. & isso que nos forga a repensar as politicas de comunidade, solidatiedade, identidade ©
diferenga cultural,
‘Comunidades imaginadas, lugares imaginados
Sem diivida, os povos sempre foram mais moveis € as identidades menos fixas do que as abordagens
cestiticas e tipologizantes da antropologia clissica sugerem. Mas, hoje, a ripida mobilidade e expansao dos
jpovos combina-se com a recusa de produtos e priticas culturais de “ficar parado para dar um sentido
profundo de perda de raizes territoriais, de erosio da peculiaridade cultural dos lugares de fermentagio na
teoria antropoi6gica. A aparente desterritorializacio da identidade que acompanha tais process0s colocou n0
centro da investigagio antropoldgica recente a questio de Clifford (1988, p. 275}: “O que significa, no final
do século XX, falar de uma ‘terra nativa? Que processos, em vez de esséncias, estio envolvidos nas atuais
experitncias de identidade cultural?”
Evidentemente, essas questoes mo Sio novas, mas 0 debate sobre identidade coletiva parece assumir,
hoje, um casiter especial, quando viverios cada vez mais no que Said (1979, p. 18) chamou de “uma cond
generalizada de sem-teto", em um mundo onde a5 identidades estio se tomando cada vez mais, senito
totalmente, desterritoriaizadas, wo menos tersitorializadas de maneira diferente. Povos refugiados, migrantes,
deslocados ¢ sem Estado — s20 esses, talvez, os primeiros a experimentar essas eslidades em sua forma mais
completa, mas 0 problema € mais geral. Em um mundo de diispora, fluxos transnacionais de cultura ©
maovimentos em massa de populagdes, tentativas antiquadas de mapear o globo como utn Conjunto de regides
‘ow bercos de cultura sto desnortendas por uma série estonteante de simulacnos pés-coloniais, duplicagbes e
reduplicagdes, na medida em que a India © © Paquistio reaparecem numa simulaglo pés-colonial em Londres,
a Teer pré-revolucioniria ergue-se das cinzas em Los Angeles, ¢ milhares de sonhos culturais semelhantes
slo representados em cenirios urbanos e rurais em todo © mundo. Nesse jogo-culturs da didspora, ficam
bormdas fronteiras familiares entre o “aqui” e 0 “Ki”, o centro e a periferia, a co¥inia ea metropole,
Quando 6 “agui’ e 0 "la" ficam assim embacados, as cerezas ¢ Axagdes culturals da metw6pole so
perturbadas tanto ~sendto da mesma formna ~ quanto as da periferia colonizada, Nesse sentido nilo sio apenas
0 deslocados que experimentam uma deslocalizacio (cf. Bhabha 1989, p. 66), pois até mesmo quem
permanece em locais familiares e ancestais ve mudar inelutavelmente « natureza de sua relaglo com 0 lugar
38
|
i
|
!
|
¢ romperse a ilusio de uma conexo essencial entre higar © cultura. A ‘anglicidade’, por exemplo, na
Inglaterra contemporinea internacionalizads, € uma nogio tho complicada € quase to desterrtoralizada
quanto uma “palestinidade” ou “armenidade", uma vez que “Inglaterra” ("a verdadeira Inglaterra") refere-se
menos 2 1m lugar limitado do que a um estado de ser ou a uma localizacio moral imaginados. Considere-se,
por exemplo, o que diz. um jovem branco fi de reggae no etnicamente ea6tico bairro de Balsall Heath, em
Birmingham (cf, Hebdige 1987, pp. 158-159):
[Niveise mais iso de“nglatera" ben-vindos os da rat Agel €o Cael Nigéril No este Inglaterra. Esso que ets
scontecondo Bala Heath 0 cento do melting pot, pave toque veja qu aio eo abe, meio paqustants, meio jamsicano,
cio cacocés, mei lands, Bu sei porque somo esvctsrcia ands quem su eu? Mediz de ode eu su? les me xitcam,
svethae boa Inglaterra Todo tem, de onde eu sou Sabe, eu ress com nepos, paguistaness, fianos, alco, tudo © gue Voo8
ule, fag parte de qué? Sou apenas una pessoa sem mies. A tea as, sss, ene io asc a Jaca, a gee ilo nascea
a“nglatera. A gonte aasceasqui, car. nos dito. € asim que cu vjo. asim qe ldo com io
A-aberta aceitagao do cosmopolitismo, que parece estar implicita aqui talvez seja mais uma excegio do
que a regra, mas mlo se pode ter dividas de que a explosto de uma “Inglaterra” culturalmente estével e
unitria no “aqui” cutand-mte do Balsall Heath contemporineo seja um exemplo de um fendmeno que é
real e que se espalha, Esti claro que a eroslo dessas conexdes supostamente naturais entre povos € lugares
nao conduziu ao espectro modemista da homogeneizaco cultural global (Clifford 1988). Mas “culturas” e
“povos", por mais persistentes que sejam, deixam de ser plausivelmente identifictveis como pontos no mapa.
A itonia de nossa época, no entanto, € que, ao mesmo tempo em que lugares ¢ localidades se tornam
‘cada vez mais borrados e indeterminados, as tdéias de locals cultural ¢ etnicamente distintos tomam-se talvez
ainda mais proeminentes. F nesse ponto que fica mais visivel a manelra como comunidades imaginadss
(Anderson 1983) ligam-se a lugares imaginados, na medida em que povos deslocades se retinem em torno
de terrasnatais, lugares ou comunidades imaginadas, em um mundo que parece negar cada vez mais essas
firmes Ancoras teitorializacas em sua realidade
(Os lugares lembrados tm amidde servido como aincoras simbélicas para gente dispersa. Hi muito que
isso € verdade para os imigrantes, que (como mostra vivamente Leonard [1992) usam a meméria do lugar
para construir imaginativamente seu novo mundo. Nesse sentido, a “terra natal" permanece um dos simbolos
unificadores mais podetosos para povos méveis e destocados, embora a relagio com ela possa ser construida
de modo diferente em, cendrios diferentes. Ademais, mesmo em tempos € cendsios mais completamente
desterritorializados ~ cendrios em que a “terra natal” no 86 estd distante, mas também nos quais a prépria
ogo de “terra natal” como lugar de duragio fixa € posta em questo -, certos aspectos de nossas vidas
36
‘permanecem altamente“localizados” em um sentido socal, como argumenta Peters (1992), Precisamos deixar
de lado a idéia ingénua de comunidade como entidade literal (ef. Cohen 1985), mas continuar sensiveis 2
profunda "bifocalidade” que caracteriza as vidas localmente vividas em um mondo globalmente interconec-
tado, bem como 20 poderoso papel do lugar na “visio de perto” da experiéncia vivida (Peters 1962),
No entanto, a erosto parcial dos mundos socials espacialmente limitados ¢ © papel crescente da
jmaginacio de lugares & distancia devem ser situados dentro dos termes altamente espacializados de uma
economia capitalsta global. O desafio € usar 0 enfogue sobre o modo como o espaco € imaginado (mas no
imagindria) como forma de explorar os processos pelos quai tais processos conceituais de construgio do
ugar encontram-se com as condligdes politicas e econdmicas globais em mutaglo dos espagos vividos ~ a
elagio, poderiamos dizer, entre lugar e espaco, Como mostra Ferguson," poclem surgir tensdes importantes
{quando os lugares que foram imaginados & distincia precisam tomar-se espacos vividos, pois os lugares so
sempre imaginados no contexto de determinagdes poliicas e econdmicas que tém uma l6gica propria, A
temitoralidade 6, asim, reinscrta no ponto exato em que esti ameacaca de ser apagada
{A idéia de que se atribui signficagio ao expago é, sem avid, familiar aos antropélogos. Com efeito
dificilmente ha uma verdade antropolégica mais antiga ou mais bem estabelecida. Oriente ou ocidente, dentro:
fa fora, esquerda ou direta, montana ou plincie, pelo menos desde a epoca de Durkheim, a antropologia
sabe que a experiéncia do espaco é sempre socialmente consruda, A tarefa mais urgente € politizar essa
observagio incontestivel, Compreendendo-seaatribuicio de sentido como uma prea, como se estabelecern
0s sents espacias? Quem tem o poder de tomar lugaees 0s espagos? Quem contesta S50? O que esti em
questac?
Essas questes sio paricularmente importantes onde a associacio signficativa de lygares © povos est
‘em jogo. Como demonstra Mallcki,” devem ser contestados, aqui, dois naturalismos. O primeiro, j4 discutido,
6-0 que chamaremos de Adio etnoldgico de supor como natural a associagdo de um grupo culturalmente
suniario (a "tbo" ou 0 “povo") com “su” teriéno, Um segundo e intimamente elacionado naturalism &
fo que chamaremos de heibito nacional de tomar como natural a associagd de cidaddios ce estados com seus
territérios. Aqui, imagem exemplar ¢ do maparmiind! convencional dos estados-nagées, por meio do qual
48 criangas aprendem idéias tio engandoramente simples como a de que Franca é onde os franceses viver,
08 Estados Unidos sto o lugar onde os americanos viver, ¢ assim por diante. Até mesmo um observador
camtal sibe que nem s6 americanos vivem nos BUA, © est claro que a propria questio co que € um
“americano verdadeiro” € controvertda, No entanto, até mesmo os antropblogos ainda falam de “cultura
“4 GataralAnropogy, vl 7,121, feverero de 1992. (N.do
5. Wid
i
j
|
|
|
|
it
}
{
|
|
americana’, sem ter clareza do que isso significa, porque supomos uma associa¢ao natural de uma cultura (a
“cultura americana”), um povo (os “americanos") e um lugar (os “Estados Unidos da América"), Tanto 0
naturalismo etnol6gico como 0 nacional apresentam as associagées de povo e lugar como sélidas, citeriosas
© pacificas, quando sto, na verdade, contestadas, incerta ¢ fluidas.
Trabalhos mais recentes em antropologia e campos relacionados enfocaram os processos mediante os
uals essas representacdes nacionais reificadas e naturalizadas sio construfdas e mantidas por Estados e elites
nacionais, (Ver, por exemplo, Anderson 1983, Handler 1988, Herzfeld 1987, Hobsbawm e Ranger 1983,
Kapferer 1988, Wright 1985.) Borneman® apresenta um caso em que 2s construgdes estatals de um territ6rio
nacional sto complicadas por um tipo muito particular de deslocamento, na medida em que a divisio
teritorial da Alemanha apés a Segunda Guerra Mundial torau impossivel aos dois Estados as reivindicacdes
de uma terra natal teritorlalmente circunscrita € de uma nagio culturalmente delineada, que sto geralmente
essenciais para estabelecer legitimidade, Seus cidadios também nao podiam contar com tais apelos na
construcio de suas proprias identidaces. Bomeman afirma que, a0 forjr identidades nacionais afastadas dessa
forma de terttério e cultura, as Estados germinicos do pés-guerra ¢ seus cidadaos utilizaram estratégias de
‘oposiglo, que resultaram, em wlkima instincia, em versdes das identidades deslocadas e descentradas, que
marcam o que com frequéncia chamado de condigdo pés-moderna.
As discussdes sobre o nacionalismo deixam claro que os Estados desempenham um papel crucial na
politica popular de construcio do lugar e a criago de lagos naturalizados entre lugares e povos. & importante
observar, porém, que as ideologias estatais estio Longe de ser 0 (nico ponto em que a imaginacio do lugar
Seia politizada. Imagens contrapostas de lugar foram evidentemente muito importantes nos movimentos
racionalistas anticolonizis, bem como nas campanhas pela autodeterminaglo © sobertaia por parte de
contracnagées éinicas como os hutus (MalkKD,” 08 eritrcus © os arménios. Bisharat (1992) investiga 2
participagio da imaginagio de um lugar na luta dos pelestinos, mostrando de que mado construgdes
‘especificas da “terra natal” mudaram em resposta a circunstAncias polticas e de que maneira uma relagto
Profundamente sentida com “a terra" continua a informar ¢ inspirar a luta dos palestinos pela autodetermina-
‘0. O artigo de Bisharat serve como lembrete, 2 luz das conotagdes muitas vezes reacionirias do
nacionalismo no mundo ocidental, do quanto foram poderosas as nogdes de terra natal e de “nosso lugar”
utilizadas com frequéncia em contextos anticoloniais.
6 id bd,
7 to
Com efeito, os cbservadores futuros das revolugées do século XX provavelmente se espantarto com a
dificuldade de formular movimentos politicos de larga escala sem referéncia a pltrias nacionais. Gupta*
cliscute as dificuldades surgidas na tentativa de reunir pessoas em tomo de uma coletividade nao nacional,
come © movimento dos iiio-alinhados. Problemas semelhantes sio levantados pelo movimento internacio-
nalista proletéco, pois “como descobriram geragées de marxistas depois de Mark, uma coisa € libertar uma
naglo, outra bem diferente € libertar os trabalhadores do mundo” (Gupia).” As tendéncias ao nacionalismo
dio intemacionalismo baseado na classe (como na historia da Segunda Internacional, ou da URSS) € 2 utopia
imaginada em termos locais em vez. de universais (como em News from nowhere, de Morris [1970], em que
snowhere™"” futopial revela-se um "somewhere" especificamente inglés) mostram claramente a importincia
de ligar as causas aos lugares e A ubiqlidade da construcio do lugar na mobilizacio politica coletiva,
No entanto, essa constnicio do lugar mio precist se dar em escala nacionsl. Um exemplo disso € a
manera como nocoes idealizadas do “campo” foram urilizadas em censirios urbanos para crticar 0 capitalismo
industrial (cf., para a Inglaterra, Williams 1973; para a Zimbia, Ferguson.)"* Outro caso € a reelaboragao das
ideias de “ta” e “comunidade” em feminists como Martin ¢ Mohanty (1986) ¢ Kaplan (1987), Rofel" tf outro
‘exemplo ema seu tratamento dos significados contestados dos espagos ea historia local de uma fabrice chinesa
ua anilise mostra como as localizagées espectficas ci falbrica adquiriram significados 20 longo do tempo e
como esses significados espaciais localizados confundiram os projetos modemizadores © pandpticos dos
plancjadores ou seja, de que modo a durabildade da memoria e os significados localizados de lugares ©
corpos colocam em questo a propria idéia de uma “*modernidade” universal indiferenciada,
Deve'se observar que essas politicas populares de lugar podem, facilmente, tanto ser conservadoras
‘quanto progressistas, Com muita freqiléncia ~ como acontece nos Estados Uniclos de hoje -, a associacto de
lugar com mem6ria, perc e nostalgia cai como uma hava para os movimentos populares reacionsrios 1580,
vale nio apenas para as imagens nacionais associadas hi muito tempo com a dlireita, mas também para os
locais € cenirios nostalgicos imaginados, tais como a “pequena cidade americana”, ou “a fronteins”, que
freqlertemente se associam complementam idealizagdes amtiferinistas do “lar” e da “famitia®
8 id
9. tt id
10, "Nenbure"(N:do"T)
1, “Algres.(N. do)
12. Ch Cilrara nctropology: v0.7,
1B. td, bid
14. Vertambéos Roberson (1988, 1991) sobre police da nosaga€ "sons do har tivo” no ap.
veri de 1992. [N40]
i
|
|
f
|
:
f
i
{
Espago, politica @ representapdo antropolégica
A mudanga de nossas concepgées da relacio entre espago € dlferenga cultural oferece uma nova
perspectiva sobre os debates recentes em tomo de questoes sobre a representaglo a escrita antropol6gica.
[A nova atengao as priticas representativas jé Fevou 3 compreensio mais sofisticada das processos de reificagio
@ de construgio da alteridade na escrita antsopol6gica. Isto posto, porém, parece-nos igualmente que a noglo
recente de “critica cultural" (Marcus ¢ Fischer 1986) depende de uma compreensio espaciaizacla da diferenca
cultural que precisa ser problematizada,
© fundamento da critica cultural ~ uma relagio dialégica com uma “outra” culrura que produz um ponto
de vista critico sobre “nossa propria cultura” ~ supde um mundo jé existente de muitas “culturas* diferentes
© uma distingto no problematica entre “nossa propria sociedade” ¢ uma “outra" sociedade. Na formulag2o
de Marcus e Fischer, 0 propésito da cftica cultural € “gerar questoes critcas de uma sociedade para investigar
2 outra” (op. cit, p. 117); seu objetivo € “aplicar os resultados substantivos © as ligdes epistemolégicas
aprendidas com a etnografia no exterior a uma renovacio da funcio critica da antropologia tal como é
desenvolvida nos projetos etnogriticos em seu pais” (idem, p. 112).
Marcus ¢ Fischer so sensiveis 2o fato de que a clferenca cultural esté presente também “aqui em 0550
pals" e que “o outro” nio precisa ser exético ou longinquo para ser outro, Mas a concep2o fundamental da
cftica cultural como uma relaglo entre “sociedades diferentes" acaba, talvez contra as intengdes dos autores,
espacializando a diferenca cultural de maneira familiar, na medida em que a etnografia se toma, como acima, uma
ligagio entre um “em nosso pais" no problematizado ¢ um “exterior”. A telagio antropolégica nto se di
simplesmente com povos que sto diferentes, mas com “uma sociedade diferente”, “uma cultura diferente" ¢ assim,
6 inevitavelmente uma relagio entre ‘aqui’ e “i*. Em tudo isso, 0s termos de oposicio “aqui” ¢ “Hi”, “nds” &
“eles, “nossa propria® ¢ “outra" sociedade) sto considerados como dados: 0 problema, para os antropdlogos, &
Usar nosso encontro com “eles”, “i, para construir uma critica de “nossa propria sockedade”, “aqui”
Hi varios problemas nessa forma de conceituar 0 projeto antropoligico. O mais Gbvio talvez seja a questio
a identidade do "nés" que aparece em expresses como “nds mesmos” € “nossa prépria sociedade”. Quem &
esse ‘nds’? Se a resposta é, como tememos, o Ocidente, entio, precisimos perguntar exatamente quem deve ser
incluido ¢ excluido desse “cube’. O problema também nlo ¢ resolvido peta simples substituiclo de “nossa prépria
sociedade” por “a sociedade do etnégrafo", Para os etndgrafos, como para outros nativos, o munclo pés-colonial
6 um espago social! interligado; para muitos antropologos ~ talvez especialmente para os intelectuais deslocados.
do Terceiro Mundo ~ a identidade da "prépria sociedade" & uma questo em aberto
‘Um segundo problema com o modo como a diferenga cultural foi conceituada no projeto de “critica cultural”
que, uma vez excluido daquele dominio privilegiado de “nossa propria sociedade’, “o outro” é sutmente
40
natvizado ~colocado num quadro separado de andlise¢ “encarceraclo espacialmente” (Appaclurai 1988) naquele
cootto Tuga” que & proprio de urna ‘outa cultura”. A erica cultural supde uma separagito original, tansposta
pelo antropdlogo, no iniio do trabalho de campo. O problem ¢ de “contro”: comunicao no com um mundo
ocitl e econémico compartihado, mas “através de culturas" ¢ “entre sociedades"
Como altemativa para esse modo de penssr sobre a cliferenca cultural, queremos problemtizara unidade
do nds” aalteridade do “outro, e questionar a separicao radical entre 0$ dois que em primero lugar tora
st oposigio possivel, Estaiios menos interessados em estabelecer uma relacio disldgica entre sociedades
‘peografieamente distintas do que em explorar os processos de praduedo de diferenca em um mundo de
txpacos cultural, soci e economicamenteinterdependentes ¢interlgados. A diferenca ¢ fundamental € pode
‘erilustrada por um breve exame de um texto que foi altamente elogiado pelo movimento da “ertica cultura”
Nisa: The Ife and words of a kung woman, de Marjorie Shostak (1981), foi amplamente admirido por
sua utilizagio inovadora da histéria de vida, © saudado como um exemplo notivel da experimentacio
polilonica na escrita etnografica (Clifford 1986, 1988, p. 42; Marcus e Fischer 1985, pp. 58-59; Pratt 1986).
Todavia, em relagio 2s questdes que estamos discutinds, Nisa € um trabalho muito convencional €
profundamente defeitzoso, Ao individuo, Nisa, & concedido um grau de singularidade ~ mas ela € usada
principalmente como tepresentante de um tipo: "0 kung”, Bsses habitantes de Botswana (os “bosquimanos”
ide antigamente) so apresentados como um “povo" distinto, “outro” € ~obviamente ~ primordial. Shostak
tratu-os como sobreviventes de uma época evolucionaria anterior: eles so “uma das sihimas sociedades
tradicionais de eagadores-coletores existentes”,racialmente distntos, tradicionais ¢ isolados (op. cit, p. 4). Sua
cexperiéncia de “mudanca cultural” € “ainda bastante recente © tenue", ¢ seu sistem tradicional de valores
testa “quase intacto" idem, p. 6). O *contato” com “outros grupos” de povos agricolas ¢ pastoris ecorreu,
segundo Shostak, somente depois da década de 1920 e s6 depois dos anos 60 € que realmente acabou 0
isolamento dos tkung, levantando pela primeira ver. as questdes de “mudanca’, “adaptagto" e “contaro
ccultural* (idem, p. 346)
© espago que os tkung habitam, o deserto de Kalahari, € obviamente muito diferente e separado do
nosso. Repetidamente, « narrativa retorna ao tema do isolamento: em um cenitlo ecoldgico rude, um modo
de vida de milhares de anos atris foi preservado gracas apenas 2 seu extriordindtio isolamento espacial. A
tarefa da antrop.ilogia, como Shostak a concebe, é cruzar essa linha divis6ria espacial, entrar nessa terra que
o tempo esqueceu, uma terra (como Wilmsen [1989, p. 10} observa) com antighidade, mas sem hist6ria, para
‘ouvir as vozes das mulheres, que podem revelar “o que sua vida tein sido hi geragées, passivelmente hé
milhares de anos* (Shostak 1981, p. 6)
‘A exotizagio implicit nese retrato, em que os tkung aparecem quase como que vivenco num outro
planeta, suscitou surpreendentemente poucas esticas dos tedricos da etnografia. Patt (1986, p. 48) apontou
a
com razdo a “contradigio gritante” entre o retrato de seres primais intocados pela histéria ¢ a historia da
“conquista dos bosquimanos" pelos brancos, mareada pelo genocidio. Como ela afirma (op. cit, p. 49),
(Que imagem dos ang eciaros se, cm vez de defini-los como sbreviventes dade dapedra de uma adapta deca complet
1 desero de Kalahari, sos wssemos com scbreviventes dt expaso coptalisa ede uma deliadsecomplexasdapagSo a és
steulos de viténciae intimidagto?
Mas até mesmo Pratt mantém a nolo dos tkung como uma entidade ontolégica pré-existente —
“sobreviventes", nlo produtos (e muito menos produtores) de historia. “Eles" sio vitimas, tendo sofrido 0
processo mortal do “contato conosco".
‘Uma maneira muito diferente e muito mais uminadora de conceituar a
ser encontrada na recente e devastadora critica de Wilmsen (1989) a0 culto antropolégico do “bosquimano’
Wilmsen mostra como, em interac2o constante com uma rede mais ampla de relagbes socials, velo 2 se
produzir, pela primeira vez, a diferenga que Shostak toma como ponto de partida ~ de que modo, pode-se
dizer, “os bosquimanos” tomaram-se bosquimanos. Ele demonstra que o povo da lingua san tem estado em
interaco continua com outros grupos desde quando temos indicios; que as relagdes politicas e econdmicas
ligavam o supostamente isolado Kalahari a economia politica regional tanto na era colonial como pré-colonial,
‘que com frequéncia eles criaram gado; e que nao € possivel sustentar uma separagiio estrta entre os pastores
€0s forrageadores. Ble apresenta argumentos fortes para dizer que os 2hu (lung) nunca foram uma sociedade
sem classes, © que, se dio essa impressio, "é porque estio incorporados como subclasse numa formago
social mais ampla que inclui os batswana, 08 ovaherero e outros’ (Wilmsen, op. cit, p. 270). Ademais, ele
‘mostra que o r6tulo “bosquimano/san’ existe hd apenas meio século, tratando-se de uma categoria produzida
mediante a “retribalizacao" do periodo colonial (idem, p. 280); e que “o conservadorismo cultural atibuido
| esse povo por quase todos os antrop6logos que trabalharam com ele até recentemente é uma conseqiiéncia ~
do uma causa ~ do modo como ele foi integrado nas economias capitaistas modernas de Botswana ¢ da
Namibia” (idem, p. 12). Em relago ao espaco, Wilmsen (op. cit, p. 157) € inequtvoco:
Mo ¢ postvel flr do iclamento do Kaha, protgido po sass pépriak distin enorme, Par o que extavam dento, 0 fora
qualquer “for” que houvesse em determinado momento ~esteva sempre presente. A apna de solamente sua elidads de pobreza
exbulhada so prods recentes de um procsso que se deserrolos dente dis sculs €culmincy nos dtimos moments der
colon
© proceso de produgio da diferenca cultural, demonstra Wilmsen, ocorre em um espago continuo,
conectado, atravessado por relagdes econdmicas © politicas de desigualdade. Li onde Shostak supe a
diferenga como dada e concentra-se em ouvir “através das culturas", Wilmsen sealiza @ operagao mais radical
de interrogar a Yalterdade” do outto, stuando a producio da diferenga cltural no interior dos processos
historicos de um mundo social e espacialmente inteligado,
© que € preciso, entio, € mais do que um ouvido atento ¢ mios editorias habeis para eapturar
orquestrr a8 vores dos “outros"; € necessiria uina disposiglo para interrogar, politica ¢ historiamenre, 0
Spuente “dado de um mundo divididlo em primeito lugar entre “n6s" “outros”. Um primero passo ness
divegio ¢ ir adiante das conceprbes naturaizadas de “culturas” espacalizadas ¢ explorar, em vez disso, a
produea0 da iferenca dentro de espagos comuns, compartthados econectados ~"0s sa por exemplo, no
emo “um povo", ‘nativo" do deserto, mas como uma categoria historicamente constituida € des-possuida,
sistematicamente relegada ao desert.
De um mode mais geral, 0 passo pelo qual clamamas vai além da considerago da diferenca cultural
como 0 correlato de um mundo de “povos" cujas histérias separadas esperam que os antropélogos
Rubelecam as pontes, significa passar a vé-la coma produto de um proceso histGrico compantithado que
diferencia o mundo a0 mesmo tempo em que o conecta. Para os proponentes da “ertca cultural’, 3 diferenga
€ tomada como ponto de partida, no como produto final. Diante de um mundo dado de ‘sociedades
“ferentes", perguntam eles, como podemos usar a experiéncia de uma para comentar a outra? Mas, se
Gquestionamos um mundo pré-dado de “povos e culturss” separaclos ¢ distintos, ¢ vemos um conjunto de
relagdes produtoras de diferenca, ssimos de um projeto de justapos
de exploragio da construgio de diferengas num processo hist5rico,
Nessa perspectiva, 0 poder nio entra no quadro antropoligico apenas no momento da representacio ~
pois’a diferenciac2o cultural que 0 antropélogo tenta representar fol desde sempre proctzida dentro de um
‘umpo de relagées de poder. Ha, portanto, uma politica da alteridade que nao é redutivel a uma pottica da
representacio, As estratégas textals podem chamar a ateng3o para a politica da representacio, masa questio
Ga aleridade em si mesma nio é tratada pelos dispostivos da eonstrucio textual poliféniea ou da colaboragao
‘com informantes-escrtores, como autores como Cliford e Crapanzano parecem as vezes suger.
Alem da (e no em vez dat) experimentagio textual, hi uma necessidade de abordar a questio do
-Ocidente” e seus “outros” de uma forma que reconhega as czes extratextusis do problema, Por exemplo:
fo tema da 4rea de imigragao c das leis de imigragio € uma sirea prética em que a politica do espago € a
politica da alteridade ligam-se de forma muito direta. Com efeito, xe a separagio de lugares separados nao &
tum dado natural, mas um problema antropol6gico, & notivel como os anttopélogos tiveram to pouco a dizer
sobre as questées politicas contemporineas ligadas 2 imigragio nos Estados Unidos."* Se aceitamos um
de diferengas preexistentes para um,
1S. Enamon evidenemene conscientes de que uma consierivel quantdade de trabalho recente em anopoogiacenta-se na questo a
ining, Noenanto parce-nos qo boa pane deses esd pereanece mo nel da descio dacumestagto de padres tendncis da
‘nigap. mates verescomumenfaqe 6a inca poles, Stotrabalhosidscuvelmente importants com frequen, etteicamente
‘mundo de lugares originalmente separados e culturalmente distintos, entdo, a quest2o da politica de imigraglo
€ apenas uma questio de quanto deverfamos lutar para manter essa ordem original. Nessa perspectiva, as
proibicies de imigracdo sao um problema relativamente menor. Com efeito, operando com uma compreensio
‘espacialmente naturalizada da diferenca cultural, a imigragio descontrolada pode até parecer um perigo para
3 antropologia, ameagando borrar ou apagar a diferenga cultural dos lugares que € nosso “negécio", Se, por
outro lado, reconhecemos que a diferenga cultural € produzida e mantida num campo de relagdes de poder
em um mundo desde sempre interligado espacialmente, entio, a restricto & imigragao passa a ser vista como
lum dos principais meios pelos quais os sem-poder sio mantidos nessa situagao.
A *diferenga” imposta aos lugares toma-se, nessa perspectiva, parte integrante de um sistema global de
dominagio. A tarefa antropoldgica de desnaturalizar divisdes culturais e espaciaisliga-se, nesse ponto, A tarefa
politica de combater um muito literal “encarceramento espacial do nativo" (Appadurai 1988) em espacos
econdmicos reservados, assim parece, a pobreza, Nesse sentido, a mudanga na forma de pensarmos a8
relagdes de cultura, poder e espaco abre a possibilidade de mudar mais do que nossos textos. Hi espaco,
por exemplo, para muito mais envolvimento antropoldgico, tanto teérico quanto pritico, com a politica de
fronteira EUA/México, com 08 direitos politicos & de organizaglo dos tabalhadores imigrantes € com a
apropriagio de conceitos antropoldgicos de “cultura” ¢ “diferenga” pelo aparato ideolSgico repressivo das leis
de imigragao e pelas percepgdes populares de “estrangeiros" ¢ “alienigenas"
Uma certa unidade de lugar e povo foi assumica h4 muito tempo pelo conceito antropologico de cultura
No entanito, independentemente das representagdes antropol6gicas e das leis de imigraclo, “o nativo" esta
“encarcerado espackalmente” apenas em parte. A capacidade das pessoas de confundir as ordens espaciais
estabelecidas, mediante movimentos fisicos ou por meio de atos politicos e conceituais de reimaginacio,
significa que espaco e lugar nunca podem ser “dados", e que o processo de sua construgto sociopoliica deve
sempre ser levado em consideraglo. Uma antropologia cujos objetos no sto mais concebidos como
tutomaitica € naturalmente ancoraclos no espaco precisard dar ateng2o especial a0 modo como espacos €
lugares sto construidos, imaginados, contestados € impostos. Nesse sentido, nilo é um paradoxo dizer que
as questdes de espaco e lugar estio, nessa época desterrtorializada, mais do que nunca no centro da
representagio antropolégica,
tflcazes na arena poitica formal. Contudo, permanece o deafo de efrentr especficamente us quesdesculuris que envovern ©
‘mapenmeto ds teridae no espage, como sugeimes que & rece, Uma fra ci que pelo menos guts anropsogos lever eat
estes a sii da imigrgo mexicana par os Estados Unidos (por exemplo, Alvarez I, 1987, Bustamene 1987, Chavet 191, Keaeney
1986, 1990: Kearney Nagengast 1989, Route 1991). Ouzoexemploé Borneman (1986). qe € nove por mora os ago eapeition etre
les de imigrago hometobia nacional sexualidade, bo cso den migrants cuban "arts" pare os Estados Unidos
Conctusdo
‘Ao sugerir o requestionamento dos pressupostos espaciais imy
10s nos conceitos mais fundamentais €
aparentemente incuos das ciéncias sociais, tas como “cultura, “Sociedade”, “comunidade” e “nag30", n8o
pretendemos estabelecer um plano detalhado para um aparato conceitual altemativo, Queremos, poréim,
spontar algumas diregdes promissoras para o futuro,
Um veio extremamente rico foi atingido por aqueles que tentam teorizar a intersicialidade e © hibrdismo,
na situaglo pés-olonial (Bhabha 1989, Hannere 1987, Rushalie 1969); para povos que vivem em fronteiras
nacionais © culturais (Anzaldua 1967; Rosaldo 1987, 1988, 1989); para refugiados e deslocades (Ghosh 1989,
Malkki);"® € no caso dos migrantes e trabalhadores (Leonard 1992), A “politica e cultura sincrética, adaptativa’
do hibridismo, observa Bhabhu (1989, p. 64), questiona “as nogdes imperialists e colonialist de pureza tanto
quanto (..) a8 nogdes nacionalstas”. Resta ver que tipos de politcas slo possbilitadas por essa teorizagio do
hibrdismo e em que medica ela pode acabar com todas as reivindicagdes de autenticidade, todas as formas de
essenciallsmo, estatépicas ou nfo (ver especialmente Radhakrishnan 1987), Bhabha (op. cit, p. 67) aponta para
a conexio perturbadora entre reivindicages de pureza ¢ teleologia ut6
pereeber que
| 20 descrever como chegou a
(nico lugar no mundo de ond flr er um ponto em gv a contra, oantagonismo, oe hibridismos da inflata cultural, as
‘rors ds es no exam nega sapeaas em algun send ipsa de ergo oa retorno, © lug de ade fase
esa ncomensudvea connie dentro das quae a estos sobreviver, lo polticamente avs ¢mican,
rave
As frontetras so justamente esses lugares de “contradigdes incomensuraveis". O termo nao indica um
local topografco fixo entre dois outs loess Rixos agtes, sociedad, cules), mas uma zona interstictal
de desiocamentoe desterrtorializagio, que conforma a identidade do sujeito hibridizado, Em vez de
descartila como insignificant, zona marginal esteits faa de tera entre lugares estiveis, queremos sustentar
ue a nogdo de frontera é uma conceituacio mais adequada do local “normal” do sujeito pds-modemo
Oura divegto promissora que nos teva adiante da cultura como fendmeno espaciaimente localizado €
proporcionada pela anise do que € chamado de “meios de comunicagio de massa", “cultura publica” ¢
indkstria cultural”. (Niss0, tem sido muito iafluente a revista Public Culture) Existindo simbioticamente com
«forma de mercadoria,influenciando profundamente os povos mais remotos de cujoestudo os antropélogos
fizeram um ta fetiche, 0s mass media apresentam o desafio mais laos nogbes ortodoxas de cultura. £ claro
16, Ct Cult Amropology V0.7, Fever de 1992. do}
45
que as fronteiras locais, regionais ¢ nacionais nunca contiveram a cultura da maneira como supunham amiide
as representagdes antropol6gicas. Porém, a existéncia de uma esfera piiblica transnacional significa que no
€ mais possivel sustentar a ficglo de que essas fronteiras encerram culturas e regulam trocas culturais,
A produgio e distribuicio da cultura de massa ~ filmes, programas de ridio e televisto, jomnais, discos,
livros, concertos ao vivo - ¢ controlada, em larga medida, por aquelas organizagdes notoriamente sem lugar,
as empresas multinacionais, A “esfera publica" é, portanto, dificlmente publica no que se refere a0 controle
sobre as representagdes que nela circulam. Os trabalhos recentes nessa drea enfatizam os perigos de reduzir
1 recepelo da produg2o cultural multinacional ao consumo passivo, no deixando espaco para criagao ativa
de agentes de disjungdes € deslocamentos entre o fluxo de mercadorias industriais e procutos cultura.
Preocupa-nos, porém, da mesma forma, 0 perigo oposto de celebrar a inventividade dos “consumidores" da
industria cultural (especialmente na perifeia), que adaptam de maneira bastante diferente os produtos a eles
vendidos, ceinterpretando-os e refazendo-os, as vezes de forma muito diferente e, outras vezes, numa direg2o
que promove a resisténcia em vez do conformismo. © perigo, aqui, reside na tentaglo de usar os exemplos
dispersos dos fluxos culturais que gotejam da “periferia" para os principais centros da indilstria cultural como
luma maneira de descartar a “grande narrativa” do capitalismo (em especial, a natrativa “totalizante” do
apitalismo tardio)e, assim, evitar as poderosas questées politicas associadas a hegemonia global do Ocidente
A reconceituaglo do espaco implicita nas teorias da intersticialidade ¢ da cultura ptiblica levou a esforgos
ppara conceituar a diferenca cultural sem invocar a idéia ortodoxa de “cultura”. Trita-se de uma dea em larga
medida ainda inexplorada ¢ pouco desenvolvida, Encontramos claramente a reuni2o de priticas culturals que
rio ‘pertencem’ a um “povo" em particular ou a um lugar definido. Jameson (1964) tentou capturar a
pecullaridade dessas priticas na nogdo de uma “dominate cultural’, 20 passo que Ferguson (1990) propos uma
‘idéia de “estilo cultural” que busca uma lgica de priticas superficiais sem necessariamente circunscrever essas
Priticas num “modo total de vida" que abranj valores, crengas, atkudes etc, como no conceito usual de cultura,
Precisamos explorar 0 que Hommi Bhabha (1989, p. 72) chama de “o estranho da diferenca cultural
A ifeeng eter toma-se um problema no quando se pode spontr para a Venus htnote, ou pare o punk cyjoncabelos eto
‘expetador no a; elt nfo tem esc spo de visite posivel de xa, cot & estanheza do fair que ela 3b tors mais
‘roblemdtica, tanto polica quant conceitulmente(.) quando o problema da difereng cura énb-enguanto-utros,outios
quam née, ea fone
Por que enfocar essa fronteira? Argumentamos que a desterritorializagao desestabilizou a fixidez do ‘nds
€ do “outro”. Mas ndo criou sujeitos que sejam ménadas livremente flutuantes, apesar do que €, as vezes,
ressuposto por aqueles que se mostram vidos em celebrar a liberdade e 0 aspecto liidico da condigao
pés-modema, Como observam Martin € Mohanty (1986, p. 194), a indeterminagao também tem limites
|
|
polticos que derivam da negaso da prépialoalizar20 do exkico em campos miplos de poder. Em vez
Fe pos detemnos na noc de destertorializagio, na pulverizacio do espago da alta modemnidade, precisamos
feariar de que modo espago esti sendo reteritorinizado no mundo contemporineo. Precissinos
sRiologicamente dar conta do fato de que a “distincia” entre 08 icos de Bombaim ¢ os ricos de Londres
pode ser menor do que entre diferentes classes na mesma cidade. A localizacio fsica € 0 terri fio,
Eymnte tanto tempo a rinica grade sobre a qual a diferenga cultural podia ser cesenhada, precisa ser
Substituida por grades miitiplas que nos pemitam ver que conexio v contigbidade ~ de modo mais geral, &
representacio de temitGrio ~ variam consideravelmente gougas a fatores como classe, género, raga €
Cexualidade, e estio disponiveis cle forma diferenciuda aos que se encontram em locais diferentes do campo
do poder,
Biologratia
ALVAREZ. JR, Robert R. (1987) Fanilia: Migrcion and adaptation in Baka and Alta Calfonia, 1800-1978. Bekele: University of
California Pras.
ANDERSON. Bert (193) agin communis: Recon nthe erin and sre of mina, Landes: Ver
|ANZALDUA, Gloria (1987) Borderand/La Fronts: The ew mein, Sto Francisco (Califia Spnsters/ Aunt Lae
"APPADURAL Asjun (1986) “Theory in antvopology: Centr and periphery". Comparative Studies in Society and Hor. vl. 28. 08 1, pp
356-361.
1988) -Pating hierarchy int place” Cultural Antiropoley ve 3. 1, pp. 249,
[BAUDRILLARD.Jeen (1988) Selected writing, Stanford (Cain) Stanford Universiy Press
[DHABMA, Hom K. (1980) “Location, intervention, incommensrbiliy: A conversation with Homi Bhabha". Emergence, vol. Ln, p
a8
[ISHARAT, George (1992)“Tansformtions inthe oli role and soa deny of palestnian refugees inthe West Bak’, In: ROUSE. Roget,
FERGUSON, ames GUPTA, Akhil eds.) Cult, power. place: Explorations vical anthropology. Boulder (Colada): Westviw
Pes
BORNEMAN, Sohn (1986) “Engrs as bullesfinmignton ae penetration: Perceptions ofthe marilits”, Journal of Popular Culture, vk, 20.
3. pp. 7392,
[BUSTAMENTE, Jorg (1987) “Mexican immigration a domestic isu or an nteratonal reality” In: FERNANDEZ, Gast, NAGEL, Bevery
{eNARVAEZ, Lesa (eds) Hispanie migration andthe Unied Stats std police. Bris (Indiana: Wyadhr Hal Press, pp. 1320
CHAVEZ, Leo (1991 “Outside the inagiod community: Undocumented seers std experiences of inception” American Eiaolos ol
982, pp 257-278
ar
(CLIFFORD. James (1986) "On etwogrptic lego” In: CLIFFORD, lames e MARCUS, George (es) Writing culture: The poetics and plies
of ethnography, Berkeley: University of Calera Press, pp 98-12.
(1988) The predicament of eltare. Cambridge (Masseuse): Harvard University Press
(COHEN, Anthony (1985) The spell conuructon of community. Nova York: Tavistock
DAVIS, Mike (1984) “The political economy of ate-imperslAterea’”, New Left Review 2 143, pp. 638
DELEUZE. Giles ¢ GUATTARI, Félix (1987) A shourand plateaus Capalom and schizophrenia, Minaeapols: University of Minnesota Press.
FERGUSON, James (1990) “Cultural style a inscription: Toward a oltial eonomy of the syled body”, Comunicago presenta revi da
Americar Euhologeal Society, Alana,
FOUCAULT, Michel (1982) PowerAowledge, Nova York: Panton
‘GHOSE, Amity (1989) The shadow lines. Nova York Viking.
HANDLER, Richard (198) Nata and he polis of cadre in Qube, Mason: Univers of Wiscrsin Pes.
HANNERZ, UI (1986) “Theory in anthropology: Smal is beaut the prblemf complex cultures". Comparative Stiies in Secety and Hstry.
vol. 28, 2, pp. 362-67
(1987) "The worl in creoizaton” fic, vol. 57. 4, pp. 346550.
HARVEY, Davi (1989) The contin of ostmoderiy: Am enquiry it the origins of eullural change, Nova Yor: Blackwell
LMEBDIGE, Dick (1987) Cua mix: Culture, identity and carbbeon music, Londes: Methuen
LMERZPELD, Michel (1987) Anthropology hrovgh the foting-slats: Crea etnegraphy in she margins of Europe Nova York: Cambridge
University Pres
LHOBSBAWM, Exc e RANGER, Terrence (eds) (1983) The invention of ration. Nova York: Cambridge University Press
JAMESON, Fredric (1984) "Postmodemism, or the eat logic of late capitalism”, New Let Renew 146, pp. 53-92
KAPEERER, Bruce (1988) Lependt of peopl, myths of State: Violence, tolerance, and poltica culture In Sri Lanka and Australia Washington
(D.C): Smithsonian Isition Press
KAPLAN, Caten (1987) "Detentions: Therewrng of home desi in weer feminist discourse, Cultural Critique n®6, pp. 167-198
KEARNEY, Michal (1986) “From he invisible hand othe visible eet: Amtvopologicl sade of migration and evelopment". Anal Review
af oshropology 15, pp. 331-361.
(1990) "Borders and boundaries of tte and self atthe endo Bopite”, Riverside: Univer f California, Deparment of Anthropology
[manuseit nétit,
KEARNEY, Michue! © NAGENGAST, Carol (1985) "Antropological perspectives of trasnaionl communis in raat Califia, Working
‘Group on Farm labor and nan poverty”. Working popet 3. Davis (Califia: California Insite for Rul Stasis
LEONARD, Keren (1992) “Finding one's own place: The impostin of stan landscapes on rr Califor”. n: ROUSE, Roger. FERGUSON,
James © GUPTA, Aki (eds) Power, place: Eeplovions i critical achropoogy. Boulder (Colorado: Wesview Pres.
MANDEL, Ernest (1975) Lave eaptalism. Nov York: Vero
J
MARCUS, Georg Ee FISHER, Michie! MJ. 1986) dutrpology os culuralrtgue: An experimental moment in the human winees. Chisago
(ahi) University of Chicago Pes.
MARTIN, Bidfy e MOHANTY, Chana Tepe 1986 Teri polis: What's ome ots wth i" he DE LAURETIS, Testa ed) Feminist
studs) Critical ss. Boingo: Tans Univesy Pas, p,19L-212
MORRIS, Wiiam (1970) News fom Nowhere. Londres: Reed (19)
PETERS, John (192) “Nearsigh and far sigh: Mea plose, and cule" he ROUSE, Roger, FERGUSON, James © GUPTA, Aki (ed) Power,
place: Explorations Ineriealaatrepoigy Boule (Cok; Wesview Pres
PRATT, Mary Lovie (1986) “Fieldwork in common places. n> CLIFFORD, James e MARCUS, George (es) Wing ular: The potesond
pote of thnograpy Berkeley: Uiversity of Califia Press pp. 98-121
RHADAKRISHNAN, R. (1987) “Ethie identity and pos srurerlist ifesence”, Culnral Critique n 6, pp. 198-208
ROBERTSON, Jeoier (198) “Fuwsito, Japan: The ule and pois of resale Politics, Cale, and Soviet, va. a, pp. 494-18
190 Need noncomer: Making and nonaking japanese cy. Bekele: University of California Pres
ROSALDO, Renato (1987 “Poles, prac, and laughter”. Caltuol Crtigue a6, pp. 65-6,
1988 "ideology, place and pene without cur”, Calva Anthrpolog, vol. 3, #2, pp. 787
11989) Cadre dr: The remaking of social analysis Boston (Masachosets: Beacon Pres
ROUSE, Roger (191) “Mexican migration andthe social pe of pos-modemisn” Diaspora, vob #2 1, pp. 23
‘RUSHDIE, Satan (1989) The satanic vers Nova Vest: Viking.
SAID, Emad W, (1979) "Zins ro dhe anpoint of its vit”, Soil Text! pp. 7-58
SHOSTAK, Marjorie 1981) isn: the fe and wars of eng women. Cambridge (Massocusci): Harvard Univesity Pres
WILLIAMS, Reprond 1973) The cowry andthe ct. Nova Yotk: Oxford Univessiy Pres
[WILMSEN, Edwin 8 (198 Land filed with fle: A political conan ofthe Kalu, Chicago Minis): Unversity of Chicago Press
‘WRIGHT, Pack 198) On iting n an old country: Te aol past in contemporary Brian. Londres Vere
You might also like
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusFrom EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusNo ratings yet
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)From EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No ratings yet
- Gestão de Documentos em Minas Gerais: experiências e perspectivasFrom EverandGestão de Documentos em Minas Gerais: experiências e perspectivasNo ratings yet
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoFrom EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoNo ratings yet
- La petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseFrom EverandLa petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseNo ratings yet
- Diálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasFrom EverandDiálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasNo ratings yet
- Análise Matemática No Século XixFrom EverandAnálise Matemática No Século XixNo ratings yet
- A Contente Mãe Gentil Rumo Ao BicentenárioFrom EverandA Contente Mãe Gentil Rumo Ao BicentenárioNo ratings yet
- Chakras, Kundalini e Poderes Paranormais: Revelações inéditas sobre os centros de força do corpo e sobre o despertamento do poder internoFrom EverandChakras, Kundalini e Poderes Paranormais: Revelações inéditas sobre os centros de força do corpo e sobre o despertamento do poder internoRating: 4 out of 5 stars4/5 (10)
- Cartilha Plano Diretor - CópiaDocument70 pagesCartilha Plano Diretor - CópiaCarlos Eduardo MarquesNo ratings yet
- Lifschitz Neocomunidades Reconstruções de Territorios e SaberesDocument20 pagesLifschitz Neocomunidades Reconstruções de Territorios e SaberesCarlos Eduardo MarquesNo ratings yet
- 1988 Latour Science in Action W NotesDocument313 pages1988 Latour Science in Action W NotesNatali ValdezNo ratings yet
- As Lendas Da Criação e Destruição Do Mundo-Curt Nimuendaju UnkelDocument85 pagesAs Lendas Da Criação e Destruição Do Mundo-Curt Nimuendaju UnkelCarlos Eduardo Marques100% (1)