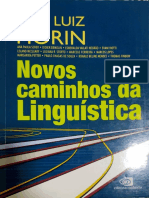Professional Documents
Culture Documents
Ligia Militz Da Costa A Poética de Aristóteles
Ligia Militz Da Costa A Poética de Aristóteles
Uploaded by
Dayh Quadros0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views41 pagesOriginal Title
Ligia Militz da Costa A Poética de Aristóteles
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views41 pagesLigia Militz Da Costa A Poética de Aristóteles
Ligia Militz Da Costa A Poética de Aristóteles
Uploaded by
Dayh QuadrosCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 41
A —_ DE
ARISTOTELES
Mimese e verossimilhanca
“RETOMBADO
4g. 98
0300042413 .
a:
_—_—
Editor
Nelson dos Reis
Preparagao de texto
Claudemir Donizeti de Andrade .
Revisaéo \
Carlos José da Silva Felix ‘ rie
Edigdo de arte (miolo) i Sumario
Milton Takeda :
Coordenagao grafica
Jorge Okura
Composig¢ao/paginagao em video
José Anacleto Santana
Maria Alice Silvestre
Capa
Ary Normanha
Antonio Ubirajara Domiencio
“QUARR
$08.5
C833 40 1. Introdugao
eon, A quest&éo da mimese
umpresto eacabamenio
gengrat 2. Revisdo comentada da Poética
Tel: 296-1630
5
oe ess—SS
O texto aristotélico __-____..._—s= si
9
9
Abertura do texto (cap. I, §§ 1 e 2)
Critérios distintivos da mimese (cap. I, § 3, ao
cap. III) 10
A poesia e suas espécies (cap. IVe V)_________ 13
A teoria da tragédia (cap. VI a XXII) _______ 18
A teoria da epopéia (cap. XXIII e XXIV) 37
ISBN 8508 04055 5 A poesia (arte literdria) e a verossimilhanga
(cap. XXV) 40 -
1992 A superioridade da tragédia sobre a epopéia
Todos os sireites reservados (cap. XXVI) ____________________ 44
Editora Atica S.A. 7 toe
Rua Bardo de Iguape, 110 — CEP 01507 3. A mimese e a verossimilhanga na
Tel.: PABX (011) 278-9322 — Caixa Postal 8656 Poética 47
End. Telegrfico “Bomlivro” — Fax: (011) 277-4146 ot
$40 Paulo (SP) Principais aspectos do texto ________________ 47
Proposic6es conceituais _________ 53
4. A permanéncia do conceito de
mimese na teoria da literatura
contemporanea_____________ 55
Mimese e lingiiistica estrutural _________-~—=—Ss‘ 56
Mimese e representacdo social ___________ 59
Mimese e hermenéutica tA
5. Concluséo___
6. Vocabulario critico_.... 7
7. Bibliografia comentada____ Ss 5
Faculdade
de Ciencias
¢ Lewes
A questado da mimese
Nos comegos da civilizagéo grega, a palavra mimesis
ndo se apresentava com uma significacdo unica. A ativi-
dade de imitar, que estava na base de todas as suas acep-
Ges, nunca correspondeu, entretanto, a qualquer realismo
grosseiro.
Entre os antigos, Platéo (4272-347? a.C.) concedeu
A palavra importancia capital, compreendendo-a como
um tipo de produtividade que nao criava objetos ‘‘origi-
hais’’, mas apenas cépias (eikones) distintas do que seria
a “verdadeira realidade’”’. Platdo € 0 primeiro a expor,
com clareza e fundamentacao, as afirmacées surgidas sobre
as teorias do belo no inicio do pensamento ocidental. Ele —
sa_a ligacdo existente, em toda a Antigiiidade, entre
a concepgio dearie © o caréter onaldgico de valores meta
fisicos e empenhativos. Vinculada a uma origem divina e
misteriosa, a arte participa, nessa concepgao, do ser origind-
tio, devendo por isso ‘‘imitar’’, no seu contetido, a reali-
dade das formas ¢ das idéias primigénias. Como na maioria
das vezes isso nao acontece, ou seja, a mimese é apenas
4
verossimil e nao visa esséncia das coisas, nem a verdadeira
natureza dos objetos particulares, ela é falsa e ilusdria,
sendo prejudicial € perigosa ao discurso ideal do fildsofo.
Distante das mais altas exigéncias pedagdégicas e morais e
limitada a representar, num terceiro nivel, as formas origi-
narias, a mimese foi depreciada por Plato. Privilegiando
a verdade, o filésofo considerou as imagens miméticas
como imitacao da imitacao, j4 que elas imitavam a propria
pessoa e o mundo do artista, os quais, por sua vez, j4 eram
imitacdo (sombra e miragem) da “verdadeira’”’ realidade
original. — ~~
“Discipulo de Platdo, Aristételes (384-322 a.C.) recebeu
do mestre a palavra mimese. Refutou, contudo, o conceito
platénico, enaltecendo o valor da arte justamente pela auto-
nhomia do processo mimético face a verdade preestabeleci-
ds. Adstieles ransformou a obra numa produ Dye
tiva e carente de empenho existencial e alterou, « cor
a relagéo que ela apresentava com a sacralidade «
De ontoldgica, a arte passa a ter, com ele, uma concepcao
estética, ndo significando mais ‘‘imitago’’ do mundo exte-
rior, mas fornecendo “‘possiveis”” interpretagdes do real
através de acSes, pensamentos ¢ palavras, de experiéncias
existenciais imagindrias. Afastada da perfeicéo, da di
dade e da verdade primigénia, a mimese afirma-se como a
representacdo do que “poderia ser”, assumindo o cardter
de fabula. O critério do verossimil, que merecera a critica
de Platao por ser apenas ilusdo da verdade, torna-se, com
Aristételes, o principio que garante a autonomia da arte
mimeética.
O texto aristotélico
Reconhecido como o texto fundador da teoria da lite-
ratura do Ocidente, a Poética consiste no primeiro tratado
sistematico sobre o discurso literario. E discurso literdrio,
no texto aristotélico, identifica-se com a nogéo de mimese
poética.
Na verdade, a Poética € um texto eliptico e obscuro,
um conjunto de anotagées resumidas para serem utilizadas
didaticamente por Aristételes nas suas atividades como pro-
fessor. Os enunciados ndo‘.desenvolvidos que compdem
seus 26 capitulos justificam a resisténcia que a obra apre-
senta, para uma elucidacdio mais univoca de seu conteido
ao longo do tempo.
Mal conhecida na Idade Média, época ligada mais aos
problemas légicos ¢ metafisicos, a Poética passou a sér
divulgada na Europa em principios do século XVI, quando
humanistas italianos do Renascimento traduziram, comenta-
ram e interpretaram o texto, praticamente estabelecendo a
doutrina aristotélica. A partir dai, exerceu ampla e significa-
tiva influéncia nos séculos que se seguiram.
_A_mimese & reconhecida como. a nogdo de capital
importancia na Poéfica, ainda que Aristételes nao tenha
_chegado a defini-la nitidamente nos seus escritos. Junto com
a mimese, 0 mito e a catarse formam a base de sua teoria
da arte poética (literdria). O texto, contudo, circunscreve-
se aos limites da tragédia e da epopéia, oferecendo apenas
como promessa o estudo posterior de outras espécies de
“‘poesia’’, como € o caso da comédia, citada no inicio do
capitulo VI. Nao hé4, entretanto, nenhuma referéncia con-
creta da existéncia de outro documento dessa natureza con-
tendo a continuagdo prometida do estudo teérico das
demais espécies.
As-edigdes existentes da Poética, atualmente, baseiam-
dois manuscritos gregos: 0 Parisinus 1741, que data
do século X e é o manuscrito principal, e 0 Ricardianus
46, datado do século XIV, o qual, embora mutilado, com-
plementa o Parisinus 1741;
© um manuscrito arabe: a Versdo Arabe, do século X,
que remete ao texto grego através de uma versao siriaca;
8
3s FFs
* dois manuscritos latinos: 0 Toletanus, escrito em
torno de 1280, e o Etonensis, de 1300, os quais testemu-
nham a tradugdo latina da Poética, efetuada em 1278 por
M. Moerbeke.
2
Revisao comentada
da Poética
Uma leitura/reescritura completa da Poética, pautada
no seu contetido e ordem seqiiencial através do cotejo de
tr@s traducdes! e das notas e estudos que as complementam,
permite uma remontagem exegética do texto, capaz de fun-
cionar, por um lado, com a objetividade de um sumédrio
abrangente e, por outro, como um quadro referencial eluci-
dativo para as indagacGes progressivas acerca da mimese.
Considerando o tema de que trata, a Poética pode ser
seccionada em sete tépicos, conforme a disposi¢do e subdi-
vis6es apresentadas a seguir.
Abertura do texto (cap. |, 88 1 e 2)
— proposta de estudo da poesia e de suas espécies
como artes miméticas
No paragrafo inicial do primeiro capitulo, Aristoteles
aponta a poesia como o alvo de sua investigacdo e dimen-
+ As tradugdes utilizadas foram: ARIsTOTELES, Podtica; ARISTOTE
- Hordcio, Lonaino, A poética cldssica. Trad. e notas de Jaime Bruna.
Sao Paulo, Cultrix, 1981; ARISTOTE, La poétique.
10
siona, como num indice, a extenséo de seu estudo acerca
da arte poética: trataré da poesia em si mesma (como géne-
ro); de suas espécies — consideradas segundo sua finali-
dade prépria; da maneira como devem ser compostos os
mitos (histérias ou fabulas), para que o poema resulte per-
feito; e da natureza das partes que constituem o poema.
Quando diz, no final do pardgrafo, que comecara, como é
natural, pelas coisas primeiras, fica evidenciado que se utili-
zara do método de classificagéo do naturalista, que obe-
dece 4 ordem prépria da natureza, comecando pelas nogées
mais elementares.
No segundo paragrafo, 0 autor procede 4 enumeracdo
das espécies de poesia — epopéia, tragédia, comédia, diti-
rambo, aulética e citaristica —, ressaltando, primeiro, o
Ponto comum entre elas: todas séo, em geral, imitagdes?
(construgdes_miméticas); depois, fala de suas diferencas:
diferem entre si porque imitam segundo meios, objetos ou
modos diversos.
i
e escultores) e também a voz (suporte sonoro), Aristdteles
passa a enfatizar aqueles que séo os meios-prépries~das
‘artes poéticas: o ritmo,.a linguagem-—(canta).¢ a harmonia
(metro). A_aulética e a citaristica exemplificam as artes
que se utilizam somente da harmonia e.do.ritme; a danca
serve-se apenas do ritmo e, desenhando coreograficamente
figuras com 0 corpo, imita caracteres, emogGes e agées;
a arte que se vale exclusivamente da linguagem como
Messificados) ow nio_(peaea.como_combinas diferente
9s ou nao Usar nenhum, nda possui denominacao espe-
3
—> Risse fato determina que as diversas composigées imita-
tivas, como os mimos de S6fron e de Xenarco e os didlo-
OS socraticos, ndo possam ser indicadas por um termo
comum/Ao contrario, 0 que acontece é a designacdo dos
‘poetas pelo tipo de metro que usam e ndo pela imitacéo
que praticam, como é 0 caso dos chamados ‘‘poetas elegia-
os’? — os que usam 0 distico elegiaco: um hexdmetro
‘seguido de um pentémetro — e dos ‘‘poetas épicos”” — os
/Srsvios distintivés da mimese J
cap. |, § 3, ao cap. Ill)
‘que usam o metro herdéico: hex4metro dactilico. .
— Aristoteles ressalta criticamente a inadequacdo do termo
\ OB poeta?” a todo Sa Meee Ae ee
— meios, objetos e modos x om m_assunto, /€ita Empédocles e Homero para mostrar o
ss
Ainda no primeiro capitulo s4o apresentados os meios
através dos quais se da a imitacdo. Citando as cores e as
figuras como meios utilizados por alguns artistas (pintores
2 De maneira geral, o termo grego mimesis & traduzido por “imitacéo”’,
como aparece nas traducdes de Eudoro de Sousa e Jaime Bruna. Na
verso francesa de Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot, entretanto, 0
termo é traduzido por ‘‘representaco”’, preferido a ‘‘imitagao” por
guardar um sentido teatral ¢ por conter polivaléncia semantica propria
da mimese: a de nao privilegiar nem 0 objeto-modelo, nem o objeto
Produzido, contendo a ambos simultaneamente (Introduction. In:
ArisToTE. La poétique. Paris, Seuil, 1980, p. 17-20).
primeiro como mais naturalista (fisidlogo) do que poeta, e
© segundo, como poeta propriamente dito, apesar de os
dois serem versificadores. Com isso, reforga a importancia
do critério dos objetos sobre 0 dos meios na abordagem
da arte poética e exemplifica essa posic&o, estendendo e legi-
timando a condic&o de poeta a Querémon, que, mesmo
“3 Jaime Bruna aponta o termo “‘literatura’’ para designar a reunido des-
¥ sas composigdes imitativas (A poética cldssica. Sao Paulo, Cultrix, 1981,
cap. I, nota 3, p. 19).
Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot referem esse conjunto geral como
“composition en mots” (La poétique, cap. 1, nota 8, p. 150).
ce a
wy
12
combinando todos os metros, construiu uma representagdo:
a rapsddia Centauro.
O capitulo I fecha-se voltando a sintese reiterativa de
que ha artes que se utilizam nao sé da linguagem (canto),
mas também dos dois outros meios (ritmo e metro), como
€ 0 caso da poesia ditirambica, dos nomos, da tragédia e
da comédia, que diferem entre si, porque os usam conjun-
tamente e, outras, em separado.
Na seqiiéncia do estabelecimento das diferencas entre
as artes miméticas, o autor passa a tratar do objeto da imi-
tacao, representado nos homens em acdo. Estes se caracte-
rizam eticamente como bons ou maus, uma vez admitido
© principio de que 0 vicio e a virtude distinguem as pesso
em_matéria de cardter. A imitacfo que o poeta faz sera,
necessariamente, de homens melhores, piores ou iguais a
nds, a exemplo do que fazem os pintores, como Polignoto,
que representou homens superiores, Pauson, iferiores, e
Dionisio, homens semelhantes ands.
Essa diferenca quanto ao objeto de imitacdo esta pre-
sente também na arte da danga, da flauta e da citara, como
nos géneros poéticos que usam a linguagem em prosa ou
verso como meio; a mesma diferenga € responsdvel ainda
pela distingao entre tragédia e comédia: a primeira repre-
senta os homens melhores do que sao e, a segunda, piores.
Nesse capitulo (II), Aristoteles associa a mimese, a i
\do dominio poético, coma transformagao ética do objeto-
modelo, para melhor (como faz Homero) ou para pior (como
Hegémon de Tasos e Nicdcares). ~
A Poética reconhece explicitamente como géneros
somente a tragédia, a epopéia e a comédia, ou seja, as espé-
cies miméticas que implicam a transformacdo do cardter
do modelo (homem comum) para melhor (tragédia e epo-
péia) ou para pior (comédia). A representacao de seres
semelhantes aos comuns, como o fazem Dionisio (na pintu-
ra) e Cleéfon (na poesia), mesmo que dada como possivel
/
13
(§ 1, cap. II), nao engendra a formagdo de um género poé-
tico na tipologia de Aristdteles. ¢
O modo como se realiza a imitagao € 0 terceiro critério
distintivo da mimese. Os modos sdo dois: 0 narrativo, quando
se narra pela voz de uma personagem, a exemplo de Homero,
ou em primeira pessoa, e 0 dramatico, quando as préprias
pessoas imitadas agem, sdo os autores da representacao.
Comparando as artes miméticas, a imitacdo de S6fo-
cles (autor de tragédias) ¢ a. de Homero (autor de epopéias)
s¢_aproximam, s¢ for_considerado_o-abielo-aue-imitam:
ambas representam seres superiores aos ins. Sofocles,
igualmente, pode ser comparado a Aristéfanes (autor de
comédias), do ponto de vista do modo da imitagéo. Ambos
imitam pessoas agindo, fazendo o drama. A partir do fato_
de que os poetas imitam pessoas em acdo (drontas), Arist6-
teles registra a afirmacao, defendida por alguns, de ser essa
a origem etimoldgica, a causa do uso da palavra ‘‘drama’”’
para tais formas de composicao. O final do pardgrafo que
conclui o capitulo III retine, no entanto, elementos que reve-
lam a situagdo polémica quanto as origens da tragédia e
da comédia, através da etimologia dos termos em que sao
expressas.
A poesia e suas espécies (cap. IV e V)
a) causas do aparecimento (IV)
Duas causas naturais d4o conta do surgimento da poesia: _
* o homem tem uma tendéncia congénita para imitar
e encontrar prazer nas imitacGes;
* o homem tem uma disposicdo congénita para a melo-
dia ¢ o ritmo.
4 A observacdo é desenvolvida por Roselyne Dupont-Roc ¢ Jean Lallot,
quando examinam as relaces entre a mimese e a ordem ética (op. cit.,
cap. 2, p. 157-8).
14
oe
Com relagéo a primeira causa, o texto indica que a
congenialidade da imitacéo no homem manifesta-se tanto
na producao das representacées como na sua Tecep¢ao, ou
seja, no prazer que os homens experimentam diante delas.
A afinidade com a representacdo mostra-se, entretanto, vin-
culada a outra tendéncia também natural no homem: a
aprendizagem, o conhecimento. A produgio de representa-
g0es, consistindo num trabalho de abstracdo da forma pro-
pria, corresponde a uma aprendizagem, uma vez que se
constitui numa maneira de o homem elevar-se do particular
para o geral.* Por outro lado, o conhecimento decorrente
da contemplacao das representacées é explicitado pelas pré-
prias palavras da Poética:
Nos _contemplamos com prazer as imag mais exatas
daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnancia,
Ror exemplo, (as representagdes de) animals terozes € (de)
‘eres. Causa 6 que 0 aprender nao sO multo apraz aos
fildsofos, mas também, igualmente, aos cemats nomens, se
bem que ‘menos paricisonr dele- Efstiamente-Tare-wmronve
Por que se deleitam perante as Imagens: OMmango-as, apren-
dem e discorrem sobre o que seja Cada uma deltas, (6 dIraoy-
por exemplo, “este 6 tar ©
Evidencia-se, a partir dai, que o prazer para o qual a
representacdo aponta é um _prazer intelectual e de reconhe-
cimento, que associa a forma imitada com um objeto natu-
ral conhecido.” O autor inclusive salienta que “se suceder
que alguém nao tenha visto o original, nenhum prazer lhe
advira da imagem, como imitac4o, mas tao-somente da exe-
$ Essa forma de conhecimento operada pela mimese, enquanto producdo,
€ explicada por Roselyne Dupont-Roc e Jean Lailot (op. cit., cap. 4,
nota 1, p. 164).
6 Trad. de Eudoro de Sousa (cap. IV, Poética, Porto Alegre, Globo,
196, p. 71).
7 Sobre o prazer que a representacdo proporciona, Roselyne Dupont-Roc
¢ Jean-Lallot esclarecem: ‘‘O quadro que abstrai a forma exata do
modelo apela para as faculdades de raciocinio e proporciona, através
do reconhecimento, o prazer da descoberta que é, a0 mesmo tempo, o
prazer do espanto e o prazer da compreensio: ‘Olha, € ele e, portanto,
esta é sua forma particular’ ” (op. cit., cap. 4, nota 3, p. 165).
Seni Ree
15
cacao, da cor ou qualquer outra causa da mesma espécie’’. 8
nao houver, portanto, o conhecimento prévio do modelo
‘al, também nao podera haver o prazer que a mimese
‘mina ‘azer de reconhecimento, que se acompa-
a de uma aprendizagem.
T/A segunda causa para o nascimento da poesia é a dis-
posigao também natural no homem para a melodia e °
ritmo, o qual inclui os metros ou versos; essa tendéncia
determinou improvisacées por parte das pessoas mais bem
dotadas, que, com isso, fizeram surgir a poesia/A diferenca
do carater dos autores fez com que os géneros poéticos se
diversificassem: os de indole elevada representavam a¢gGes
€ pessoas nobres e compunham hinos e encémios, enquanto
os de baixa inclinacéo imitavam agdes igndbeis e compu-
nham vitupérios. Da época anterior a Homero, nao existem
provas de que poemas desses géneros mais inferiores tenham
sido produzidos. Com Margites e outros poemas semelhan-
tes, nos quais foi introduzido o metro jambico (usado para
injurias), Homero mostrou no sé ter trabalhado no género,
como também que os autores antigos foram poetas tanto
de versos herdicos como de jambicos.
Homero sera considerado por Aristoteles como o poeta
supremo, no género austero ou sério, e o precursor tanto
da tragédia quanto da comédia; a Iliada e a Odisséia mani-
festam analogia com a tragédia, assim como o Margites,
com a comédia. Dependendo de sua inclinagdo natural, os
Poetas voltaram-se para um ou outro género de poesia:
“Uns tornaram-se, em lugar de jambicos, comedidgrafos;
outros, em lugar de épicos, tragicos, por serem estes géne-
Tos superiores Aqueles e mais estimados’’.? O grau de per-
feicado atingido pelas formas trdgicas, a esse ponto de seu
desenvolvimento, correspondia a uma outra questio; o
importante para 0 autor, no momento, era o estabeleci-
* mento dos géneros poéticos.
8 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. IV, p. 71.
9 Trad. de Jaime Bruna. Op. cit., cap. IV, p. 21.
¥ 7
16
Fe
b) historia da tragédia (IV)
Tendo apresentado a diferenciacao dos géneros, o texto
Passa ao desenvolvimento da historia de suas origens e de
sua evolucdo. Tanto a tragédia como a comédia nasceram
de improvisagées: a tragédia originou-se dos solistas do diti-
/tambo e a comédia, dos solistas dos cantos falicos.
A tragédia, enquanto género, sera a primeira exami-
nada pelo autor. Quando ele diz: ‘*... até que, passadas
muitas transformagées, a tragédia se deteve, logo que atin-
giu sua forma natural”’, '° reitera seu raciocinio em termos
naturalistas, ja que a histéria da poesia 6 dada como um
Processo acabado, fendo a tragédia compreendida como
uma espécie natural, cujas transformacées sofridas a teriam
conduzido a alcancar sua natureza propria. fi O final do
capitulo (IV) discorre sobre a evolucdo do género tragico,
através das modificacdes Por que passou e que sao de varias
ordens, como as referentes 0s meios concretos de realiza-
gao da forma dramatica — alteragdes_produzidas por
Esquilo e Séfocles — € a0 metro utilizado nas composicdes
do género — o jambico —» que, por ser mais coloquial,
substituiu o tetrametro trocaico,
©) histéria da comédia (V)
Retomando a definicdo jé formulada anteriormente e
em paralelo com a tragédia (cap. II), ou seja, de que a
comédia é imitagdo da agdo de homens inferiores, 0 autor
acrescenta-lhe, como elemento novo, a relacdo do cémico
com o feio. Salienta, porém, que a comicidade se constitui
m “‘um defeito e uma feitira 1 sem dor nem destruigéo; um
+ Vexemp)
byio é a mascara cémica, feia e contorcida, mas
eee eomica, tela € contorcida, mé
tr Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. IV, p. 72.
'" A visio da tragédia, como espécie transformavel até a medida propria
da natureza do género, recebe tratamento critico pelos tradutores france-
‘es Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot (op. cit., cap. 4, nota 17 p. 175).
oF
dor’’. 2 Esses elementos, que complemen-
Se tina da “comédia, entation a como enero
oe ie ae sposino is “homens superiores (cap. II)
ioléncia . XI).
‘ ladies otienea cue ao oe ire do ‘que Ocorreu
A a
i restigio do género \.
Prova die teria side a tardia substitui¢ao do coro ge
voluntarios pelo coro de comediantes, fornecido pelo arco ne
(magistrado executivo em Atenas), 3 e o conbecimen "fe
nome dos poetas cémicos somente apés o género j or
mas definidas, como o uso de mdscaras, prdlogo, plur:
dade de afores, etc.,'4 as quais nao se sabe também quem
introduziu. A origem da comédia na Sicilia, a composisio
de suas fabulas ou histérias, pelos poetas Epicarmo e Fér-
mis, e as modificagées realizadas por Crates, em Atenas,
sao assinaladas, na seqiiéncia, pelo Estagirita.
2)
d) comparacao entre a epopéia e a tragédia (V) Lox
O género nobre volta 4 cena da Pottica na compara.
¢Ho entre a epopéia e a tragédia. Como ° capitulo , ant
cipara, elas se no objeto que == homens
iores —e¢, parte, pelo meio de que g ul
—ai @ verso. Diferem, entretanto, ainda cot
como meio, enquanto a tragédia usa 0 SoS 2.8 PE
®, tan 10 imitagéo — ,
(canto); e, também, com relagdo a a
i ivo e a tragédia, pelo
a enoptia fo narratvo ea tragéie, pelo
"2 Trad. de Jaime Bruna. Op. cit., cap. V, p. 24.
B A eapleago da palavra “‘arconte’’ foi registrada segundo a tradugao
de Jaime Bruna (op. cit., cap. V, nota 15, p. 24). e ne
{A enumeracdo dessas formas aparece na traducdo francesa Rosel
Dupont-Roc e Jean Lallot (op. cit., cap. 5, nota 3, p. 179).
modo atico. 15 Na extensio, elas igualmente diferem:
a tragédia tem m duragdo de agao limitada, é um poema rela-
tivamente curto; a epopéia tem duracio ilimitada e é, ao
contrario, um poema longo. Quanto as partes, os dois géne-
ros tém alguma coisa em comum, sobressaindo-se a tragé-
dia, primeiro, por possuir todas as partes da epopéia e ainda
outras exclusivas; segundo, por submeter-se a epopéia aos
itérios de valor préprios do género tragico.
A teoria da tragédia (cap. VI a XXII)
A teoria da tragédia é a base de toda a teoria da arte
contida no texto aristotélico. Dos 26 capitulos da Poética,
dezessete sio dedicados ao estudo da tragédia. Aristoteles
considera a tragédia como a arte mimética por exceléncia
e Ihe concede um tratamento minucioso, que parte de sua
definicdo, enquanto composic¢o especifica, e atinge as
diversas partes e elementos nos quais se compée ou com
Os quais se relaciona.
a) definicao (VI)
A tragédia é definida como uma forma especifica de
mimese, segundo os critérios que diferenciam as artes mimé-
; ticas e o efeito que a representagdo determina no especta-
dor. Trata-se de uma representacio de acées de homens
de carater elevado (objeto da imitag4o), expressa por uma
linguagem ornamentada (meio), através do didlogo e do
espetaculo cénico (modo), e visando a purificagdo das emo-
gGes (efeito catartico), 4 medida que suscita o temor e a pie-
dade no espectador.
15 Sobre as semelhancas ¢ diferencas entre a tragédia e a epopéia, encon-
tram-se referéncias na tradug4o de Eudoro de Sousa, cap. V, Comentd-
Tio, §§ 24 € 25, p. 117-8, e na tradugao de Roselyne Dupont-Roc e Jean
Lallot, cap. 5, nota 1, p. 177-8.
19
b) partes qualitativas: mito, cardter, pensamento, elocucao,
melopéia e espetaculo (VI)
Apos a explicacéo do que significa linguagem orna-
mentada, sao arroladas e comentadas, no texto, as seis par-
tes qualitativas da tragédia; primeiramente, as externas ou
materiais, ligadas 4 representagao cénica: espetaculo, melo-
péia (canto coral) e elocucdo (falas, expressao); e, em
seguida, as internas:'° carater (qualidade moral), pensa-
mento (elemento Idgico) e mito!” (imitacéo e composicdo
de acées).
O fato de a tragédia ser imitagao de uma agao qualifi-
cada eticamente e de os caracteres serem nela subordinados
& acdo impde a necessidade de a8 personagens que agem e
se apresentam serem também qualificadas pelo carater e pelo
pensamento.
Numa sintese recapitulativa, Aristételes dispGe as par-
tes qualitativas da tragédia, conforme os principais tracos
distintivos da mimese. Objeto da representacdo s4o o mito,
oO carater e 0 pensamento; meios sao a elocugdo e a melo-
péia; modo é o espetdculo. De todos os elementos qualitati-
vos (‘‘partes’’), 0 mais importante é o mito, que arranja
'sistematicamente as agGes. Na tragédia, o relevante vem a
ser a finalidade do homem, ou seja, a sua acdo e vida, e
Indo 0 cardter que o qualifica: ‘a superioridade da acéo
(mito) sobre o estado (cardter) é lugar-comum na filosofia
de Aristételes”’. '§
'6 A designapao das partes qualitativas da tragédia, como externas e inter-
nas, baseia-se na leitura feita por Eudoro de Sousa (op. cit., cap. VI,
Comentério, §§ 28 ¢ seguintes, p. 122).
47 0 termo grego mythos é traduzido por Eudoro de Sousa como “mito”,
por Jaime Bruna, como “fabula’”’, e por Roselyne Dupont-Roc e Jean
Lallot, como “‘histoire”’. Neste reexame da Poética, a preferéncia sera
dada para o termo ‘“‘mito”’, de acordo com a tradugdo de Eudoro de
Sousa (op. cit., Introdugdo, p. 57), pela ambigiiidade semAntica que a
© .palavra encerra, significando tanto ‘‘ac¢4o a imitar’’ (matéria-prima)
como. “‘agio imitada”’ (fabula).
484 observicio ¢ de Eudoro de Sousa (op. cit., cap. VI, Comentario,
$ 32, p. 123).
Tanto a acdo é o elemento central da tragédia que, sem
ela, o género nao poderia existir, ao passo que sem caracte-
Tes, por exemplo, hipoteticamente ela poderia realizar-se.
O valor do mito é novamente reiterado quando so citadas
duas de suas partes, a peripéci: reconhecimento, como
os principais meios de fascinacdo da tragédia. O mito é rati-
ficado como principio e alma da tragédia, somente depois
vindo os caracteres.
O final do capitulo VI trata das demais partes, apare-
cendo definidos 0 pensamento — capacidade de dizer 0
que é inerente a um assunto e o que convém; o caraéter —
manifestagao de deciséo, do fim para o qual tende ou
repele; ¢ a elocugado ou expresso — enunciado dos pensa-
mentos por meio das palavras, com efetividade igual em
Prosa ou verso. A melopéia, nas partes restantes, corres-
ponde ao principal ornamento, enquanto o espetdculo cénico,
eaubora sendo o mais emocionante, é.0-menos artistica 2.0
mais estranho 4 poesia. ragédia, na opinido do Estagi-
rita, prescinde do espetaculo e de atores para determinar
seus efeitos préprios.
c) o estudo da tragédia como mito (VII a XI)
Sendo considerado como o elemento mais importante
da tragédia, praticamente identificado com ela, o mito
recebe uma anilise especial na Poética através de determi-
nados tépicos:
1°) a agdo corresponde a um todo de certa extenso e
uno (VII e VIII)
Os dois tragos principais do mito — ag&o que forma
um todo e extensio — identificam-se como 0 contetdo-
base desenvolvido no capitulo VII. Primeiramente, 0 ‘‘to-
do’’ é que aparece esclarecido na sua definig&o e nos ele-
mentos que 0 compdem. Descrito como o encadeamento
ordenado de partes constitutivas (principio, meio e fim),
constrdéi-se sob critérios de necessidade ou probabilidade.
2
A observancia a esses critérios é enfatizada a ponto de estar
presente a afirmacao normativa de que os mitos nao podem
comecar e nem terminar ao acaso: ao todo corresponde
uma unidade que o necessario determina.
O belo é designado nao s6 como sendo uma composi-
do ordenada de partes, mas correspondendo a uma deter-
minada extens4o. Explicando-se, diz o autor que nao pode-
ria ser belo algo de dimensao reduzidissima, porque a viséo
tornar-se-ia confusa; e nem algo imenso, porque faltaria
aos espectadores a visio de conjunto, que permite contem-
plar a unidade e a totalidade. Analogamente aos corpos e
organismos viventes, os mitos devem ter certa extenséo que
a memoria possa reter. Ha vinculagao do belo e do mito
com 0 efeito produzido no espectador; o olhar deste deter-
mina e controla a priori a ordenagdo e extensdo do objeto
mimético.
O limite para a extensio das tragédias corresponde
aquele que a propria natureza das coisas impée:
Desde que se possa apreender 0 conjunto, uma tragédia
tanto mais bela sera, quanto mais extensa. Dando uma defi-
nigéo mais simples, podemos dizer que o limite suficiente
de wma tragédia 6 0 que permite que nas agdes uma a outra
sucedidas, conformemente a verossimilhanga e a necessi-
dade, se dé o transe da infelicidade a felicidade ou da felici-
dade a infelicidade.
Na seqiiéncia do estudo sobre 0 mito, 0 texto passa a
considerar a questo de sua unicidade (cap. VIII) quanto
A acdo, descartando uma possivel relacdo entre essa unici-
dade e a presenca de um unico herdi. Salientando o erro
dos autores que compuseram Heracleidas e Teseidas® e
outros poemas congéneres, por acreditar que, referindo-se
a um s6 heréi, as acdes ganhariam unidade, Aristételes
renova o elogio & superioridade de Homero, o qual, ao
9 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. VII, p. 77.
2 Heracleidas: poemas sobre Heracles (Hércules); Teseidas: poemas sobre
Teseu (cf. Jaime Bruna, op. cit., cap. VIII, nota 16, p. 27).
2
escrever a Odisséia, narrou sobre. Ulisses-somente os-fatos
cuja ocorréncia era determinada pela necessidade ou praba-
bilidade dos outros. Homero compés a. Odissia 2.a Iiada
em torno de uma a¢do-una.
~ A exemplo do que acontece com as outras artes mimé-
ticas, nas quais a unidade da imitaco depende da unidade
do objeto, também o mito deve consistir na imitagio de
uma acdo una e que forme um todo, onde qualquer parte
que sofra deslocamento ou supressdo determina a altera-
¢do ou a confusao na ordem do todo. Se n4o ocorrer alte-
Taco sensivel é porque o elemento deslocado ou suprimido
nado fazia parte desse todo uno.
A idee, de aco do mito resulta, portanto,-da unifi-
& _construcdo. poética opera ao conjugar unidade
histérica com unidade poética.
2°) poesia e histéria (IX)
A definic4éo de mito como conjunto elaborado de ele-
mentos escolhidos e agenciados segundo uma ordem neces-
sdria, que se opde a diversidade aleatéria dos acontecimen-
tos reais, a | subentende a distinglo entre aobra do. poeta e
IX da Poétic “Cabe ao poeta representar nfo o que aconte-
ceu realmente, mas 0 que poderia acontecer, ou seja, 0 pos-
sivel, na ordem do verossimil ¢ do necessdrio. A diferenca
entre o-poeta-e 0 historiador n4o est no meio que émpre-
gam para escrever (verso ou prosa), mas no_contetido
daquilo que dizem: enquanto o poeta representa © verossi-
mil ¢.0 necessdrio, o historiador narra _os_acontecimentos
que realmente sucederam. A poesia (arte literdria), entao,
sendo anunciadora de verdades mais gerais (universais), é
mais filosdfica do que a histéria, circunscrita a relatos de
21 Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot enfatizam os procedimentos de sele-
$0 ¢ ordenacdo dos fatos como marcas diferenciais da obra do pocta
com relacdo a do historiador (op. cit., cap. 9, nota 1, p. 221).
23
acontecimentos particulares. O geral ou universal, préprio
da poesia, decorre do encadeamento causal que estrutura
a acdo e se configura naquilo que responde as exigéncias
Iégicas do espirito (necess4rio) ou 4 expectativa comum de
todos os espiritos (verossimil). 7
A comédia-é-citada como. exemplo-de_carater_univer-
Sal_da poesia, porque nela a designacao das personagens
por nomes inventados também se subordina A composi¢aéo
da fabula, segundo a verossimilhanga{ Na tragédia, entre-
tanto, séo mantidos os nomes que realmente existiram,
sendo o fato explicado pelo Estagirita em razdo de que o
ossivel é persuasivoy(crivel, plausivel) e as coisas que id
PD ontocetiny ean Te i i 7
or outro lado, fica declarado que tal procedimento é v:
vel na tragédia, podendo haver nela mistura de nomes
conhecidos com ficticios, ou até desconhecidos (ex.: Anteu
de Agatao)\(O sucesso da tragédia junto ao publico inde-
pende, assim, do reconhecimento de herdis conhecidos
ou de fatos particulares, néo havendo, pois, necessidade
de fidelidade aos mitos tradicionais, que sdo 0 assunto das
tragédias. f
Q poeta é definido. mais-como aquele que-compée- his-
térias (mitos), do que como. yersificador,. j4 que se identi-
fica como poeta pela representacdo.de acées, que padem
até, "verossimilmente,. -provir de-eventos reais. Seu campo
de acio cobre todo o dominio do persuasivo, ou seja,
daquilo que o espectador aceita crer. Seu fazer corresponde
a capacidade de organizar uma histéria, um mito, nao lhe
sendo exigidas, por Aristételes, nem a invencdo original,
nem a fidelidade aos mitos tradicionais.
3°) niveis de qualidade do mito: episddicos-(inferio-
Tes).¢ com _efeito.de surpresa.(superiores)
22 Essas colocagées para o entendimento do ‘‘necessdrio”’ e do ‘“‘verossi-
mil” esto de acordo com a interpretagdo dos tradutores franceses (op.
cit., p. 221).
ua ‘
Quanto a qualidade, os mitos classificam-se em episd-
dicos e com_efeito de surpresa. Os episddicos s4o aqueles
em que a relacdo entre um e outro episddio nao é necess4-
ria nem verossimil, sendo por .isso considerados como-os.
Piores.
“Os mitos com efeito-de-surpresa, nos quais as emo-
Ges se manifestam a partir de fatos inesperados para o
espectador, so considerados os melhores, ainda que devam
ser decorrentes, de preferéncia, do encadeamento causal,
verossimil e necessdrio das acdes.
4°) espécies de mito: simples ¢ complexos, (X)
O capitulo X apresenta os mitos em espécies — sim-
ples e complexos —, segundo o tipo de agées imitadas, e
passa ao seu estudo. Os. mitos complexos_se diferenciam
dos simples-porque operam.a-mudanga de sorte através de
dois ¢ elementos: a peripécia e/ou o reconhecimento. Com
0s mitos simples, a mudanga ocorre sem esses elementos.
O autor sublinha, entretanto, que a peripécia e 0 reco-
nhecimento devem surgir da estrutura interna do mito, o
que significa que devem decorrer da causalidade prépria
ao encadeamento necessdrio ou verossimil dos fatos, situa-
go que em muito difere da mera sucessividade cronoldgica.
—S
5°) partes do mito: peripécia, reconhecimento e catds-
trofe (XI)
As trés partes do mito, peripécia, reconhecimento e
catastrofe, séo definidas por Aristételes. A peripécia corres-
ponde a uma mutag4o de acées em sentido contrario, mas
sempre obedecendo 4s leis do verossimil e do necessario.
Reconhecimento é a passagem do ndo-conhecimento ao
conhecimento, situagZo que ocorre com o fim de revelar
uma alianca ou hostilidade entre personagens do drama,
culminando para um estado de felicidade ou infelicidade.
Ainda que haja outras formas de reconhecimento, o mais
25
belo € 0 que acontece junto com eee porque € 0
ique mais se integra ao mito e A ac40, e determina, a partir
} 4o conjunto que forma, os sentimentos de temor e piedade,
{:: presentes nas acdes que a tragédia imita.
A par de outras possibilidades de reconhecimento, o
‘texto define a terceira parte do mito, a catdstrofe, como
igeZo representada que produz destrui¢ao ou dor, efeito vio-
Mento, a exemplo das mortes cometidas em cena, das dores
‘veementes, ferimentos, etc.
a) partes quantitativas: prologo, episddio, éxodo, coral (pa-
todo e estasimo) e kKommos (XII)
A teoria do mito complexo, desenvolvida de inicio no
> Reaminande a v ragédia quanto a extensdo e as secdes
mn que pode ser dividida, Aristdteles nela estabelece as
intes partes constitutivas: prélogo — ‘‘parte completa
tragédia, que precede a entrada do coro’’; episédio —
arte completa entre dois corais’’; éxodo — “‘parte com-
Aleta, a qual nao sucedg. canto do coro’”’; coral — ‘‘entre
corais, 0 parodo é 0 primeiro, e o estdsimo é um coral
sprovido de anapestos e troqueus”; kKommds — ‘‘canto
Aamentoso da orquestra e da cena a um tempo’’. 25 Enquanto
“prélogo, o episédio, 0 éxodo e 0 coral séo comuns a
“[...] no Edipo, quem veio com o propésito de dar alegria a Edipo e
bertd-lo do temor com relagdo 4 mac, ao revelar quem ele era, fez 0
itrario.”” Este é o exemplo que Aristételes dé para o reconhecimento
ito com a peripécia. A traducao é de Jaime Bruna (op. cit., cap. XI,
30).
afirmagao aparece em Eudoro de Sousa (op. cit., cap. XII, Comentd-
}, P. 130) e em Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot (op. cit., cap. XII,
*mota 1, p. 235).
f*:Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XII, p. 81.
26
todas as tragédias, os cantos dos atores sobre a cena e os
kommos s&o peculiares apenas a algumas.
e) situagdo e herdéi tragicos
-\_ Tratando do mito complexo, o capitulo XIII relaciona-
se diretamente com o contetdo do capitulo XI. Objetiva
apontar as situagdes que devem ser buscadas e evitadas
quando se compdem os mitos, bem como os meios a serem
utilizados para que seja alcancado o efeito da tragédia.
Uma vez que a estrutura da tragédia mais bela é com-"
\plexa e que ela deve representar fatos que despertam o
itemor e a piedade, cabe averiguar que espécie de peripécia
‘provocara essas emog6es, ou seja, qual sera a configuracao
tragica ideal para que se produza o efeito proprio do género.
Aristételes expGe situagdes possiveis para 0 tragico,
envolvendo implicitamente dois fatores: a presenca da felici-
dade/infelicidade, como pardmetros naturais do sentido da
Teviravolta, € a qualificacdo ética das personagens, por meio
ida virtude/vicio ou da bondade/mediocridade.** Os casos
apresentados sintetizam-se da seguinte forma: nado devem
ser representados homens nem muito bons e nem muito
maus, que passem da boa para a mé fortuna, nem da md
para a boa fortuna. A rejeicdo dessas situacgées é justificada
pelo fato de elas nao satisfazerem do ponto de vista dos efei-
tos exigidos pela tragédia ou, ainda, porque se afastam dos
sentimentos humanos. O caminho certo estar4 na represerita-
¢ao do herdi'em situacdo intermedidria, que é a situagdo:
..do homem que ndo se distingue muito pela virtude e pela
justiga; se cai no infortunio, tal acontece n&o porque seja vil
e maivado, mas por forga de algum erro; e esse homem ha
de ser algum daqueles que gozam de grande reputagao e for-
tuna, como Edipo e Tiestes ou outros insignes representan-
tes de familias ilustres. 2”
6 Quem aponta dois fatores para a situagdo tragica é Roselyne Dupont.
Roc e Jean Lallot (op. cit., cap. 13, nota 2, p. 239).
2” Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XIII, p. 82.
27
gs: Esse homem é 0 que equilibra a virtude e 0 vicio, sendo
falivel ¢ passando da dita a desdita (‘‘cai no infortunio’’),
em conseqiiéncia de um erro (hamartia). ®
* Recapitulando alguns dados, Aristételes prescreve con-
dicdes para o sucesso do mito: ele deve ser antes simples
do que duplo, isto é, concluir apenas com aco de desgraca
€ ndo com duas acGes diferentes; deve passar da felicidade
& infelicidade, em conseqiiéncia de um grave erro por parte
de um herdi ‘‘intermedidrio’”’, ou, de preferéncia, melhor
que pior. A freqiiéncia, na época, de tragédias cujos herdis
sofreram desgracas terriveis, é exemplificada no texto com
vistas 4 comprovagao das afirmagées, quanto a estrutura
da tragédia mais bela. Euripides é citado por Aristételes
como 0 mais tragico dos poetas por ter observado com cor-
regdo a estrutura da tragédia, ainda que fosse merecedor
de critica quanto 4 economia da obra.
O final do capitulo XIII atribui o segundo lugar a tra-
gédia de dupla intriga, que tem, para agrado do publico,
desfechos diferentes para os bons e os maus; a Odisséia,
mesmo sendo uma epopéia, é dada como exemplo. Com-
plementando o assunto, o autor diz que o prazer resultante
da tragédia de dupla intriga mostra-se como mais préprio
da comédia, porque corresponde ao desaparecimento da
desgraca ¢ da violéncia, como no caso de Orestes e Egisto
que se conciliam, nenhum sendo morto pelo outro. A tragé-
dia, propriamente dita, exigiria, ao contrario, que fosse
satisfeita verossimilmente a condi¢do de desgraca dos bons.
2 Roselyne Dupont-Roc ¢ Jean Lallot relacionam o erro tragico com a
verossimilhanea da aco, na ordem ética, e com o reconhecimento: ‘‘Em
resumo: (a) Temos como evidente que 0 erro, do ponto de vista da Poé-
tica, tem como fungao essencial, ao manifestar a falibilidade do herdi,
contribuir para a verossimilhanca da aco, na ordem ética dessa razdo,
enquadrando-se na Iégica da Kkatharsis. (b) Temos como plausivel que
‘9 elertlento'de ignorncia, que faz parte integrante do erro, relaciona~
se dialeticamente com 0 momento constitutive da acdo complexa que é
© reconhecimento; por essa razAo, 0 erro integra-se vigorosamente ao
sistema’de fatos que é a histéria tragica’’ (a traduedo do texto em fran-
cés pata o portugués é nossa. Op. cit., cap. 13, nota 3, p. 245).
f) 0 efeito proprio da tragédia e as agdes que levam 4 sua
producao (XIV)
Reportando-se a tese de que o temor ¢ a piedade devem,
preferencialmente, proceder da intima conexdo dos fatos,
mesmo que também possam surgir do espetaculo, Aristéte-
les enfatiza a composic¢ao do mito como a responsavel pela
produgdo daqueles efeitos, a tal ponto que, apenas com a
\audig&o dos fatos que se sucedem, sem a visdo de sua repre-
sentac4o, surgem naturalmente os sentimentos de temor e
compaixio. Edipo, de Sdfocles, é mais uma vez citado
como exemplo, agora, quanto ao papel da mediagao da
palavra na instalagdo do efeito catartico. O espetaculo é
tido como aspecto exterior a arte, sendo um erro procurar
através dele 0 monstruoso, como elemento tragico, pois 0
prazer proprio da tragédia provém da piedade e do temor,
provocados pela imitacao e decorrentes da imitacio dos
fatos.
Detendo-se nos eventos relacionados ao temor € a pie-
dade, o autor estipula que as ages desse género, violentas,
devem suceder-se no coragdo das aliangas, como: irmao
contra irmo, filho contra pai, etc. Na realizag&o dessa
tarefa, o poeta deve servir-se dos mitos tradicionais, nao
os alterando essencialmente — como evitar o matricidio
de Clitemnestra e Erifila —, mas usando artificialmente os
dados da tradicao, isto é, organizando um sistema de fatos
capaz de produzir o efeito tragico. As agdes, como as pen-
savam os antigos, podem ser praticadas de trés formas:
— a personagem conhece os fatos e age violentamente
(ex.: Medéia, de Euripides, matando os filhos);
— a personagem age, desconhecendo que ha malvadez
nos seus atos, s6 sabendo disso depois (ex.: Edipo, de Séfo-
cles);
— a personagem ird agir de forma terrivel, por desco-
nhecimento, mas, antes de fazé-lo, reconhece a vitima.
7
29
A presenca ou auséncia do conhecer e do agir, sob com- '
binagées diversas, determinam, portanto, a forma de aco
Para os poetas. Na hierarquia dessas combinagées, a pior é
a da personagem que conhece a situacdo, propde-se 4 ago
e ndo age, causando a repulsa, mas ndo o tragico, pois nao
ha efeito violento (ex.: ameaga de Hémon a Creonte, seu
pai, na Antigona, de Séfocles). Caso melhor € 0 da acdo t!
execu ignorancia e seguida de reconhecimento, por-//
que nao ocorre_a repulsa e produz-se o efeito de surpresa —
do reconhecimento. ar combinagao superior a todas é a da
Personagem que esta para agir com monstruosidade, por
ignorancia, mas, reconhecendo a malvadez de seus atos,
antes, ndo os pratica (ex.: Mérope, que deixa de matar o
filho, no Cresfonte).
g) 0 estudo dos caracteres e da verossimilhanca (XV)
Discorrendo sobre os caracteres, 0 capitulo XV busca
tragar o perfil normativo da personagem tr4gica. Quando
as palavras ou uma _ escolha i .
carater, segundo o autoy. Quatro propriedades caracteri- ,
Zam esse elemento qualitativo da tragédia: bondade, conve-/ |
niéncia, semelhanca e coeréncia. Hd, portanto, obras em i
que tais exigéncias nfo sao observadas, como no Orestes,
onde Menelau representa desnecessdria maldade de carater.
Aristételes acentua a import4ncia de a representagdo
dos caracteres estar sujeita a lei do verossimil ¢ do necess4- //
; rio, quanto ao agenciamento sistematico dos fatos no mito.!'
As regras do verossimil e do necessdério devem justificar
tanto as palavras e atos das personagens de cardter como
@s sucessos de ac4o para ac4o no mito. Dai, segundo a
Poética, ser evidente que os desenlaces também decorram
do préprio mito e nao do deus ex machina,® a exemplo
do que ocorre na Medéia, que se evade no carro do sol
(aparelho cénico) apés matar os filhos, * ¢ na Iliada, na
3 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XV, p. 85.
A explicagao é de Jaime Bruna (op. cit., cap. XV, nota 27, p. 35).
30
cena do embarque: ‘‘A deusa Atena intervém para impedir
os aqueus de embarcar de volta, desistindo da guerra de
Tréia’’.3! As restrigdes ao emprego desse artificio drama-
tico sio alinhadas a partir das situacdes em que ele ¢ admis-
sivel:
A intervengao divina se recorre para fatos fora do drama,
quer anteriores, que um homem ndo possa saber, quer poste-
riores, que demandem predigdo e antncio, pois aos deuses
atribuimos 0 poder de tudo ver. Nas agdes ndo pode haver
nada de irracional, ou entdo que se situe fora da tragédia,
como no Edipo de Séfocies.*
Como o objeto da tragédia é a imitacAo de seres melho-
res do que os comuns, a representac4o que os bons retratis-
tas fazem é um exemplo a ser seguido. Reproduzindo a forma
peculiar dos modelos, os pintores, além de respeitar a seme-
lhanga com o original, embelezam-na. O mesmo procedi-
mento e transformagdo deverdo ser operados pelo poeta,
se representar homens coléricos, apaticos ou com outros
defeitos de caréter, como Homero fez com Aquiles, repre-
sentando-o como bom e semelhante a nds.
h) espécies de reconhecimento (XVI)
No capitulo XVI, Aristételes volta a falar do reconhe-
cimento, distinguindo-lhe cinco espécies e hierarquizando-
as na ordem crescente de seu valor artistico.
O primeiro tipo apresentado é dado como o menos
artistico, por ndo decorrer da necessidade ldgica interna
da acao, e com a possibilidade de ser usado para melhor
ou pior. E 0 reconhecimento por meio de sinais (exteriores),
que podem ser congénitos (naturais) — como a “‘lanca que
em si trazem os Filhos da Terra”? —33 e adquiridos, que
podem encontrar-se no corpo, como as cicatrizes, ou fora
31 Cf, Jaime Bruna. Op. cit., cap. XV, nota 28, p. 35.
32 Trad. de Jaime Bruna. Op. cit., cap. XV, p. 35.
33 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XVI, p. 84.
31
3 dele, como os colares, ou ainda a cesta, exemplo de sinal
que promoveu o reconhecimento em Tiro.
A segunda espécie € o reconhecimento forjado pelo
poeta, exemplificado na Ifigénia, com 0 modo como Ores-
tes se da a conhecer, dizendo o que o poeta deseja e nao o
que 0 mito exige.
A terceira é 0 reconhecimento devido a uma lembranga
esclarecedora da meméria, provocada por uma impressao
visual, como nos Cipriotas de Dicedgenes, onde a persona-
gem chora ao olhar o quadro.
Em quarto lugar, vem o reconhecimento por silogismo,
como 0 que acontece nas Coéforas de Esquilo, onde o silo-
gismo é de Electra: *4 “‘alguém chegou, que me é semelhante,
mas ninguém se me assemelha sendo Orestes, logo quem
veio foi Orestes’’.35 Essa forma de reconhecimento apre-
senta uma variante fundada no falso raciocinio dos especta-
dores: o paralogismo. 36 No Ulisses, falso mensageiro, supor
que Ulisses se daria a reconhecer porque declarasse que
reconheceria 0 arco, sem o ter visto, € um paralogismo,
porque o fato de que somente ele poderia armar o arco é
mera ficc4o do poeta. Enquanto o reconhecimento por silo-
gismo é instaurador de uma conclusao verdadeira, o para-
logismo é responsdvel por uma conclusdo falsa.
A quinta ¢ tiltime-espécie-¢-amethor:-trata-se de reco-
nhecimento rre_das_prépri: 8, produzi
$ Choque da surpresa segundo as vozes do verossimil,
, de Sofocles, por exemiplo, ao investigar o assas-
sinato de Laio, seu pai, Edipo acaba descobrindo ser ele
Préprio o assassino. 37 A forma melhor de reconhecimento
é, assim, a que deriva da propria intriga e corresponde ao
efeito tragico ideal, vindo, em segundo lugar, as que pro-
vém do silogismo.
¥ A explicagao é de Jaime Bruna (op. cit., cap. XVI, nota 36, p. 37).
35 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XVI, p. 86.
L 3 0 paralogismo serd retomado pelo autor no cap. XXIV.
'. 37 A explicagao é de Jaime Bruna (op. cit., cap. XVI, nota 38, p. 37)-
32
i) normas a serem observadas pelo poeta tragico (XVII e
XVII)
Os capitulos XVII e XVIII retinem uma série de técni-
cas, a par de outros aspectos, que 0 poeta deve seguir para
; \que haja o maximo de conveniéncia no arranjo e na criacdo
\ {das agées do mito. O critério impositivo do verbo “‘dever’’
ou das expressdes ‘‘é preciso” ¢ “‘faz-se necessdrio”’ reitera-
se com insisténcia nessa parte do texto.
Ao organizar a histéria e elaborar as falas das persona-
gens, 0 poeta deve como que ver as acGes, para que descu-
bra 0 que convém e escape ao maior numero possivel de
contradigdes. Na linha dos meios que 0 poeta deve empre-
gar para produzir um efeito de proximidade dos fatos repre-
sentados, para com o espectador, esta, tanto quanto possi-
vel, a reproducdo dos gestos, complemento teatral acrescen-
* tado ao texto quando de sua representag4o. i. -
sivas as que vivem violentamente
Porque elas as passam com veracidade aos outros! O poeta,
r_isso. enceria_aos ou_inspi
Outra norma a ser obedecida refere-se aos argumentos de
que © poeta se servird, sejam eles tradicionais ou inventa-
dos: primeiramente, deverd esbo¢4-los num esquema geral
¢, somente depois, introduzir os episddios e desenvolvé-los.
Para essa disposicao em linhas gerais, Aristételes cita a [figé-
nia, por meio de um resumo que faz do argumento da obra,
expressando-o através da seqiiéncia de seus acontecimentos
principais. Somente apés um esquema dessa ordem é que
podem ser dados nomes as personagens e podem ser introdu-
zidos os episédios; estes devem, por sua vez, ser apropria-
dos ao assunto, como, no caso de Orestes, a loucura que
© Jevou a ser preso e a purificacao pela qual foi salvo.
Ainda dentro da linha normativa que abrange os episédios,
‘diz o Estagirita que eles devem ser breves nos dramas, a0
Ppasso que na epopéia so longos. A titulo de exemplo, sin-
tetiza o argumento da Odisséia em seu esquema geral, para
33
mostrar o quanto é breve uma fabula, sendo, portanto, os
episédios que Ihe alongam a extensdo:
Um homem vagueia, longe de seu pals, durante muitos
anos, vigiado de perto por Poséidon, completamente isolado.
Em sua casa, as coisas andam de tal forma que sua fortuna
6 dilapidada pelos pretendentes e seu filho exposto A cons-
piragdo deles. Maltratado pelas tempestades, ele chega, faz-
se reconhecer por alguns amigos e, a seguir, ataca: ele é
salvo e esmaga seus inimigos. Eis al o esquema proprio do
poema, o resto sdo episédios. *
O capitulo XVIII, de inicio, enfoca a tragédia sob
nova divisfo: em no (enredo) e desenlace (desfecho). O nd
€ definido pelos acontecimentos exteriores a histéria e tam-
bém por alguns interiores, estendendo-se desde o principio
até a reviravolta. Com essa mudanca, comega o desenlace
que vai até o fim. Segue-se a enumeragdo da tragédia em
quatro espécies (partes ou tipos),39 as quais, segundo o
autor, repetem divisées ja feitas anteriormente. Elas sdo:
tragédia complexa — constituida de peripécia ¢ reconheci-
mento; tragédia catastréfica — patética ou de efeitos lentos,
como as de Ajax e de Ixion; tragédia de caréter — como
as Ftidtidas e Peleu; tragédia episddica — como as Forci-
das, Prometeu e todas as que se desenrolam em Hades.
A perspectiva descritivo-classificatéria com que é ini-
ciado o capitulo XVIII, em torno das explicagdes sobre o
né € o desenlace, bem como sobre as espécies da tragédia,
passa a ser substituida, na seqiiéncia, pela linha prescritiva
que orienta a aplicac4o técnica em funcdo desses contetidos.
38 Trad. de Roselyne Dupont-Roc ¢ Jean Lallot. Op. cit., cap. 17, p. 95.
+ Em tomo dessa nova enumeracio, abre-se uma polémica a respeito da
Poética, j4 que as espécies citadas ndo reduplicam, nem em numero
mem em contetido, a nenhuma das classificacdes feitas anteriormente
para a tragédia ou para o mito trégico, como nos capitulos VI, IX, X,
XI XII. Um estudo comparativo minucioso ¢ realizado, nesse sentido,
por Roselyne Dupont-Roc ¢ Jean Lallot (op. cit., cap. 18, nota 4, p.
292-8).
I
Deve o poeta esforcar-se para saber compor todos os
tipos de tragédia, ou ao menos os mais importantes, tendo
em vista as criticas a que esta sujeito. A exigéncia é de que
um s6 poeta ultrapasse sozinho a todos os outros que tenham
se distinguido individualmente em cada tipo de tragédia.
Numa comparacdo entre tragédias, o elemento essen-
cial € o mito, ele é que permite determinar as semelhangas
eas diferengas entre elas. Como o mito é constituido estru-
turalmente pelo no e pelo desenlace, é importante que o
poeta saiba nao sé bem enredar a intriga, como também
dar-lhe bom desfecho.
A tragédia, néo sendo uma composigao épica, nao
pode apresentar, como a epopéia, varios mitos. Lembrando
disso, 0 poeta nao deve, por exemplo, fazer uma tragédia
com todo o argumento da Jliada. A extenséo da epopéia
permite que suas partes recebam o desenvolvimento conve-
niente, mas nos dramas isto néo pode acontecer, sendo com-
provado o insucesso das obras que, ao invés de tratar por
partes do assolamento de Trdéia (como a Hécuba, de Euripi-
des), incluiram-no por inteiro, compondo uma s6 tragédia.
Ao contrario do que valer-se de varios mitos, préprios
da epopéia, os poetas, tanto nas tragédias com peripécias
como nas a¢Ges simples, atingem sua finalidade por meio
do efeito de surpresa, que serve ao tragico e desperta 0 sen-
tido do humano. ” Isso acontece, por exemplo, com Sisifo,
um herdi habil, porém mau, que sai logrado. ‘Tal desfe-
cho é verossimil, no dizer de Agatdo, pois é verossimil que
acontegam muitas coisas inverossimeis.’’ 4!
f Reforgando a unidade entre o todo e a acdo propria
da tragédia e nao da epopéia, Aristételes considera 0 coro
como um dos atores, mas 4 maneira de Séfocles, para quem
“os corais estéo perfeitamente integrados na acao dramati-
ca’’; e ndo como Euripides, para quem ‘‘a relagdo € mais
“0 Cf. trad. de Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot. Op. cit., cap. 18, p. 99.
4! Trad. de Jaime Bruna. Op. cit., cap. XVIII, p. 39.
a i
35
frouxa’’, e nem como a maioria dos poetas que ‘‘compuse-
ram coros que nada tinham que ver com a acdo dramatica
representada’’. 42 O Estagirita alude, em seguida, aos inter-
lidios cantados entre os episddios, desde Agatao, compa-
rando-os a longas falas ou episddios inteiros, que tornam
a tragédia “‘variada’’, como se fosse uma epopéia.
j) 0 estudo do pensamento (XIX)
~? No capitulo XIX, o autor diz que ira tratar da elocu-
¢40 e do pensamento, porque sdo as unicas partes que ainda
nao explicou. Na verdade, apenas o mito e o carater recebe-
tam estudos mais aprofundados, pois o espetaculo e a melo-
péia foram somente indicados com brevidade. O pensa-
mento, segundo sua posicdo, deverd ser estudado principal-
mente junto a disciplina a que pertence: a retérica, cujo
discurso tem 0 objetivo de persuadir.
Definido como tudo o que pode ser produzido pela
linguagem, o pensamento valoriza a funcdo pragmatica da
lingua, 4 medida que, por meio dela, com as falas das per-
sonagens, consegue atingir efeitos especificos aos quais visa
e nao conseguiria produzir apenas com as acées brutas, nao
acompanhadas de comentario.“ Esses efeitos sio o demons-
trar e o refutar, o suscitar emogées violentas — piedade,
temor, célera e outras congéneres — e, ainda, amplificar e
reduzir o valor das coisas. Entretanto, produzir tais efeitos
no drama é diferente do que produzi-los na retérica; no
drama (‘‘poesia’’, arte poética), eles devem resultar essen-
cialmente da acdo sem necessitar de interpretacdo explicita,
ao passo que, na retérica, resultam apenas do discurso,
ou seja, da palavra que expressa o pensamento do orador.
® Cf. Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XVIII, Comentario, § 110, p. 140.
43 Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot mostram que a persuasdo embutida
no conceito de pensamento na Podtica é mais complexa que a do con-
ceito na retérica, porque decorre principalmente do mito e nao do /ogos,
como na retérica (op. cit., cap. XIX, nota 3, p. 307).
“ A afirmagao faz parte da leitura de Roselyne Dupont-Roc e Jean Lal-
lot (op. cit., cap. 19, p. 306).
36
1) o estudo da elocug4o (XIX a XXII)
O estudo da elocugao inicia ainda no capitulo XIX e
se alonga até o XXII. O autor e o especialista da matéria
s4o responsaveis pelo conhecimento de uma parte da lingua-
gem (elocugio ou expressdo), como o saber o que é uma
ordem ou stplica, uma ameaca, uma pergunta, uma res-
posta, etc. Mas o conhecimento desses aspectos nao é de
relevncia para o poeta e nem para a poética; dai a critica
de Protdgoras a Homero, nesse sentido, ser censurada por
Aristoteles.
Um pormenorizado exame da elocugio é desenvolvido
jos capitulos XX, XXI e XXII. O capitulo XX apresenta
‘um levantamento do material da lingua grega, desde o som
elementar até o enunciado completo. O todo da linguagem
é dividido em partes: letra, silaba, conjun¢ao, nome, verbo,
artigo, flexio e proposicao — sendo elas definidas e expli-
cadas pelo autor. *5 O capitulo XXI trata, em primeiro lugar,
dos nomes e suas espécies: simples, duplos, triplos, quédru-
plos e miltiplos; e, em segundo, dos tipos de desvios que
distinguem os nomes, uns dos outros: nome corrente, nome
estrangeiro, metéfora, nome inventado, nomes alongados
ou abreviados, vocdbulo alterado, nomes masculinos ou
femininos ou do género intermediario. O capitulo XXII
inventaria um conjunto de observagdes normativas para 0
uso correto dos nomes na elocugdo poética. Indicando a
clareza e a elevacio como meta a ser atingida na lingua-
gem, Aristdteles preconiza a mistura e 0 uso discreto de
toda a espécie de vocabulos, enfatizando, no entanto, a
importancia do emprego das metdforas. Concluindo o
estudo da elocucdo, salienta a relagdo entre as diversas espé-
cies de nomes e os diversos géneros poéticos.
45 A propésito da conveniéncia ou ndo do estudo da elocugao dentro da
Poética, ver Eudoro de Sousa, op. cit., cap. XIX a XXII, Comentario,
§§ 114 e 115, p. 141, e Roselyne Dupont-Roc ¢ Jean Lallot, op. cit.,
cap. 20, notas 1 ¢ 2, p. 314-6.
A teoria da epopéia (cap. XXIII e XXIV)
a) a semelhanga com a teoria da tragédia (XXIII e XXIV)
Definindo epopéia « como imitacdo narrativa_metrifi-
_cada,.o capitulo XXIII inicia a abordagem do segundo
modo de representacdo poética, ou seja, do modo narrativo,
enquanto relato diegético em verso produzido por um nar-
~tador.
As prescrigGes a serem cumpridas com relacio ao
género épico s4o as mesmas estipuladas como préprias do
género tragico. Deverd, assim, a epopéia ser composta,
como a tragédia, em torno de uma acfo inteira e completa
— com principio, meio e fim —, para que, como um orga-
nismo vivo, possa produzir o prazer que lhe é peculiar;
sendo uma imitac&o narrativa em verso, ela tera (como a
tragédia) uma estrutura diversa das narrativas historicas,
que exp6em_ nao w um periodo unico,
com os acontecimentos nele ocorreram, ligados apenas
eae eee eventos que se deren tia hiésitia
en cand a batalha naval de Salamina © @ dos earcagiie-—
Ss) na Sicilia, sem que tais agdes tendessem para o mesmo
Tesultado. Da mesma forma incorrera em erro se relatar
fatos que se sucederem em periodos consecutivos sem,
entretanto, determinar efeito comum e tinico. Considerando
que a maioria dos poetas adota procedimentos inadequa-
dos como os referidos, Homero se destaca como modelo
Pperfeito para o poema diegético: ele so apenas
uma parte d: yr ir sua
fada), Talendo-s -SE. edo resto do argumento em numerosos
x
episddios, que distribuin no poemay A diferenca da Jifada
, @da Odisséia para as obras dos demais poctas,.a-exemplo
. dos Cantos ciprios e da Iliada pequena, esta no fato de
38
que cada poema de Homero oferece possibilidades apenas
Para a composicdo de uma tragédia, ou, no maximo, duas,
enquanto as outras epopéias.fornecem varias. A Iliada e a
Odisséia esto préximas da unidade; as demais distanciam-
se dessa unidade pela diversidade e heterogeneidade de suas
partes.
A epopéia apresenta as mesmas espécies que a tragédia
— simples, complexa, de caracteres e de efeito violento —,
como também as mesmas partes, com excecdo da melopéia
€ do espetdculo cénico. Requer ainda partes do mito — peri-
pécias, reconhecimentos e catastrofes —, sendo que o pensa-
mento e a linguagem devem ser excelentes. Homero foi o
primeiro que utilizou esses elementos e o fez com perfeicao,
dando uma composicao propria a cada um dos seus dois
poemas: a Ilfadq é uma _Spopéia simples ¢ catastréfica;. a
Ddisséia ‘muitos | reconhecimentos) e de car4-
ter, Além disso, essas obras também superam.a8 outras pelo
pensamento.e elocucia.
we as diferengas entre epopéia e tragédia (XXIV)
Dois elementos sGo destacados nas diferengas entre a
epopéia e a tragédia: a_extensio ea métrica. Como ja foi
expresso anteriormente, a boa extensdo-corresponde a uma
composic¢ae-que, desde. inicio até.o final, possa ser-apreen-
dida_por_um_tinico olhar (visdo global). Distintamente da
tragédia, que comporta um lugar cénico unico, com atores
que representam a partir desse lugar, a epopéia possui uma
caracteristica propria que permite ampliar sua extensio:ela
pode re relatar. vérias partes do mito que-se-realizam simulta-
neamente. Com isso, aepopéia avoluma-se-e-enriquece,
podendo variar e diversificar_os.episddios.e,-assim, cativar
o.ouvinte, livrando-o da uniformidade-entediante.
Quanto ao metro, a experiéncia mostra que o unico
adequado 4 epopéia ¢-o-verso-herdico, reconhecido pelo
39
autor como o mais grave e amplo, préprio para abrigar
vocdbulos raros e metaféricos. Outros metros Ihe seriam
jnconvenientes, como o trimetro jambico, adequado para
a acdo, e o tetrametro trocaico, para a danga. A mistura
dos metros, como fez Querémon, mostra-se descabida. A
propria natureza do género poético ensina a escolher o
metro conveniente.
A exceléncia de Homero é reiterada 4 medida que ele
_ €considerado como o tnico a saber que 0 mister do poeta
€0 falar o menos possivel em seu proprio nome na imitacdo.
A comparagio entre os dois géneros em estudo.incide,
em. seguida, na_relagio. da tragédia.com.o maravilhoso
(efeito. de-surpresa) ¢ da epopéia.com o jrracional. Em
outras palavras, fica declarado o rigor menor da verossimi-
Ihanca na epopéia, com a justificativa de que, nela, nao se
véem em cena as personagens que agem. Como exemplo,
é citada a perseguicao de Heitor, que resultaria numa cena
cémica se encenada no teatro, mas passando despercebida
no texto épico. O maravilhoso, cuja fonte esta no irracio-
nal, agrada tanto que é acrescentado por todos, visando 4
obtencdo do sucesso.
Coube também a Homero ensinar aos outros poetas
como se devem dizer as mensagens, isto é, como convencer
dizendo o que é falso. Trata-se do paralogismo ou falso
raciocinio, j4 aludido nas espécies de reconhecimento
(cap. XVI). O paralogismo leva o ouvinte a um raciocinio
falacioso, mas que se cré aceitavel:
Porque os homens créem que, quando existir ou produ-
zir-se alguma coisa, resulta o produzir-se outra, também da
existéncia da Ultima se hd de seguir a existéncia ou produ-
¢4o da primeira. Isto, porém, é falso. No entanto, se ha um
antecedente falso e um conseqiente que existe ou se pro-
duz sempre que o antecedente seja verdadeiro, nds reunimo-
4 Sobre o paralogismo, Roselyne Dupogt-Roc ¢ Jean Lallot tecem consi-
deracées criticas (op. cit., cap. 24, nota 10, p. 174-5).
]
we
jos; porque o saber que 0 segundo é verdadeiro leva a nossa
mente & arbitraria conclusdo que verdadeiro seja também o
primeiro. Exemplo de paralogismo tal 6 a cena do “Banho”. 4”
O paralogismo faz passar o irracional mascaradamen-
te; aproximando-o da s4 raz4o, faz com que ele pareca
admissivel e verossimil.
A discusséo sobre os argumentos preferiveis para as
composigées canaliza-se na diregio do verossimil: é melhor
preferir o impossivel que convenca do que o possivel que
nao persuada. O ideal seria a auséncia do irracional nos
argumentos poéticos, ou, se presente, situado fora do enredo,
como Edipo, que nao sabia como morreu Laio. O_mito tra-
gico, em principio, exclui 0 irracional de sua composi »sigdo;
porém, se um poeta utiliz4-lo, fazendo-o parecer razodvel,
com. aparéncia_racional, ele serd admissivel, a
absurdo. Tal acontece com Homero, na Odisséia, que esc esca-
moteia a presenca do irracional no momento do desembar-
que para o deleite do ouvinte.
O capitulo XXIV é concluido com a afirmacdo da
necessidade de esforcos para o esmero da linguagem, mas
somente nas partes que néo comportam agdo, caracteres e
Pensamento, a fim de que a atengdo para esses componen-
tes n4o seja ofuscada por uma brilhante elocucio.
A poesia (arte literéria) e a verossimilhanga
(cap. XXV)
a) mimese e¢ referéncia externa
No capitulo XXV, Aristételes retine, de modo geral,
a critica, os problemas e as solucdes, com relagio as artes
miméticas.
“7 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XXIV, p. 98.
4
Sendo autor de representagGes, como qualquer artista
plastico, invariavelmente o poeta imita coisas, a partir de
uma das trés possibilidades que a ele se oferecem: ou as
Tepresenta como eram ou s4o, ou como os outros dizem
que sao e elas parecem ser, ou como elas deveriam ser.
Essa norma deontoldgica evidencia a vin io da mimese
aristotélica com um referente ‘‘exterior’’, nao exclusivo do
poeta e caracterizado por nao apresentar limites fixos, uma
vez que abrange o campo do possivel, integrado por referén-
cias presentes ¢ passadas (as coisas como sdo ou foram)
pela opiniao publica (como dizem que s&o ou parecem) e
pela situagdo ideal (como deveriam ser).
A elocugio com palavras estrangeiras, metdforas e
multiplas alteragdes participa desse processo como veiculo
de representacdo.
b) erros contra a mimese: de ordem poética e acidentais
Referindo-se ao critério de correg4o'da poesia, o autor
estabelece duas categorias de erro: erro de ordem poética
(essencial) — quando o poeta resolve apresentar um ser ori-
ginal e nao o imita corretamente por incapacidade; e erro
acidental, nao intrfinseco 4 poesia — quando erra na con-
cepcdo do original (como no caso de querer representar
um cavalo, movendo ao mesmo tempo as duas patas do
lado direito), ou se engana ao falar de uma arte particular
(como a medicina, por exemplo), ou cria coisas impossiveis.
Os elementos arrolados, neste ¢ no item anterior, devem
ser considerados quando se procurarem solugdes para as
objecées da critica.
¢) a resposta a critica da mimese
— o impossivel se justifica pelos efeitos da represen-
taco
}. 0 vinculo entre a mimese aristotélica ¢ 0 referente ¢ assim colocado
pelos tradutores franceses (op. cit., cap. 25, nota 2, p. 387).
Buscando responder 4 critica quanto a presenca do
impossivel na poesia (arte literdria), Aristételes diz ser des-
culpavel o erro do poeta, se ele atingiu melhor, com a repre-
sentagdo do impossivel, a finalidade prépria da arte, produ-
zindo efeitos mais surpreendentes. H4 erro, pois, nessa
representacdo, mas a regra da arte estard salva, se a finali-
dade da poesia for atingida.
A gravidade do erro deve ser avaliada: se atinge a
esséncia da arte ou é apenas acidental no poema. Serd
menos grave ignorar que uma cor¢a ndo tem galhos.do que
representa-la de uma forma nao artistica, como uma forma
irreconhecivel, deficiente do ponto de vista da mimese.
— © campo da mimese nfo se circunscreve ao da ver-
dade, mas ao do possivel
No espaco da resposta a critica quanto a infidelidade
da representacdo do ponto de vista da verdade, o autor cita
S6focles, para mostré-lo como exemplo de poeta que imi-
tava as pessoas como deveriam ser (melhores do que sao),
e Euripides, como poeta que as Tepresentava como eram
(verdadeiras). Além dessas duas possibilidades, a representa-
go pode corresponder a opiniéo comum, como as histé-
Tias que os poetas contam sobre os deuses e que, talvez,
nao sejam nem verdadeiras nem melhores, mas so como
“‘dizem” (alusao a critica de Xenéfanes). Pode, ainda,
haver casos em que a representagio seja como “outrora’’,
nem melhor, nem verdadeira, mas segundo um antigo cos-
tume. Dai a mimese ndo se restringir a uma unica visio
Possivel do objeto-modelo.
— solugGes para outros problemas criticos
Na critica positiva ou negativa as palavras de uma per-
sonagem, faz-se necessdrio atentar nao sé para a elevacio
ou baixeza do contetido produzido, mas também para as
relages que o protagonista entretece com as outras persona-
soem
43
gens e, igualmente, para as circunstancias, modo e finalidade
que tal ato envolve. Por exemplo: observar se a finalidade é
para obter um bem maior ou se para evitar um maior mal.
Seguem-se objegdes, no texto, ao nivel da elocucdo.
Sinteticamente alinhados, os problemas e suas solugdes dizem
respeito presenca, na linguagem, de: palavras estrangeiras,
deslocamento metaférico, alteragéo de prosdédia, diérese
(articulagdo sintatica do texto), ambigiiidade, usos consa-
grados da linguagem e palavras com significacdes contradi-
térias.
Fechando as observagdes em torno da elocug4o, o
autor retoma o impossivel para localizé-lo a partir do efeito
poético, na representagéo para melhor ou na de opiniao
comum. Na poesia, o impossivel persuasivo é preferivel ao
possivel ndo-persuasivo. Zéuxis pintou homens provavel-
mente impossiveis, mas representou-os para melhor, como
devem ser os modelos. A representacdo de opiniao comum
também justifica o absurdo, porque é verossimil que se pro-
duzam coisas que paregam inverossimeis.
Para responder as contradicdes presentes na forma uti-
lizada pelos poetas, faz-se necessdrio examinar as expres-
sdes, como nas refutacGes dialéticas, e s6 entdo chegar a
uma conclusado. As censuras por absurdo ou malvadez sao
justas quando forem usadas desnecessariamente pelo poeta,
a exemplo do que fez Euripides, com Egeu e com Menelau,
respectivamente. 4?
Numa visao geral, a critica é resumida no texto aristo-
télico em cinco espécies: a representagdo ou é impossivel,
irracional, imoral (pela maldade), contraditéria, ou afas-
“Na Medéia, Egeu, pasando ‘casualmente’ pelo lugar, e nao em ‘de-
corréncia da agio mesma’ da tragédia, oferece acolhida em Atenas a
Medéia que foge de Corinto. [...] Na opiniao de Aristételes, Euripides,
em Orestes, exagerou demasiada e desnecessariamente a baixeza do cara-
ter de Menelau” (cf. Jaime Bruna, op. cit., cap. XXV, notas 59 e 60,
p. 51).
44
tada das regras de arte. As solucdes apresentadas aos pro-
blemas criticos so referidas como em numero de doze.
A superioridade da tragédia sobre a epopéia
(cap. XXVI)
O XXVI e ultimo capitulo da Poética comega com
uma pergunta: Qual a imitagdo superior: a epopéia ou a tra-
gédia? Qual, entre as duas espécies do género da poesia
austera, é a melhor e a mais perfeita?
Para discutir a questao, Aristételes parte de um argu-
mento que logo ira rejeitar. Trata-se de avaliar a qualidade
das espécies, em fungdo do publico a que cada uma visa:
melhor sera aquela que se dirige ao melhor publico e, vul-
gar, a que tudo imita e se dirige a um mau publico. Nesta,
com o pretexto da rudeza da platéia, tida como incapaz
de bem compreender a representac4o, os atores exageram
na gesticulacdo, como ‘‘os maus flautistas, que rodopiam,
querendo imitar o lancamento do disco, ou arrastam 0 cori-
feu, quando representam a Cila’’.5! A tragédia estaria
inclufda nessa espécie mais vulgar, porque mereceu a critica
dos antigos atores quanto 4 exagerada gesticulacao daque-
les que os sucederam, como é€ 0 caso de Calipedes, cha-
50 Budoro de Sousa transcreve um quadro, proposto por Gudeman, para
as cinco espécies de criticas e as doze espécies de solugdes, com vistas
A tentativa de compreensdo da aritmética aristotélica:
I. Critica: “‘Impossivel’” — Solugdes: 1) ‘pela arte’; 2) “‘por acidente”’;
IL. Critica: “Irracional’”” — Solugdes: 3) “‘tais como devem ser’’; 4)
“tais como s4o”’; 5) “‘opiniao comum”’;
IIL. Critica: ‘‘Impropriedade’’ — Solug4o: 6) “‘O moralmente chocante
deve ser julgado, segundo pontos de vista relativos’”’;
IV. Critica: ‘“Contradic4o”’ — Solugdo: 7) “‘observar o individuo que
agiu ¢ falou”;
V. Critica: “Incorregao da linguagem’’ — Solugdes: 8) “‘dialeto”’; 9)
“‘prosédia’’; 10) ‘“‘diérese”’; 11) ‘‘anfibolia’”’; 12) ‘‘uso da linguagem’’
(op. cit., cap. XXV, Comentario, § 179, p. 147-8).
51 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XXVI, p. 102.
eet
A
45
mado de ‘‘macaco’”’ por Minisco, e também © de Pindaro.
Ja o publico ao qual a epopéia se dirige é elevado, nao exi-
gindo nenhuma figurac4o corporal. A tragédia, yisando a
um publico rude, define-se como a mais vulgar e, assim,
inferior 4 epopéia.
Tendo apresentado o argumento critico br6-epopéia,
© autor passa de imediato 4 defesa da tragédia — enaite-
cida praticamente em toda a Poérica —, justificando sua
oposicao aquele raciocinio conclusivo, através de uma série
de elementos que trata de analisar.
Em _primeiro lugar, entende que a critica siva
movimentacao na
‘que consiste num defeito encontravel também na recita-
0 de rapsddi Sosistra
poemas_liri (como fazia Mnasiteo de Oponte). Em
Segundo lugar, nem toda espécie de gesticulacado é condend-
vel, a ndo ser que a propria danca também o seja, mas
somente a dos maus atores, como a de Calipedes e dos que
imitam os meneios de mulheres ordindrias. Em terceiro
lugar, e como na epopéia, a tragédia pode produzir seu
efeito proprio sem recorrer a0 movimento, revelando sua
qualidade somente pela leitura. E como ela é superior:’&
epopéia nos demais aspectos, nao é necessdrio atribuir-lhe
0 defeito da gesticulacdo excessiva como proprio.
Justificada a rejei¢4o para 0 argumento que privilegiava
a epopéia sobre a tragédia, 0 autor procede a operacao
inversa, isto é, expde as razdes que evidenciam a superiori-
dade da tragédia sobre a epopéia.
_Além_de_conter_todos os _elementor—da—epapéia,
podendo, inclusi = ia
‘Os_dois_exclusivos- éi es] lo
cenico, que contribuem para que o prazer se produza.cam
Intensidil superior. A vivacidade tragica ocorre tanto atra-
‘vés da leitura como da encenacao. Outra vantagem € que
consegue realizar perfeitamente a imitacao dentro de uma
extensdo menor, agradando, assim, por ser mais concentrada
I
|
we
que as representagées de longa duracao. Edipo, de Séfocles,
transformado numa epopéia longa como a Iifada, serve de
exemplo para a brevidade da tragédia em oposigo a longa
extensdo da epopéia. Além disso, a epopéia € uma represen-
tagéo menos unitdria do que a tragédia porque contém
varios mitos, que podem originar varias tragédias, nao sendo
produzido 0 efeito épico préprio, se o autor tratar de um
nico mito no poema. A Iliada e a Odisséia, entretanto,
aparecem elogiadas ndo s6 pelas multiplas ages ¢ extensas
partes, como também por serem exemplos de composicao
perfeita e de representagao de uma acdo o mais unificada
possivel.
A conclusao do capitulo incide na exceléncia da quali-
ficagaio da tragédia pelos méritos apontados e pelo fato de
ser ela que melhor consegue 0 efeito especifico da arte,
superando por tudo isso a epopéia e atingindo, melhor do
que ela, a finalidade da poesia.
O pardgrafo final sintetiza a Poética, limitando-a 4
perspectiva do estudo dos dois géneros: ‘“Falamos pois da
tragédia e da epopéia, delas mesmas e das suas espécies €
partes, numeros e diferencas dessas partes, das causas pelas
quais resulta boa ou ma a poesia, das criticas e respectivas
solucdes’’. °
32 Trad. de Eudoro de Sousa. Op. cit., cap. XXVI, p. 103.
3
A mimese e a verossimilhanca
na Poética
Principais aspectos do texto
O objetivo de canalizar a leitura da Poética para a
quest4o da mimese torna indispensdvel rastrear os elemen-
tos referentes & categoria mimética no texto aristotélico.
Uma vez arrolados, esses elementos — de ordem tanto nor-
mativa como descritiva ¢ classificatéria — permitem uma
visio de conjunto das proposigées do Estagirita quanto 4
mimese € a conseqiiente formulacdo de um juizo critico e
conclusivo a respeito do assunto.
Listando pela ordem com que aparecem na Poética ¢
com base na interpretacdo ja apresentada do texto, sobres-
saem como significativas, acerca da mimese, as afirmagées:
A —a poesia (arte literdria) € mimese: imitacdo, repre-
sentaco (cap. I). .
B — mimese corresponde a um processo construivel 4
através de meios, objetos e modos (cap. 1, We UD: og
a) as diferentes espécies de poesia decorrem de as imites
gdes serem feitas com meios, objetos ou modos diversogy |
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Ria Lemaire - Repensando A História LiteráriaDocument7 pagesRia Lemaire - Repensando A História LiteráriaDayh QuadrosNo ratings yet
- Texto 1 - Origem e Evolução Da LinguagemDocument19 pagesTexto 1 - Origem e Evolução Da LinguagemDayh QuadrosNo ratings yet
- Compagnon, Antoine - O Demônio Da Teoria - TrechoDocument4 pagesCompagnon, Antoine - O Demônio Da Teoria - TrechoDayh QuadrosNo ratings yet
- Butor, Michel - O Romance e Sua TécnicaDocument82 pagesButor, Michel - O Romance e Sua TécnicaDayh QuadrosNo ratings yet
- Barthes, Roland - "A Morte Do Autor" e "Da Obra Ao Texto"Document96 pagesBarthes, Roland - "A Morte Do Autor" e "Da Obra Ao Texto"Dayh QuadrosNo ratings yet