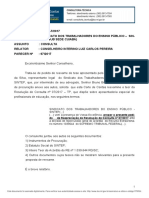Professional Documents
Culture Documents
Antropologia Contemporânea, Sociedades Complexas e Outras Questões - M. Goldman
Antropologia Contemporânea, Sociedades Complexas e Outras Questões - M. Goldman
Uploaded by
Palmirasilva0 ratings0% found this document useful (0 votes)
24 views41 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
24 views41 pagesAntropologia Contemporânea, Sociedades Complexas e Outras Questões - M. Goldman
Antropologia Contemporânea, Sociedades Complexas e Outras Questões - M. Goldman
Uploaded by
PalmirasilvaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 41
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA, SOCIEDADES
COMPLEXAS E OUTRAS QUESTOES
MARCIO GOLDMAN
Museu Nacional, UFRJ
Que antropélogo poderia levar realmente a sério uma suposta "antropo-
logia das sociedades primitivas" (ou "simples", ou como se quiser denomi-
nd-las)? Sabe-se que as primeiras criticas ao emprego dessas categorias
remontam ao final do século passado, com as obras de Boas e Durkheim,
constituindo hoje um dos poucos aspectos quase consensuais da disciplina.
Parece, contudo, que falar em sociedades "complexas” ou "modernas" néo
Jevanta tantos problemas, o que é evidentemente um contra-senso, se admi-
tirmos a impossibilidade ou a inadequacdo do uso de termos como "simples"
ou "primitivo". Essa auséncia de problematizagao sé pode derivar na verda-
de do fato de tendermos a esquecer como a prépria nog&o de "sociedade
primitiva" foi construida. Como demonstrou Adam Kuper num trabalho
fascinante, a elaboragéo de uma imagem das sociedades ditas primitivas,
bem como das “tradicionais*, cumpriu a funcdo politica e intelectual de
permitir 0 desenvolvimento de imagens da "sociedade moderna”, "comple-
xa", de nossa propria cultura enfim (Kuper 1988). A andlise de Kuper
permite igualmente uma melhor compreensio de alguns problemas mais
especificos que parecem comprometer os estudos antropolégicos das socie-
dades complexas. Se a nogdo de sociedade primitiva foi constituida, implici-
ta ou inconscientemente, como projecdo invertida da nossa, ¢ se a fungao
latente dessa projecdo foi a de objetivar ou ratificar uma certa imagem de
nés mesmos, isso significa que, para os primeiros antropélogos, a contri-
buig¢do da antropologia para a andlise das sociedades complexas deveria ser
apenas parcial e indireta. Conhecendo aquilo que nao somos — ou ao menos
que deixamos de ser —, estarfamos simplesmente delimitando um campo a
Anuério Antropolégico/93
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995
113
MARCIO GOLDMAN
ser coberto por outras disciplinas, como a sociologia, a ciéncia politica ou a
economia. O problema é que as coisas raramente se passam com linearida-
de, e os antropélogos jamais chegaram a aceitar completamente que sua
disciplina se limitasse a ser uma “ciéncia das sociedades primitivas". O fato
é que a investigagio intensiva desse tipo de sociedade logo trouxe a luz
fenémenos e principios que, de uma forma ou de outra, eram igualmente
detectaveis no interior da sociedade a qual pertencia o préprio observador.
Se, como afirma ainda Kuper (1988: 231-235), ao longo da hist6ria da
antropologia a sociedade primitiva passou de “protétipo" a “tipo ideal”
deste a "modelo", essa passagem implicou igualmente na tentativa de averi-
guar se, entre as varidveis encontradas no modelo, nao haveria algumas
redundantes, presentes num grande nttmero de sociedades distintas, inclusi-
ve e principalmente na nossa. Deste ponto de vista, nio ha nada a estranhar
no fato de que, desde a década de 20, antropélogos com experiéncia de
campo intensiva cm sociedades primitivas tenham passado a se dedicar ao
estudo das sociedades complexas.
Ao lado deste ponto, € preciso observar que o carater de “modelo”
atribuido as sociedades primitivas nfo deixa de ser extremamente ambiva-
lente. Kuper utiliza o termo pensando certamente em algo como um "mode-
lo reduzido", taboratério natural onde principios gerais e mesmo universais
poderiam ser isolados. Acabamos de observar, contudo, que se trata tam-
bém de um modelo no sentido de exemplo de um tipo de investigacao que
poderia ser estendido a sociedades de outra natureza. Mas trata-se igualmen-
te de um modelo empregado como molde para recortar 0 universo a ser
investigado. Isso se traduz diretamente na tendéncia dos antropdlogos busca-
rem no interior das sociedades complexas de larga escala unidades mais ou
menos equivalentes Aquelas que estavam acostumados a estudar. Pequenas
cidades, comunidades, subgrupos, subculturas, minorias etc. passaram a
fornecer a matéria prima com a qual o antropélogo interessado nas socieda-
des complexas deveria lidar. A tentativa de recortar verdadeiras “tribos" no
interior de um conjunto muito vasto talvez seja uma das principais tendén-
cias — ou tentagdes — da chamada antropologia das sociedades complexas
(Perlongher 1993: 139)'.
1, Como me apontou Otévio Velho, o fato de alguns grupos no interior das sociedades com-
plexas utilizarem justamente a categoria de “tribo" para demarcar suas fronteiras pode
levantar um problema efetivo para o estudo das representacbes grupais mas ndo serve para
114
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA, SOCIEDADES COMPLEXAS
Por outro lado, uma das caracteristicas da investigacdo antropolégica
mais tradicional sempre foi o esforco para atingir uma abordagem totaliza-
dora, capaz de restituir 0 conjunto do universo social para além de seus
recortes aparentes ou heuristicamente introduzidos. Se as sociedades primiti-
vas funcionaram como modelos concretos, impulsionando os antropdlogos
na direcdo de unidades empfricas semelhantes a elas, funcionaram também
como modelos abstratos, levando os pesquisadores a se indagar a respeito
de uma possivel configuracao total discernivel atras da aparente heterogenei-
dade e fragmenta¢ao de qualquer sociedade. Aos “micro-estudos" de sub-
grupos no interior de sociedades de larga escala responderam, portanto, as
“macro-anilises" das caracteristicas globais de culturas complexas. Essa
dicotomia dos estudos antropoldgicos das sociedades complexas € respons4-
vel, creio, por uma série de ambigilidades que parecem marcar seu desen-
volvimento ¢ mesmo seu estado atual.
Nesse sentido, é preciso inicialmente constatar que a relagio entre
unidade e fragmentacdo nfo se coloca, ao menos de imediato, nos mesmos
termos quando se trata das sociedades "primitivas" ou das "complexas". No
primeiro caso, o problema que sempre obcecou os antropélogos — conven-
cidos de que alguma espécie de "solidariedade mecanica" regia a (in)dife-
renciacao grupal e individual nessas sociedades — foi encontrar um princf-
pio de unidade institucional que integrasse os varios aspectos ou niveis das
sociedades deste tipo. O tema durkheimiano de que cada instituicao social
seria a expressdo parcial de um todo social transcendente, ou o principio
funcionalista de que cada subsistema social seria a atualizagao de necessida-
des sociais fundamentais, so apenas dois exemplos de uma tendéncia muito
mais generalizada, No caso das "sociedades complexas", o problema parece
ter sempre sido outro, a saber, como dar conta da integragao da multiplici-
dade de grupos aparentemente heterogéneos que constituem este tipo de
sociedade. Pelo menos dois tipos de abordagem podem aqui ser discernidos.
Por um lado, uma perspectiva “internalista", que, fazendo abstracao da
insercéo do grupo estudado em um conjunto mais amplo, busca esgotar 0
conjunto de suas articulagGes interiores. Por outro, uma tentativa de expli-
car 0 grupo visado como uma espécie de efeito de for¢as que o ultrapassa-
tiam por todos os lados.
negar a artificialidade de recortes empiricos que levern excessivamente a sério essas fron-
teiras tragadas ou imaginadas pelos prdprios grupos.
115
MARCIO GOLDMAN
Estamos as voltas aqui, é claro, com tipos mais ou menos ideais de
abordagem te6rica, os trabalhos concretos situando-se usualmente entre
esses dois extremos. De qualquer forma, a énfase na perspectiva “internalis-
ta" conduz a afirmacao de uma (relativa) independéncia do grupo estudado
face a constrangimentos tidos como “externos", enquanto as abordagens
mais decididamente “externalistas" acabam quase sempre por sugerir uma
quase teoria do reflexo, onde as unidades mais restritas tendem a ser enca-
radas simplesmente como projecées do conjunto abrangente. Além disso, €
importante observar que a dicotomia "interno/externo” parece corresponder
diretamente 4 oposicao "micro/macro", que marca igualmente, como vimos,
os estudos antropolégicos das sociedades complexas, de modo que a andlise
microscopica e interna dos grupos em sua suposta autonomia se opde a
abordagem macroscépica e externa de uma sociedade abrangente da qual os
grupos seriam 0 reflexo.
Ora, se parece 6bvio que as andlises do primeiro tipo sao insuficientes
para dar conta de sociedades de larga escala, os trabalhos apoiados sobre a
segunda perspectiva tampouco deixam de levantar uma série de problemas.
O mais importante, creio, reside no fato de que, ao insistir na idéia de que
instituigdes ou grupos especificos seriam 0 “reflexo” ou a “expressio” da
sociedade abrangente, estes trabalhos acabam por perder os meios de com-
preender efetivamente o que viria a ser esta sociedade. Em termos muito
simplificados, a questéo poderia ser colocada do seguinte modo: se cada
fendmeno social especifico é express4a da “sociedade”, esta s6 pode ser
teduzida a um quase nada, ou a um principio ideal extremamente impreciso.
Essa é uma heranca durkheimiana da qual a antropologia ainda nao se livrou
€ que se tora especialmente problemitica quando enfocamos sociedades
como a nossa, j4 que o fato é que as diferentes esferas da vida social com-
péem a totalidade social — ¢ no simplesmente refletem ou exprimem um
todo social concebido, ao menos implicitamente, como anterior a suas mani-
festagdes especfficas. E claro também que esta situacio reflete neste campo
especifico um conhecido dilema que sempre marcou a pesquisa antropolégi-
ca. Dividida entre o postulado de uma unidade do homem, que pretende
enunciar e esclarecer, e a realidade da diversidade cultural que Ihe fomece
a matéria-prima de suas investigagées, a antropologia parece ter sempre
oscilado entre uma ambic&o totalizadora mais ampla do que a das demais
ciéncias sociais e¢ um particularismo cuja mintcia dificilmente encontra
paralelo nas outras investigacdes sobre o fenémeno humano. Parece-me,
116
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA, SOCIEDADES COMPLEXAS
contudo, que longe de ver nessa alternancia entre o inventério minucioso
das diferen¢as e as concepgdes mais abrangentes acerca da sociedade e da
natureza humanas um problema ou um paradoxo, € preciso, antes, admitir
que é ai que reside a originalidade da contribuigdo da antropologia para
problemas que, na verdade, sfio extremamente gerais.
Ha ainda muito a dizer, é claro, a respeito desse conjunto de questées,
ambigiiidades e dificuldades. Antes de fazé-lo, contudo, é necessdrio discu-
tir muito mais detalhadamente as varias vertentes da contribuigdo antropolé-
gica para o estudo das sociedades complexas. Para isso acredito ser preciso
adotar uma estratégia diferente de uma abordagem direta que suporia neces-
sariamente, por um lado, a existéncia inquestionavel de um campo denomi-
nado “antropologia das sociedades complexas", e, por outro, a possibilidade
de periodizar a historia da antropologia como um todo em funcao da deter-
minacao de momentos decisivos para seu interesse por este tipo de socieda-
de. Devido aos motivos ja alinhados, o primeiro ponto — a existéncia de
um tipo especifico de conhecimento antropolégico acerca de um tipo parti-
cular de sociedade — fica em suspenso até o final da discussio. O segundo
— a periodizagao — exige uma tomada de posigio a priori que, espero, 0
desenvolvimento do trabalho ira legitimar. Meu pressuposto € que a antro-
pologia, implicita ou explicitamente, sempre manteve uma relacdo teérica
privilegiada com as chamadas sociedades complexas ou, para ser mais
preciso, com a sociedade na qual teve origem como campo de conhecimen-
to. Ou seja, que mesmo nas investigagSes aparentemente mais afastadas de
toda preocupag’io com a sociedade ocidental, uma certa concepgao deste
universo esté sempre presente e que esta concepgiio influi de algum modo
na pesquisa desenvolvida € nas teorias construidas.
E bem verdade que uma certa tradicao pretende estabelecer uma data
para o surgimento desse interesse antropolégico pelas "sociedades comple-
xas", data que pode variar de acordo com os recortes do historiador. Nao é
contudo de possiveis discordancias cronolégicas que se trata aqui. Tudo
indica, ao contrario, que esse interesse seja contemporanco da prépria cons-
tituicdo da antropologia como campo de conhecimento. Parece dificil susten-
tar que, bem ou mal, explicita ou implicitamente, um antropélogo, ainda
quando preocupado com "nativos" muito distantes ou com a elaboracado de
teorias muito gerais, ndo possua alguma concepgdo acerca de sua propria
sociedade e — o que 6 o mais importante — que essa concepedo nao afete
117
MARCIO GOLDMAN
de algum modo sua propria investigacao particular e/ou suas teorias mais ou
menos globais.
E claro também que com o retrocesso dos modelos primitivistas ou
historicistas — que pretendem que o presente dos "outros" possa esclarecer
nosso passado e, as vezes, nosso futuro — as chamadas sociedades comple-
xas passaram a se constituir em objeto direto de pesquisas € teorias antropo-
légicas. E justamente af que os problemas comecam, pois é no minimo
duvidoso que tenhamos nos livrado dos modelos que guiavam nosso pensa-
mento € que tenhamos, de fato, sido capazes de elaborar uma via de acesso
diferente para 0 conhecimento e a problematizagdo de nossa prépria socie-
dade. Nesse sentido, a "antropologia das sociedades complexas" parece ser,
ao mesmo tempo, a origem, o destino e a prova da investigagdo antropolé-
gica. Oriunda de uma preocupagio evolucionista com nossos comegos, a
antropologia s6 pode se renovar se for capaz de renovar-nos, levando ainda
mais longe o que sempre pretendeu fazer com os "outros": apresentar as
diferengas que nos permeiam e contribuir assim para que sejamos capazes
de nos esiranhar e, conseqilentemente, de nos problematizar e questionar.
No interior deste quadro e das premissas rapidamente esbocadas, nao é
dificil perceber que o interesse pelas chamadas sociedades complexas re-
monta a prépria constituicao da antropologia, prosseguindo ao longo de toda
a hist6ria da disciplina. Grosso modo, acredito ser possivel sustentar que
trés grandes modelos marcaram 0 desenvolvimento do pensamento antropo-
légico.
Em primeiro lugar, um modelo diacrénico, que permeia certamente as
teorias dos evolucionistas sociais, mas também as da Escola Sociolégica
Francesa e as de Boas e parte seus alunos. Modelo igualmente presente na
“pré-hist6ria" da antropologia — com o Iluminismo do século XVIII — e
em correntes menos influentes da hist6ria da disciplina, como os difusionis-
mos germénico ¢ britinico. Em todos esses casos, para além das inimeras
e conhecidas diferengas ¢ oposigdes entre as escolas ¢ os autores, 0 tempo &
a varidvel fundamental, 0 modelo a ser construido supondo um escalona-
mento micro ou macro-histérico dos fenémenos estudados, de forma a
118
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA, SOCIEDADES COMPLEXAS.
restabelecer uma cadeia causal e encontrar a explicagio do conseqiiente pelo
antecedente. Autores como Tylor, Durkheim, Boas, ou os iluministas ¢
difusionistas, discordam certamente a respeito de um sem mimero de ques-
tes, inclusive acerca da escala temporal a ser utilizada e dos critérios
exigidos para sua manipulacéo. Todos, contudo, parecem estar de acordo
com o fato de que a verdadeira explicacdo dos fendmenos sociais ou cultu-
rais deveria necessariamente passar por algum tipo de reconstituicao hist6ri-
ca.
Desta perspectiva, é na década de 20 que se pode situar uma primeira
Tuptura nos modelos da antropologia social e cultural. O funcionalismo
britanico e o culturalismo norte-americano quase simultaneamente passarao
a colocar em questo 0 privilégio do eixo temporal, propondo sua substi-
tuigdio por um modelo que deveria ressaltar descontinuidades ¢ especificida-
des de ordem sobretudo espacial. Esse modelo sincrénico serd, como se
sabe, responsavel pela énfase na pesquisa de campo como tinico meio de
coleta de dados € na objetivagéo dos conceitos de sociedade e cultura como
os verdadeiros temas da investigagéo antropolégica.
Uma segunda ruptura poderia ser estabelecida no final da década de
40, ruptura que se produz especialmente no interior da antropologia france-
sa, que, até entdo, com uma ou outra excegdo, havia se mostrado particular-
mente fiel 4 versio durkhcimiana do modelo diacrénico. A obra de Claude
Lévi-Strauss, com sua recusa em acantonar a pesquisa antropolégica em
unidades temporais ou espaciais empiricamente dadas, constitui certamente
© marco decisivo desse terceiro modelo’. Trata-se aqui do que poderfamos
denominar, talvez, um modelo "acrénico", uma vez que, como se sabe, 0
objetivo derradeiro da investigag3o consistiria no isolamento de certas
estruturas mentais invariantes que permeariam todas as sociedades e culturas
em todas as épocas ¢ lugares.
2. "I é tempo, para a etnologia, de livrar-se da ilusio criada de todos os modas pelos fun-
cionalistas, que tomam os limites praticos onde os encerra o género de estudos que preco-
nizam por propriedades absolutas dos objetos aos quais os aplicam. O fato de um etndlogo
acantonar-se durante um ou dois anos em uma pequena unidade social, bando ou aldeia,
esforgando-se para apreendé-ta como totalidade, no é razio para cret que em outros
niveis, distintos daquele em que a necessidade ou a oportunidade o colocam, essa unidade
no se dissolva em graus diversos em conjuntos que permanecem freqientemente insuspei-
tados" (Lévi-Strauss 1971: 545).
119
MARCIO GOLDMAN
Finalmente, creio que a década de 80 testemunhou uma nova Tuptura
na histéria da antropologia, caracterizével superficialmente por aquilo que
Stephen Tyler denomina "pés-modernismo” antropolégico (Tyler 1986) ou
que Ardener considera o fim dos "ismos” — das “escolas” — em antropolo-
gia (Ardener 1985: 56; Overing 1985: 6), ou ainda que Sherry Ortner pensa
Ser uma nova antropologia baseada na acdo ou na praxis (Ortner 1984:
127). Todos esses diagnésticos ressaltam como traco geral desse novo
modelo uma recusa das grandes teortas e dos grandes esquemas que teriam
dominado o pensamento antropolégico até este momento, recusa esta efetua-
da em nome do privilégio dos discursos efetivos, das relagdes concretas ou
das praticas. Creio que se trata, igualmente, de um ponto de vista mais pro-
fundo, de uma recusa apenas mais ou menos consciente dos trés grandes
modelos que construiram as antropologias classica ¢ modema. O modo
especifico pelo qual a antropologia contemporanea pretende escapar simulta-
neamente destes modelos é uma questéo que deverd ser tratada no final
deste trabalho, Por ora, é preciso acrescentar que este desenvolvimento,
Jonge de constituir um privilégio da antropologia, resulta antes de um movi-
mento muito mais gerai na histéria das idéias, sua manifestagao no pensa-
mento antropolégico derivando principalmente de uma releitura da tradi¢do
e dos objetivos da disciplina em fungao de algumas influéncias exercidas
sobre ele a partir da década de 70 pela filosofia, histéria, critica literria
ete.
eae
Como demonstrou Héléne Clastres, € justamente a devocio prestada
pelos iluministas a historia enquanto unica dimensao explicativa que, para-
doxalmente, impediu a constituicao da antropologia social ou cultural ainda
no século XVIII. Situando os antigos "selvagens" nos comecos do processo
histérico, os iluministas perdiam no mesmo golpe a possibilidade de expli-
cé-los: toda explicacdo sendo histérica e os "primitivos" nao tendo, por
definic&o, histéria, nada poderia ser dito em termos explicativos de suas
sociedades, cuja investigac’o serviria apenas, portanto, como meio de
explicagao daquelas que delas teriam se originado (Clastres s.d.: 205-208)
— ponto que demonstra que, por tris da aparente preocupacéo com os
120
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Textil Manutencao de TearesDocument44 pagesTextil Manutencao de TearesPalmirasilvaNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Proteção de Crianças e Adolescentes Na LGPDDocument24 pagesProteção de Crianças e Adolescentes Na LGPDPalmirasilvaNo ratings yet
- Antropologia PDFDocument31 pagesAntropologia PDFPalmirasilvaNo ratings yet
- Parecer Da Consultoria Tecnica 362077 2017 01Document5 pagesParecer Da Consultoria Tecnica 362077 2017 01PalmirasilvaNo ratings yet
- Fragoso Rios - Um Empresario Do OitocentosDocument16 pagesFragoso Rios - Um Empresario Do OitocentosPalmirasilvaNo ratings yet
- Estatística Descritiva e InferencialDocument22 pagesEstatística Descritiva e InferencialPalmirasilvaNo ratings yet
- Giddens - Chaves - de - .RespostaDocument4 pagesGiddens - Chaves - de - .RespostaPalmirasilvaNo ratings yet
- Cyntia Sarti - Rastros Da Violência. A TestemunhaDocument370 pagesCyntia Sarti - Rastros Da Violência. A TestemunhaPalmirasilvaNo ratings yet
- CEV Rio Relatorio FinalDocument229 pagesCEV Rio Relatorio FinalPalmirasilvaNo ratings yet
- Programa de Disciplina IPG 111Document2 pagesPrograma de Disciplina IPG 111PalmirasilvaNo ratings yet
- Antropologia Contemporânea, Sociedades Complexas e Outras Questões - M. GoldmanDocument41 pagesAntropologia Contemporânea, Sociedades Complexas e Outras Questões - M. GoldmanPalmirasilvaNo ratings yet