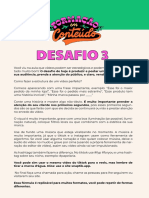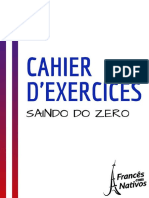Professional Documents
Culture Documents
Paisagens Urbanas
Paisagens Urbanas
Uploaded by
Isabella Lara0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views438 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views438 pagesPaisagens Urbanas
Paisagens Urbanas
Uploaded by
Isabella LaraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 438
DAISaAC
P= ta
nelson brissac peixoto
lJ Ff Da
0 espaco de trabalho e laze
téncia do homem urbano, motiva e:
Roe RUE ee ecco
eRe a ERG ee Meu Ta
Teneo eee
rome ce tLe eee
desmedido das metrépoles como uma
Toco ence tee mon ce
ferro ON en a
A arte assim mobilizada se exerce em
CTT ORT SUT OC SAME UE RC ELT
PER e cr cme ie
Oo noe ec enn em nemo E
no esforco de reinventar a localizagao
ea permanéneia. Trata-se portanto, 0
autor afirma, de redescobrir a cidade,
Pee nG nase enon |
o horizonte confundir-se com a calga-
2€ Na qual olhar para cima equivale
PRO Eco een Oe SU ee
TEM errr oem OMT ese CO eer
on On Tecra Con Ne Oneme Co
Mme erm mT Tie
Ease nen eC ME eo
em diversos planos. Paz surgir uma
PORE cE MeO TEC M NITE
een RUM Con SRT CC Rae
Mee OTE TCO OR eam CO Ce
propor¢ae, contornos nem fim”.
Autor de obras instigantes e de van-
guarda intelectual, Nelson ‘Brissac
Fer ORME TC MeO ce Te at
PCMAG Rta Tad
ont W eae n Cue Re LIN DAU LenS Le
eee eC Neem ae oe
FTE RTs CSE ATC een
Po OEE Ma Mer on Eo)
apropriacao institucional e as imposi
re Une mee Lorene ny
COMO Ones Con NOOO cio
227112
COMPRA
PAISAGENS URBANAS
Nelson Brissac Peixoto
editora
senac
so paulo
SUMARIO
[6
[8]
[16
[1741
[208]
(292)
Nota do Editor
Introdugao
Luz
Visdo da cidade
Retratos
Orrosto ea paisagem
Quadros mecanicos
Fisionomias urbanas
Janelas, estatuas
Um outro paisagismo
Muros
Nao se vé com os olhos
Tempo
As imagens sabem esperar?
Transito
Video: arquitetura/pintura/cinema
Ruinas
Oessencial ainda esta por vir
Imago urbis
A experiéncia da construgao
Distancias
Arquitetura dos limites
Informe
Urbanismo e arte nas megacidades
227112
NOTA DO EDITOR
Em nova edic¢ao e com 0 selo exclusivo do Senac Sao Paulo, aparece este
Paisagens urbanas, de Nelson Brissac Peixoto, que desde 1996, em seu
Jangamento, desfruta do prestigio de uma obra de referéncia em diversos
campos ~ arquitetura, urbanismo, fotografia, artes plasticas, cinema, lite-
ratura, filosofia.
Trata-se de um estudo sobre cidades e sobre como nelas se situa
as pessoas que as fazem eas habitam. F ainda, e principalmente, um livro
sobre o olhar para as paisagens, num mundo que, segundo o autor, esta
ficando opaco e ja nao se descortina como um horizonte sem fim. “As
cidades sao as paisagens contemporaneas”, ele diz, e néo quer apontar
apenas para a megacidade de Sao Paulo (embora esta protagonize 0 tex-
to). Aponta para as pracas de Belém, que “circunscrevem o mesmo vazio
de Brasilia”. Para as margens lamacentas do Capibaribe, em Recife, e 0
solo pedregoso de Sevilha. Para “Manaus dos igarapés e as cidades torna-
das pela égua e a bruma do vale do Pd”. Diante de um horizonte que nao
se deixa perpassar, da paisagem que é um muro, “o olhar é um embate”.
Nelson Brissac Peixoto faz aqui uma reflexdo sobre a arte em rela-
Gao com o lugar, base tedrica de um importante projeto aplicado na capi-
tal paulista, do qual resultou também 0 notavel livro, por ele organizado,
Intervencées urbanas. Arte/Cidade, lancamento do Senac Sao Paulo
em 2002.
INTRODUGAO
227112
Nada aparentemente mais anacr6nico do que um livro sobre paisagens. A
avalanche mididtica, levando-nos a olhar cada vez mais rapidamente as
coisas, relegou essas vistas — com suas tintas a cada dia mais esmaecidas
e empoeiradas — as pinacotecas. 0 mundo nao se descortina mais, como
nas perspectivas tradicionais, num horizonte sem fim. Nao se pode mais
pretender olhé-lo como fazia o pintor, com seu cavalete armado no alto
de uma colina: como de uma janela.
No horizonte, wm mundo cada vez mais opaco. Quanto mais se re-
trata, mais as coisas nos escapam. Uma obsessao que, ao invés de criar
transparéncia, s6 redobra essa saturagao. Qual o destino de nossas ima-
gens, esses espectros descartaveis e ser significado?
Ja se destacou a modernidade da paisagem, sua aparicao recente na
historia da arte: a pintura de paisagern — revelando o trabalho das nuvens —
foia maior c1 do século XIX.' De fato, Constable conciliou a defesa da
experimentacao coma cépia de schemata de nuvens feitas por paisagistas
do século XVIII, rearticulando-as a ponto de tornd-las irreconheciveis. Nao
foi essa nova fungao da arte, quando a pintura narrativa classica morreu,
que traria a pintura de paisagens ao primeiro plano??
Toda a hist6ria da pintura moderna poderia ser contada a partir
desse elemento celeste: a nebulosidade se presta a um questionamento
John Ruskin, Les peintres modernes: le paysage (Paris: Laurens, 1914)
= Emest H. Gombrich, Arte ¢ ilusdo (Sao Paulo: Martins Fontes, 1985), p
Projeto Arte/Cidade - Cidade sem janelas
227112 site
radical do dispositivo perspéctico classico. A nuvem, este “corpo sem
superficie” que nao se deixa retratar, por muito tempo excluido do cam-
po pictérico, serviu a pintura para problematizar a perspectiva, contesta-
da por essas massas nebulosas.? 0 esquema da visdéo converte-se numa
justaposicao de planos heterogéneos, pois a fluidez das nuvens requer
um olhar que percorra lateralmente o quadro. A pintura de paisagens
instaura uma nova maneira de ver 0 mundo.
A janela também aparece na arte moderna. Mas, ao contrario da
tradicao perspectivista, aqui essa imagem 6 tomada como simultanea-
mente transparente’e opaca. A superficie que admite luz também reflete.
Leva para dentro e da para fora: duplicidade que faz com que se estenda,
como uma grelha, em todas as diregdes, até o infinito. A janela cumpre a
mesina fungao que tiveram as nuvens: instaura o espaco sem profundida-
de nem limites, que conforma a visualidade contemporanea.
Cada obra de arte se apresenta, entao, como mero fragmento, uma
mintscula peca arbitrariamente recortada de um tecido infinitamente
mais amplo. Como se olhassemos a paisagem através de uma janela, 0
quadro truncando a vista, mas nunca abalando a certeza de que a paisa-
gem continua para além dos limites do que podemos ver naquele mo-
mento.‘ Esse alargamento lateral do espaco 6 proporcionado, paradoxal-
mente, pela janela. A paisagerm entaéo deixa de ser aquilo que se oferece
14 ao fundo para se converter no campo, plano e extenso, em que se
articulam todas as coisas: uma grade.
As cidades sao as paisagens contemporaneas. O skyline de Sao
Paulo, visto do alto dos prédios, alastra-se como o chao arcaico do
Pelourinho. As pracas de Belém circunscrevem o mesmo vazio de Brasilia.
As margens lamacentas do Capibaribe em Recife — diz 0 poeta — e 0 solo
pedregoso de Sevilha. Manaus dos igarapés e as cidades tomadas pela
agua e a bruma do Vale do Po.
Hubert Damisch, Théorie du nuage (Paris: Seuil, 1972).
* Rosalind Krauss, “Grids”, em The Originality of the Avant-Garde and Other
Myths (Cambridge: MIT Press, 1986)
Projeto Arte/Cidade - A cidade e seus fluxos
113]
rrecugao
Campo de interseccao de pintura e fotografia, cinema e video. En-
tre todas essas imagens e a arquitetura. Horizonte saturado de inscri-
Goes, depdsita em que se acumulam vestigios arqueolégicos, antigos
monumentos, tragos de meméria e 0 imaginario criado pela arte contem-
poranea. Esse cruzamento entre diferentes espacos e tempos, entre di-
versos suportes ¢ tipos de imagem, é que constitui a paisagem das cidades.
O olhar hoje 6 um embate com uma superficie que nao se deixa
perpassar. Cidades sem janelas, um horizonte cada vez mais espesso e
concreto. Superficie que enruga, fende, descasca. Sobreposicao de inii-
meras camadas de material, actmulo de coisas que se recusam a partir.
Tudo 6 textura: o skyline confunde-se com a calcada; olhar para cima.
equivale a voltar-se para 0 chao. A paisagem 6 um muro.
Cidades feitas de fluxos, em transito permanente, sistema de
interfaces. Fraturas que esgarcam 0 tecido urbano, desprovido de rosto e
historia. Mas esses fragmentos criam analogias, produzem inusitados
entrelagamentos. Um campo vazado e permedvel através do qual transi-
tam as coisas. Tudo se passa nessas franjas, nesses espacos intersticiais,
nessas pregas.
Cidades de historias, dotadas do peso e da permanéncia das extraor-
dinarias paisagens. Horizontes de pedra, onde 0 mais moderno convive
com a decadéncia, 0 futuro com a antiguidade. Um solo arcaico, juncado
de vestigios e lembrangas. Visdes da cidade como um sitio arqueoldgico.
Os textos aqui apresentados situam-se neste territ6rio intermedia-
rio, de transigao, entre diferentes suportes, na passagem da pintura a
fotografia, da arquitetura ao cinema. Formam um quadro necessariamente
fragmentado; tudo 0 que se pode visar sao constelacSes que os articu-
lem, Cada capitulo corresponde a um recorte possivel ~ e inteiramente
diferente — da relacao entre arte e cidade. O resultado 6 um caleidosc6-
pio que talvez sintetize melhor a paisagern urbana.
Tenta-se abordar as obras dos artistas enfocados mediante outras
referéncias, buscadas em 4reas totalmente distintas. Assim é que 0 tra-
balho de um pintor aparece através dos projetos de um arquiteto, videos
que colocam a questéo do tempo sao abordados tendo 0 cinema como
referéncia e ensaios fotograficos sao revelados a partir dos “quadros
mecanicos” do século XIX e da escultura contemporanea. Ea experién-
cia da metrépole, a cidade como horizonte, que possibilita esse entrela-
camento de linguagens.
Daf paisagens urbanas. A crise da autonomia modernista da obra
de arte, tomada como um objeto fechado em si préprio e isolado no espa-
co, coloca a questao da localizagéo, da relagdo da obra com o entorno. A
grade e as nuvens ~ categorias centrais da critica de arte contermporanea
—estabelecem este recorte mais amplo em que a obra se inscreve: a pai-
sagem. Da mesma forma, é preciso que aquele que vé nao seja estranho
ao mundo que ele olha. Ele deve ser visto de fora, instalado em meio as
coisas, surpreendido no ato de consideré-las de determinado lugar?
Paisagens urbanas 6 uma reflexao sobre a arte em relagdo defini-
da com o lugar. A nocao de especificidade do sitio, propria ao trabalho
escultérico, ganha aqui conotacdo mais ampla. Trata-se de tirar as obras
das instituigoes culturais, dos circuitos de exibicao estabelecidos, dos
padrdes convencionais de classificagao, e leva-las a um didlogo mais am-
plo. Nao tomar as obras isoladamente, mas como intervengdes num espa-
co mais complexo. Redefinir o lugar da obra de arte contemporanea, a
partir da sua integragao com outras linguagens e outros suportes. Sitio
que nao é necessariamente uma localizagao topografica, mas 0 campo
criado por essas articulagdes. Os trabalhos especfficos ao lugar levam
para fora do atelié tradicional, substitufdo pela indtstria, a midia e o ur-
banismo
Aqui se explicita a relacgao entre arte e cidade: trata-se de desper-
tar a experiéncia do mundo de que toda arte é expressao. Atentar para o
sitio em que as obras se localizam e que constituem como lugar. Pois
retornar as proprias coisas é voltar ao mundo anterior ao conhecimento,
ao qual este sempre remete e com relagao ao qual qualquer determina-
cao cientifica 6 abstrata e dependente. Como a geografia 6 uma abstra-
y. Le visible et invisible (Paris: Gallimard, 1964), p. 177.
[19]
‘Ptrodugtio
cao da paisagem, onde nds aprendemos 0 que ¢ uma floresta, um campo.
ou um rio.® Retornar da geografia a paisagem.
E possivel, hoje em dia, um paisagismo? Poderia o mundo contem-
poraneo ser visto segundo esse olhar, tido por construfdo para horizon-
tes passados? Essas paisagens seriam capazes de revelar a alma das cida-
des — 0 horizonte do nosso tempo — perdida na indistingao arquitetonica
e na crise urbana?
A fungao da arte 6 construir imagens da cidade que sejam novas,
que passem a fazer parte da propria paisagem urbana. Quando parecfa-
mos Condenados as imagens uniformemente aceleradas e sem espessura,
tipicas da midia atual, reinventar a localizacfo e a permanéncia. Quando
a fragmentacao e 0 caos parecem avassaladores, defrontar-se com 0 des-
medido das metropoles como uma nova experiéncia das escalas, da dis-
tancia e do tempo. Através dessas paisagens, redescobrir a cidade.
Maurice Merleau-Ponty, Phénomenologée de la perception (Paris: Gallimard: 1981), p. III.
IFCE - CAMPUS FORTAL
Ezal
LUZ
Vis&o da cidade
Por wm breve momento, diz Griffith, com a invengao do cinema, deu-se
uma apari
mostra de imediato, que nao se deixa facilmente retratar. Um esplendor
que, entretanto, acabaria desaparecendo ~ talvez para sempre ~ dos filmes.
A cena ~ em Ordet, de Dreyer ~ 6 inesquecivel. Uma casa no cam-
po, quase a beira-mar. Ao lado, uma colina recoberta por um trigal. Uma
escada conduz ao topo. La, postos para secar ao sol, estendidos num
varal, lengéis brancos tremulam ao vento. Nenhum ruido ecoa na paisa-
gem. Apenas a presenc¢a discreta, mas consistente, do vento se faz sentir:
aragem que ondula a relva. Com a mesma forca impalpavel que 0 sagrado
faz sua aparicao na casa. Imagens do que nao se pode descrever. Um
cinema que faz ver o inefavel.
: a beleza do vento soprando nas arvores. Algo que nao se
O invisivel nao €é, porém, alguma coisa que esteja para além do que
6 visivel. Mas é simplesmente aquilo que nao conseguimos ver. Ou ainda:
6 aquilo que torna possivel a visao. O enigma que a pintura celebra —
Jembra Merleau-Ponty — nao é outro senao o da visibilidade. Ela nao evo-
ca coisa alguma. Ao inverso, ela dé existéncia visivel aquilo que a visao
profana acredita invisivel. E, portanto, no limite, o visfvel o que a pintura
nos faz ver. O que nos faz ver mais do que vemos — a arvore ressequida
0 olho ¢ o espérito, trad. Marilena Chaui, Colecao Os Pensadores
(Sao Paulo: Abril, 1980), p. 281
__ re
Fra Angelico
[19]
luz visa da cidade
que, a noite, 6 um espectro — e também o que nao vemos ao ver — 0
intervalo entre as arvores, 0 vento.?
Assistir a um velho filme do cinema mudo. Na sala, nenhum rufdo,
salvo as vezes a mtisica que 0 acompanha. O siléncio é completo. Vemos
aquelas figuras fantasmag( is se agitarem na tela coma certeza de que
ja pertencem ao passado. Os gestos bruscos e espontaneos ressaltam a
naturalidade e a inocéncia com que se deixam retratar, olhando sérios
para a cAmera. Aqui tudo é verdadeiro e transparente.
O cinema entao era capaz de uma apreensao imediata da realidade
Antes que esta lhe tivesse escapado, antes de 0 cinema ter se contentado
com 0 “efeito de realidade”. Era capaz de mostrar rostos e paisagens.
Com os filmes mudos, as imagens eram dotadas de materialidade, reves-
liam-se do aspecto natural das coisas e dos seres. A imagem remetia a
uma natureza fisica inocente, a uma vida imediata que nao tinha necessi-
dade de linguagem. O cinema mudo, diz Deleuze, sempre mostrou a cida-
de e tudo aquilo do que ela é feita, entretanto ele Ihes dé uma espécie de
naturalidade, que é 0 segredo e a beleza da imagem silenciosa.*
Nao 6 apenas 0 passado do cinema que se mostra nesses filmes.
Estamos sendo confrontados com uma outra coisa: uma presenga, vi-
brando particularmente nesses rostos e cidades. E isso — esta evidéncia
de algo que nao podemos ver nem tocar — que dé consisténcia e verdade
@ essas imagens.
Mas 6 isto ~ essa beleza — que se perdeu. O que mais escapa as
imagens contemporaneas? O que elas sd0 mais incapazes de retratar? 0
que parece ter desaparecido por cormpleto da fotografia, do cinema? O rosto
e a paisagem.
Ao fazer suas “cdpias de pontos de vista”, por volta de 1826, Niépce
nao estava simplesmente inventando a fotografia. Colocando sua camera
obscura na janela, ele vé surgir na placa de estanho uma “ténue imagem”
das construcdes e ruelas em frente. Naquelas impressdes muito claras,
Marilena Chaui, Da reatidade sem mistérios ao mistério do mundo (Sto Paulo: Brasiliense,
1981), p. 256,
Gilles Deleuze, Ltimage-temps (Paris: Minuit, 1985), pp. 292-293.
Joseph Nicéphore Niépce
{21]
lue—wsdo de cidade
quase imperceptiveis, mais parecidas com nuvens, alguma coisa se daa
ver. Configura-se, surgindo como volumes de sombras, uma cena urbana.
Esbogada, como que por milagre, simples resultado da Juz, naquela cha-
pa de metal.
Tratava-se, para Niépce, de conservar sem intervencao manual a
cena que se formava na camera obscura, criando um meio de fixar a
imagem de modo que a luz que a criou nao a destruisse quando ela fosse
observada. Era preciso interromper 0 processo da sensibilidade a luz e
impressionar a imagem. A foto 6 uma sombra fixada para sempre, uma
“gravura de luz”.
Essas “escrituras solares” deixam ver menos 0s objetos, dificilmente
discerniveis e privados de cor, do que uma espécie de luminancia. A pla-
ca heliografica visa menos mostrar corpos do que se deixar “impressio-
nar”, captar os sinais transmitidos pela alternancia da luz e da sombra.
Imagem aqui diz respeito & fotossensibilidade. Antes que se chegasse a
fixacao da fotografia no papel, tratava-se do espelhamento da placa me-
télica do daguerrestipo. A heliografia — acao luminosa sobre placas meta-
licas ~ implicava uma desvalorizacao dos sdlidos na qual, diz Niépce, os
contornos se perdem.‘ A fotografia nasceu como registro da luz.
Antes de ser uma imagem que reproduz as aparéncias de algo, a
fotografia 6 da ordem da impressao, do traco.* Ela surge ao se conseguir
captar e imprimir diretamente os raios luminosos emitidos por um obje-
to. A fotografia é em primeiro lugar uma impressao luminosa. O aparelho
de fotografar nao 6, em principio, indispensavel para que haja fotografia
~ 0 dispositivo dtico (a camera obscura) é antecedido por um dispositi-
vo quimico.
Os photogenic drawings — desenvolvidos primeiro por Talbot (por
volta de 1840) — consistem em fotografias obtidas sem aparelho fotogra-
fico, pela simples agao da luz. Num local escuro colocam-se objetos di-
retamente sobre suporte emulsionado com solucao de nitrato de prata e
* Paul Virilio, La machine de vision (Paris: Galiléc, 1988).
* Philippe Dubois, 0 ato fotogrdfico e outros ensaios (Campinas: Papirus, 1994), p. 61.
(22)
paisagans ufbanas
expde-se tudo a luz. As partes nao protegidas dos raios solares escure-
cem, enquanto 0 suporte permanece branco sobre 0 objeto. O resultado
sao silhuetas claras sobre fundo escuro. Implicam a eliminacgao de toda
parte Otica do dispositivo fotografico, além do préprio negativo.
O procedimento, retomado pela vanguarda dos anos 1920, com Man
Ray e Moholy-Nagy, 6 uma impressao por contato. 6 um trabalho sobre
os efeitos da matéria luminosa como tal, apreendendo apenas os tracos
fantasmaticos de objetos desaparecidos, que s6 subsistem na forma
imaterial de efeitos de texturas, de modulagoes e transparéncias.
Processo que 6 essencialmente mantido quando Talbot imprime,
com uma cdmera obscura, agora sobre papel sensivel, vistas do exterior
de sua residéncia de Lacock Abbey. Em todos os casos, trata-se de obter
imagens diretamente, em exemplar tinico, da exposicao do objeto a luz.
Veja a conhecida passagem de Proust sobre a sonata de Venteuil.
Tudo esta contido ali. De repente, em meio aos sons, sem poder distin-
guir claramente um contorno ou dar nome ao que lhe seduzia, uma frase
nos “abre mais amplamente a alma, como certos odores de rosas circu-
lando no ar timido da noite tém a propriedade de dilatar nossas narinas”.
Uma impressao propriamente musical, sine materia.
Um mundo aparentemente sem forma porque nossos olhos nao a
percebem, sem significado porque escapa a nossa inteligéncia. Uma pe-
quena frase que exige despojar a alma de todo recurso do raciocinio e
fazé-la percorrer sozinha 0 caminho do som. Swann faria tocar certas
sonatas para ver se nao descobria nelas uma dessas “realidades invisi-
veis”. Certas imagens — os rostos e as cidades — podem ecoar como essa.
pequena frase musical.
O passado entao repercute no momento presente, condensado ir-
resistivelmente quando Proust, ao percorrer pela tiltima vez a regiao de
Combray, percebe 0 entrecruzamento de todos os caminhos. “Neste ins-
tante, a paisagem se agita como ao vento.”*
Marcel Proust, Un amour de Swann (Paris: Gallimard, 1954), pp. 52-53.
William Henry Fox Talbot
Abbey, photogenic craning, 1839
Jusaum of Art, Nova York
(24)
pacagons ubanes
E assim que descobre, no quadro Vista de Delft, de Vermeer, um
pequeno muro amarelo. Parece, olhado separadamente, uma obra de arte
chinesa, de uma beleza que basta a si propria. Entao ele nota pequenas
personagens azuis e a areia rosa, além da “preciosa matéria do pequeno
muro amarelo”. A razdo do encanto: a cor. Os quadros de Vermeer sao
fragmentos de um s6 mundo, sempre a mesma mesa, 0 mesmo tapete, a
mesma mulher. A mesma nova e tinica beleza, enigma inexplicavel se néo
assimilarmos a impressao particular que a cor produz. Af se da, pela cor,
a criagao da alma dos lugares. Algo que nao se reduz a nenhuma dessas
coisas, mas que se aninha no préprio material, a cor. Essa beleza miste-
riosa que 0 escritor, personagem de Proust, gostaria de possuir, tornando
suas frases mais preciosas com varias camadas de cor. Como 0 pequeno
muro amarelo.
O que, na verdade, faria de Lumiére um pintor ~ “o ultimo dos
pintores impressionistas” —, um contemporaneo de Proust? A capacida-
de de fazer ver 0 que a pintura da época também procurava revelar. Ao
fundo da imagem de um de seus filmes véem-se arvores, e suas folhas sao
agitadas pelo vento. Nas vistas de Lumiére, 0 ar, a 4gua, a propria luz
tornam-se palpéveis
A pintura e, depois, a fotografia lutariam para produzir esse tipo de
efeito magico. Retratar o “sopro das nuvens”. Diirer, diz Erasmo, pinta 0
que nao pode ser pintado: o fogo, os raios, as tempestades e as nuvens
passando sobre os muros. Mas ha no século XIX uma pintura de nuvens,
de tempestades e de arco-iris — de folhas ao vento. O que marca 0 século
que inventaria o cinema ¢ ter convertido a luz o ar em temas pictéricos.
Com Lumiére tem-se a tiltima tentativa de colocar 0 problema — pictérico
~ da figuraco do impalpavel, do invisivel. Ali o cinema encontra-se, pela
primeira e talvez tltima vez, com a pintura.
Desde entao, reitera-se a mesma busca. Assim existe, para Barthes,
um sudoeste, “nao uma regido, mas apenas uma linha, um trajeto vivido”.
Suas fronteiras sao anunciadas por sinais imperceptiveis ao olhar des-
* Jacques Aumont, L’eeil intermimable (Paris: Seguier, 1980), pp. 24-26.
[25]
uz ~ visio da exdade
provido de memGria, “uma palmeira no patio de uma casa, uma certa
altura das nuvens que da ao terreno a mobilidade de um rosto”. Ai domi-
na a luz do sudoeste, definida menos pelas cores com que afeta as coisas
que pelo carater iminentemente habitavel que ela dé a paisagem. “Iumi-
nando cada coisa em sua diferenga, ela preserva 0 lugar de qualquer vul-
garidade, de qualquer gregariedade e torna-o impréprio ao turismo”.
Destas nuances — tempos, luzes — 6 que provém “o poder que esta terra
tem de desfazer a fria imobilidade dos cartdes-postais”.£
Calvino diz que existem diversas maneiras de falar de uma cidade.’
Uma é descrevé-la. Dizer de suas torres, pontes, bairros e feiras, todas as
informacoes a respeito da cidade no passado, presente e futuro. Nesse
Mapeamento, porém, a cidade desaparece enquanto paisagem. As cida-
des, mais do que qualquer outra paisagem, tornaram-se opacas ao olhar.
Resistem a quem pretenda exploré-las. Uma simples panoramica nao da
mais conta de seus relevos, de seus rios subterraneos, da vida latente em
suas fachadas. Tornaram-se uma paisagem invis{vel.
Todas as tentativas de descricgao redundam em mera. enumeracao,
que nao da conta da verdadeira paisagem. 0 desenvolvimento da fotogra-
fia e do cinema acarretou a morte da descri¢&o cldssica, 0s minuciosos
painéis com que se reconstitufam lugares e personagens. O retratista e 0
escritor de folhetim sao figuras do perfodo. Agora, quando tudo se tor-
nou visivel demais, a literatura e a pintura perderam a paisagem.
A imagem explicita provoca 0 esgotamento da capacidade de des-
crever. Sob a ditadura da visao imediata, o olhar perdeu sua abrangéncia
panoramica. Isso vale também para 0 rosto: hoje nao hé mais 0 costume
sisteméatico de retratar, com o que se fez uma verdadeira fisionomia de
uma €poca. O advento do cinema sé aceleraria esse processo. Tudo pas-
sou a ser instantaneamente mapeado. A imagem mididtica 6 desde logo
uma descrigao.
Roland Barthes, “A luz do sudoeste”,
-m [ncidentes (Rio de Janeiro: Guanabara, 1988), p. 24
Italo Calvino, Cédades invistvess (Sto Paulo: Companhia das Letras, 1990)
IFCE - CAMPUS F@RTALEZA|
{
[26]
paisagens urbanas
A literatura — como todas as outras formas de olhar, inclusive 0
fotografico — voltou-se para 0 menos evidente. Sem personagens nem
rostos, a literatura tornou-se introspectiva, voltada para os mistérios e
percalcos da alma humana. A pintura, entéo, mergulhou cada vez mais na
abstracao.
Mas como fazer o olhar recuperar a paisagem? Trata-se de narrar a
cidade sem ser pela descrigao — as cifras arrecadadas pelos impostos ou
as dimensdes das novas avenidas. Fi ainda possfvel pintar paisagens? Nao
por acaso Calvino recria o estilo fabulério das histérias classicas de aven-
turas. Na figura do viajante, ele reedita o marinheiro benjaminiano, ar-
quétipo do contador de histérias, para quem a perda da experiéncia no
mundo contemporaneo impossibilita a narragao. Calvino retoma as per-
sonagens e o tempo em que se relatavam terras distantes. Uma tentativa
de resgatar a narrativa, “esta arte hoje em dia tao negligenciada”? Neste
género tao anacr6nico — como o paisagismo — mas ao mesmo tempo tao
atual, a literatura encontra a pintura.
Mas 0 explorador, recém-chegado e ignorando completamente as
Iinguas da regio, nao pode se exprimir de outra maneira senéo “com
gestos, saltos, gritos de maravilha ¢ de horror’. O estrangeiro s6 pode
transmitir as mesmas sensacdes que experimentara diante daquelas
paisagens, como se as estivesse contemplando naquele instante. Com
0 mesmo espanto e a mesma falta de palavras provocados pelo que é
indescritivel.
Hoje em dia, a descric&o esta substituindo a paisagem. Nao se pode,
na maioria das vezes, dizer nada a respeito de uma cidade além do que
seus prdprios habitantes repetem. O que ja se disse recobre seus contor-
nos € nuances. Nas cidades, os olhos nao véem coisas, mas figuras de
coisas que significam outras coisas. {cones, estatuas, tudo é simbolo. Aqui
tudo é linguagem, tudo se presta de imediato a descrigao, ao mapearnento.
Como é realmente a cidade sob esse carregado invdlucro de siubolos, 0
que contém e 0 que esconde, parece impossivel saber.
Uma maneira diferente de falar de uma cidade: a partir das primei-
ras impressdes que ternos ao chegar, das pedras e cinzas que restam dela
Louis Lumiére
[28]
pasegens urberes
ou de velhos cart6es-postais. Ou ainda dos seus nomes, capazes de evo-
car a vista, a luz, os rumores e até 0 ar no qual paira a poeira de suas ruas.
E por meio desses indicios — e nao das descri¢Ges — que se pode obter um
verdadeiro quadro dos lugares.
Ser, na expressao de Valéry, o olho que transforma 0 muro em nu-
vem. Apoiar-se sobre 0 que ha de mais leve, as nuvens e 0 vento, e dirigir
o olhar para aquilo que sé pode se revelar por uma visao indireta.!” Toda
uma paisagistica esta contida af. Capaz de - sem deixar de dar concregao
e espessura as coisas ~ subtrair peso do mundo. Leve, mas precisa e de-
terminada como o véo de um péssaro. Capaz de tratar a gravidade com
graca. “Retirar 0 peso” é transformar o mundo em paisagem, pinta-lo
com aquarela, com pastéis. Buscar imagens de leveza — graos de poeira
que turbilhonam no ar. Aliviar a paisagem de todo o seu peso até fazé-la
semelhante a luz da lua. Transformar tudo em luz: idedrio classico da
pintura de paisagem.
Um paisagismo — fundado na luz, na cor, nos sons e na memoria
que se assemelha ao delineado pelos panoramas urbanos de Benjamin. A
mesma tentativa de surpreender o brilho intenso e a delicada beleza pre-
sentes nas primeiras impressGes, na meméria e nos nomes das cidades.
Uma vontade insistente de fazer aflorar de cada frase — como se
fossem pinceladas — mais uma coluna, mais um telhado, mais um vulto
humano sentado a janela. Como se essas paisagens urbanas tivessem que
ser resgatadas do limbo escuro em que ficaram confinadas e 86 se consti-
tuissem nessas historias. As palavras tém que lutar sem descanso contra
a opacidade e a retracao da paisagem. Uma narrativa direcionada sempre
para um ponto onde algo ainda nao foi dito, embora tenha sido obscura-
mente pressentido, que se desenvolve “na borda extrema do visivel”.
Em contraposicao a essa perda do instante, temos os fragmentos de
Benjamin sobre a cidade." Eles nao descrevem a experiéncia da infancia
Italo Calvino, Seis propostas para o préximo milénio (Seo Paulo: Companhia das Letras,
1990)
Walter Benjamin, “Infancia em Berlim por volta de 1900", em Obras escolhidas, vol. I (Sa0
Paulo: Brasiliense, 1987), e Didrio de Moscou (Sao Paulo: Companhia das Letras, 1989).
[29]
uz visto da cidace
nem a condicao do estrangeiro, mas as apreendem como acontecimento.
Inscrevem 0 seu inatingivel. Aquilo que faz do encontro de uma palavra, de
um cheiro, de um lugar, de um rosto nao é comparado com outros eventos.
‘Tem um valor de iniciacéo em si préprio, ainda que s6 venhamos a sabé-lo
mais tarde. 5 0 que faz as cidades parecerem paisagens.
O reconhecimento que a crianca empreende do seu mundo segue
os mais inesperados rastros. Um mapeamento da cidade através dos apa-
rentemente insignificantes acenos — a vertigem dos caleidoscdpios de
feira, 0 piscar das arvores de Natal oua buzina do carrinho de sorvete —
que ela lhe faz. Assim é que da infancia ecoa nao o ressoar dos canhdes,
as sirenes das fabricas ou a algazarra das bolsas de valores. 0 que se ouve
€o0 tinir da lampada de gas, o rufar da banda de miisica e 0 latido distante
na rua. Sao esses sons ~ na delicadeza daquilo que é infinitamente pe-
queno, a que s6 uma crianga prestaria atencao — que para Benjamin fa-
zem soar 0 século XIX
A inesgotavel imaginacao do recém-chegado, atraido por tudo aquilo
que nunca havia visto, lanca mao de todos os recursos possiveis para
_construir sua cenografia. Até a neve contribuiria para fazer de Moscou
uma paisagem. Instaura um siléncio que faz crer que se esta nos confins
do pafs. Como até os sinos se calaram, tudo contribui para dar @ cidade
uma quietude de paisagem. Além disso, em nenhuma outra cidade, por
causa dos edificios muito baixos, se vé um céu tao amplo. O céu, assim
tao presente, também instaura extensdes naturais. Entre os telhados aca-
mhados sempre penetra na cidade o horizonte da vasta planicie.
Esta 6, para ele, uma das condigdes essenciais da beleza dessa ci-
dade: nenhuma de suas pracas possui um monumento. E por isso que
-parecem clareiras e lagos. Na Europa ocidental, ndo existe quase ne-
nhum espaco secreto que nao tenha sido profanado, no século XIX, por
‘um monumento. Os monumentos sao como mapas: tragam inexora-
velmente o perfil da cidade. S40 marcos que estabelecem sem apelacao a
e os caminhos do lugar, que reduzem suas espessas camadas de
a signos exteriores erguidos sobre a grama. Eles excluem 0 nao dito,
o invisivel, da cidade.
Louis-Jacques Mandé Daguerre
31]
uz ~ visio da cidacts
E por isso que o estrangeiro, incapaz de reconhecer 0 que essas
estatuas significam, pode ter acesso ao rosto interior das cidades, nao
estampado nos mapas nem esculpido nos monumentos. Sensivel aos ace-
nos sutis — luzes, nomes, barulhos ~ que as cidades fazem para nés, ele
pode desvendar os seus segredos, 0 seu mistério. Os mais inusitados re-
cursos, retirados diretamente do arsenal do explorador tropical, nos con-
duzem pelas cidades estrangeiras. O viajante — aquele que persegue, como
se estivesse cacando borboletas, os sons dos lugares - é a figura emble-
matica desse paisagismo urbano.
Mas a imagem contemporanea pode falar dessa paisagem invisivel?
A imagem seria capaz de, como postula Deleuze, exercer um choque s0-
bre a imaginacao, levando-a ao seu limite? Um choque que force 0 pensa-
mento a presenca de algo que nao pode ser dito. Como podem as ima-
gens abordar aquilo que nos escapa? A imagem cinematogrdfica opera
uma suspensao que, longe de tornar visiveis as idéias, dirige-se ao que
nao se deixa mostrar. es
Esses graos dangantes nao sao feitos para serem vistos. O cinza, 0
vapor, a névoa ~ em Dreyer ou Kurosawa — nao constituem um véu indis-
tinto colocado diante das coisas. Sao, diz Deleuze, um “aquém da ima-
gem” que nos defronta com suas proprias condigdes. Essas cenas, feitas
de poeira luminosa, longe de serem abstratas, sao as mais perturbadoras
do cinema. Imagens em que a indiscernibilidade da terra e das aguas, do
céu e da terra, evidencia a possibilidade da visio. Suspensao do mundo
que torna visivel
Os amantes do teatro argumentam que ao cinema faltara sempre
alguma coisa: a presenca dos corpos. Ele s6 mostraria ondas e luzes que
simulam coisas. Mas j4 se disse desde Bazin que existe uma outra moda-
lidade de presenca, cinematografica, propria da imagem. Porque a ima-
gem — operando com aquela “poeira luminosa” — afeta 0 visivel de um
modo que contradiz a percepcao natural. Ocorre entao a génese de um visf- |
vel que ainda escapa a visao. O advento de corpos em fungao de um bran-
co, de um preto, de cores, de um comeco de visfvel que ainda nao é figura
nem acao. Pois, para Deleuze, 0 problema nao é o de uma presenca de
oe
corpos, mas o de “uma crenca capaz de nos devolver o mundo e o corpo
a partir do que significa sua auséncia”."?
Quando a midia parece querer transformar o mundo em imagens,
multiplicando-as ao infinito, destituidas de necessidade interna, 0 pro-
blema esta precisamente — na formulagao de Calvino — em apreciar a
beleza do vago e do indeterminado. Lm esforco para dar conta do aspec-
to sensivel das coisas, de tudo aquilo que nao é dizivel. Perseguir aquilo
que escapa & expressao, a infinita variedade das coisas mais humildes e
contingentes. Um aproximar-se das coisas com discrigao e cautela, res-
peitando o que as coisas comunicam sem o recurso das palavras. Desen-
volver 0 poder de evocar imagens i absentia. Imagens de tudo aquilo
que nao 6, mas poderia ter sido. Imagens que nao constem do repertério
disponivel, cada vez mais confundido com nossa experiéncia direta. “Fa-
zer falar 0 que nao tem palavra, 0 péssaro que pousa no beiral, a arvore
na primavera e no outono, a pedra, 0 cimento, 0 plastico...”
A fotografia foi considerada, nas suas origens, um meio destinado a
liberar a pintura do trabalho ingrato da reproducao fiel, que poderia en-
tao se dedicar a figuracao abstrata. J4 a fotografia seria destinada a uma
espécie de catalogacao cientifica do mundo. Mas esse designio realista
comporta, diz Susan Sontag, um outro aspecto: nesta disposicao de ser-
vir o real com humildade, a imagem fixada pelo aparelho fotografico é
uma revelagao. A visao fotografica quer, seja qual for seu objeto, assina-
lar a presenca do mistério.
Os fotégrafos europeus tratavam os tipos sociais do mesmo modo
que as espécies naturais. Os “retratos de arquétipos” de Sander faziam
um verdadeiro levantamento socioldgico das diferentes méscaras sociais.
Mas a paisagem americana sempre pareceu grande demais, variada
demais, fugidia e misteriosa, para ser objeto de um inventdrio cientifico.
E nesse contexto que se deve compreender, conclui Sontag, a re-
cusa de varios fotografos atuais de recorrer aos inumeraveis recursos
técnicos disponiveis. Eles estimam que um aparelho mais rudimentar,
+ Gilles Deleuze, L’image temps, clt., p. 262.
[33]
lu —visao da cidade
com menos automatismos, permite obter imagens mais expressivas, faci-
litando a intervengao do acaso. £ como se a camera fotografica retornasse
as suas origens: a polaroid retoma o principio do daguerreétipo, produz
aimagem como um objeto tnico. E os slides remetem as antigas lanter-
nas magicas.** O cinema tem, ultimamente, manifestado as mesmas ten-
déncias: basta ver como, em filmes recentes, aparelhos 6ticos pré-cine-
matograficos desempenham este papel revelador da imagem. Em todos
08 casos, passa-se da vontade de tirar partido dos avangos técnicos ao
desejo de reinventar a fotografia, repartindo de suas origens, reintro-
duzindo nas imagens um elemento de mistério.
A obra de arte tenta testemunhar 0 indeterminado, o inexprimivel.
E esta busca do que nao pode ser mostrado que a defronta com o subli-
me. Kant diz que o sentimento do belo atesta o prazer suscitado pela
harmonia livre entre as imagens e os conceitos. J4 0 sublime 6 um outro
sentimento, conflitivo. Ele tem lugar quando, ao contrario, a imaginacao
fracassa ao apresentar um objeto que concorde com um conceito.!! E
quando um objeto grande ~ o deserto, uma montanha, uma piramide — ou
muito potente — uma tempestade no oceano, a erup¢ao de um vulcao
suscita a idéia de um absoluto que nao pode ser pensado e nao tem apre-
sentagao sensivel possivel. A impoténcia da imaginacao a leva a tentar
mostrar 0 que nao pode ser mostrado.
Desde Burke,"* a poesia ¢ investida dessa dupla tarefa de difundir 0
terror — ameacando sem descanso a linguagem de siléncio com o que
parece Ihe escapar - e enfrenta-lo, acolhendo este evento a que sempre
faltarao palavras. Quando se chama de sublime a visao do céu estrelado,
nao se devem tomar os pontos brilhantes sobre nds como séis em movi-
mento orbital apropriado, mas olhé-los simplesmente como 0s vemos,
como uma vasta ctipula que envolve tudo. Tal como fazem os poetas,
segundo 0 espetdculo que se oferece a vista. Esta 6, para Kant, a condi-
Susan Sontag, La photographie (Paris: Seull, 1979), p. 142.
* Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (Paris; Vrin, 1979), p. 86.
© Edmund Burke, Recherche philosophique sur Vorigine de nos idées du sublime ot du
beau (Paris: Vrin, 1973).
|
[34]
Paisagens urbanas
cao para ver 0 sublime de uma paisagem: nao ver o céu como uma meca-
nica astral, mas como uma ab6dbada iluminada.
Fazer ver que ha algo que se pode conceber e que nao se pode ver
nem fazer ver: esta 6 a tarefa da pintura. Ela se consagra a fazer alusao ao
inapresentavel. A arte, assim, propriamente, nao diz 0 indizivel, ela diz
que nao se pode dizé-lo. Sera que olhamos um quadro e vernos uma pai-
sagem? ~ pergunta-se Lyotard.'* Como uma janela, diriam os italianos.
Mas 0 ideal do suporte abrindo para uma viséo em profundidade cessou
de comandar a organizacao figurativa. A mise-en-
frente do que é representado, 0 artificio se assinala. A paisagem e 0 rosto
sao assim colocados em sursis de presenca.
cone se mostra na
A pintura parece negar a presenca. Mas af, por que pintar? Bastaria
escrever. O azul luminoso de certa manha de verao. 0 que faz com que
essa palidez muda provoque hoje, ao despertar, no nosso espirito ainda
adormecido, um maravilhamento que nos levaré muito tempo para asso-
ciar a um passeio de bicicleta, de madrugada, muitos anos atras? Hoje
podemos dizer que é 0 pastel dos céus daquele lugar, perto do mar, na-
quela época. Agora podemos até dizer que o azul de hoje detona na alma
adulta uma narrativa da memoria. Mas nao foia reflexao que fez vir aque-
le timbre cromatico da manha. O azul se adiantou. Esta é a presenca. E
este timbre que o artista quer obter. Ou melhor: 0 quadro deve ser, para
qualquer observador, um acomtecimento, aquela manha, aquela cor.”
0 azul pastel nao foi escolhido de uma palheta e aplicado sobre 0
horizonte da viagem. Apenas aconteceu. O espfrito se refaz e conta as
hisiGrias dessa cor. Mas estava, l4 naquele lugar, emudecido pelo aconte-
cimento azul, por essa presenca material. Como a presenca sonora que
Proust tenta trazer pela escrita. O pintor tenta fazer com que o quadro.
seja um pedaco de céu de madrugada. Que isso acontega ou nao, s6 se
* Jean-Francois Lyotard, L’inkumaén (Paris: Galilée, 1988), p. 109. Ver também Heidegger
ot “ies juifs” (Paris: Galilée, 1988), p. 81; Le Postmoderne expliqué aux enfants (Patis
Galilée, 1988), p. 26
* Jean-Francois Lyotard, Que peindre? (Paris: La Différence, 1987)
36]
ue visto da cidade
sabera quando o quadro estiver pronto. 36 a pintura pode testemunhar
se o azul tem lugar.
Nao 6 a presenca do azul, ele que é presenca. Dai a importancia
dada @ cor, em detrimento do desenho. A cor é a retragao do trago. No
desenho, a paisagem nos escapa, como se estivéssemos sentados de cos-
tas num trem. Na tela colorida a diregao se inverte: a paisagem vern em
nossa direcao, revelada pela graca da luz, que o corte abrupto do trago
ignora. Como a montanha se apresenta a Cézanne. Um acesso & alma, diz
Lyotard, é aberto pelas tintas intermediarias entre noite e dia que ba-
nham o rosto e a paisagem.
Muito diferente da paisagem do gravador que, sem ter acesso a cor,
€ obrigado a buscar 0 movimento, a enfatizar o trago. Nao ha espera pos-
sivel, a gravura é trabalho. O gravador tem de produzir tudo, com o mini-
mo de tracos, cercando as superficies, fazendo surgir volumes pela
sobreposicao das perspectivas."* A paisagem do gravador é acao, a do
pintor é revelagao.
A nuvem, este “corpo sem superficie” que nao se deixa retratar,
por muito tempo excluido do campo pictérico, serviu a pintura para nao
s6 problematizar a perspectiva classica, contestada por essas massas ne-
bulosas, como para se colocar a questao do traco e da cor.'* O abandono
dos contornos nitidamente delineados foi condigao para que se pudes-
sem apreender as brumas impalpaveis. Mas Mantegna fez nuvens forte-
mente desenhadas, como se tentasse pelo traco liberar-se do espaco
retilineo, e Erasmo escreveu que as nuvens sao imateriais demais para
poderem ser expressas em cores.
Entao, pintar 0 qué? Para Barnett Newman, a indagagao ¢ uma
continuidade de “como pintar?”, 0 que dé ao ato uma dimensao ontolégica.
A pintura é destituida do sentido da transcendéncia, levando ao abando-
no do dispositivo perspectivo, da relacao figura-fundo, dos limites
Gaston Bachelard, “Introdugao & dinamica da palsagem”, em O déreito de sonhar (Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil,1981).
* Hubert Damisch, Théorie du nuage,
miméticos da tela e da composigao interna da superficie pictdrica. O enig-
ma dessa pintura esta na sua forga de evidéncia, que se impde indepen-
dentemente de qualquer projeto prévio.
Numa tela coberta por pigmento, Newman estende uma fita adesi-
va, espalhando sobre ela cor mais clara. Ele passaria meses contemplan-
do o quadro. A colocagao da fita, essa abrupta interrupgao do processo
de pintar, é um acontecimento. Algo se da ali — diante do caos aterroriza-
dor, a presenga da linha — bloqueando o processo da pintura, levando 0
artista ao siléncio. Uma reflexao que se segue ao vazio deixado por essa
suspensao.*?
A linha, intervindo no campo pictérico, coloca o espectador dentro
dele. Mas num espaco que excede 0 campo visual. 'm espago de que nao
podemos dar conta. Diante da relacao assimétrica provocada por diver-
sos campos de cor, impedindo a definigaéo de um centro, impde-se a evi-
déncia luminosa da area colorida. A faixa de cor 6 a ocorréncia que nos
confronta com o imensamente grande.
O campo de cor central, ladeado por duas areas assimétricas, colo-
ca em causa nossa percepcao dos limites do quadro. A assimetria impede
a definicao tanto do centro quanto das bordas. Somos obrigados a abrir
mao de determinar o lugar preciso: vernos apenas que a cor esta ali. So-
mos confrontados com este hic et nunc.
Nao importa, para Lyotard, 0 que é representado no quadro. Pintar
retratos e paisagens nao para mostrar seus contornos e relevos, as ex-
presses € os eventos que neles se déem. Ao contrario, pintar rostos &
paisagens para testemunhar a presenca. Aquilo que pare
estar ali: 0 céu do entardecer. O que escapa a intriga e se aproxima ~ pela
matéria, pela cor — do inenarravel.
Os personagens tendem, de fato, a se retirar da pintura contempo-
ranea. Nao ha mais enredo. Como em Poussin: suntuosidade das paisa-
gens e deslocamento da trama. O ponto central passa a ser uma paisa-
e impossivel
ing Newman’, en Painting as Model (Cambridge: MIT Press, 1933),
nett Newman: o que ¢ pintar?”, em Artepensamento (Sao Paulo: Compa-
as, 1994).
nhia das Li
[97]
Lz - visto da cidace
gem, fundo sem cena. O desenho comeg¢a pelo primeiro plano, 0 trago
depois organiza o fundo, 0 contexto. A cena estd a servico da trama. Na
pintura é 0 contrario: primeiro se estabelecem as paisagens, 0 céu, 0
longinquo, e o ator s6 é alojado no fim. Este lugar ilocalizdvel da arte,
sem espaco nem tempo, é a paisagem.
Onde ocorre a paisagem? As paisagens naéo formam, em seu con-
junto, uma histéria e uma geografia. Seus limites sao indefiniveis, nao
tém localizacao, hierarquia nem centro. De que forma entao apontar 0
sopro que abala 0 espirito, quando chega a paisagem? Sua forca se faz
sentir pelo fato de interromper as narracdes. Em vez de contar, apresen-
tar. Mas como, sem falar de como e quando se chegou — dos aconteci-
mentos, da ag&o? A narracao faz correr 0 tempo, a paisagem 0 suspende.
A poesia entao nasceria da compreensao da incapacidade de as palavras
darem conta da paisagem. Ela torna disponivel a invaséo das nuances,
torna passivel ao timbre: 6 a escrita da descrigao impossivel.
Da mesma maneira, a metrépole. 6 um lugar desprovido de situa-
Gao, nao tem medida nem limites. Ela nao tem interior nem exterior, ali
nao se esta dentro nem fora, tudo é estrangeiro e nada o é. Um trafico
continuo entre os interesses, entre as paixdes, entre os pensamentos.
‘Todas essas passagens desenham a zona incerta onde se deve pensar
esta conformacao nunca acabada.
Como entao pensar 0 excesso? Como a presenga pela qual nos ace-
nao que 6 sem relacao, 0 que excede toda formalizacao. Pensamento que
passa no limite do que pode ser apresentado. Um olhar de relance sobre
o visivel, para entrever 0 que nao é visivel, o que nao tern contornos, a
cidade.
Pensamentos que nao tém lugar, um territdrio designado: sfio como
nuvens. A periferia de uma nuvem nao 6 precisamente mensuravel, 6
uma linha fractal. As nuvens projetam suas sombras sobre as outras, 0s
contornos variando segundo o angulo que se vé. Impelidas segundo velo-
cidades varidveis, nao cessam de mudar de posicgao uma com relacao a
outra. Quem se poe a discutir as nuvens, como lida com sua elisao?
[38]
paisagens urbenas
O tempo nao autoriza nunca a sintese dos momentos, quando nos
acercamos do céu. Desloca a nuvem, quando se acreditava conhecé-la
exatamente. As nuvens sao 0 objeto do pensamento quando ele assume a
relatividade que 0 afeta. A metafora das nuvens serve para elaborar 0
estatuto dessas coisas indeterminadas, 0 vento nas arvores, a cidade.”
©
As imagens podem fazer 0 cego ver? O cego vé 0 que nao se pode
ver, 0 invisivel. O vento, as paisagens do passado, um rosto desarmado de
quem sabe nao estar sendo visto. Visao daqueles que fecham os olhos
para ver,
Evgen Bavcar 6 cego. Ele fotografa contra o vento. Soprando em
sua direcdo, o vento delineia 0 contorno e a posigao das coisas. Mais: a
ventania confere sentido ao seu olhar. Primeiro, acariciando seu rosto,
dando-lhe postura e direcao, possibilita-Ihe armar a visio. O vento 6 aquilo
que, como um interlocutor, permite ao cego retribuir o olhar.
Quando o vento sopra, as imagens sao menos precisas, 0 mero far-
falhar dos arbustos basta para fazer desaparecer a paisagem. O vento
batendo nas drvores, sempre esse invisivel. Daf uma das aus@ncias maio-
res ser o céu, ua das imagens mais apagadas. As estrelas, que 0 cami-
nho da meméria quase nao alcanga mais.
O vento tem a forca miraculosa de lembrar imagens de outros tem-
pos, nascidas de um movimento continuo, revelando-se 0 contraponto de
coisas duraveis que nada pode abalar. Montanhas e cidades permanecem
iguais, 0 vento apenas parece delinear seus contornos. Mais forte, nele sé
se reconhecem gritos e o bater dos galhos, imagens sonoras que imprimi-
ram para sempre sua percepcao. :
Ele pode voltar 0 rosto para objetos que haviam desaparecido do‘
seu alcance ou contemplar coisas que Lhe tinham sido indicadas e que, no
Jean-Frangois Lyotard, Pérégrinations (Paris: Galilée, 1990) e Moralétés postmodernes
(Paris: Galilée, 1993)
Evgen Bavcar, Le voyeur absolu (Paris: Seull, 1992)
paT- 224412
227112
Evgen Bavcer
[40]
pacegens ubaras
vento, tornam-se perfeitamente visiveis. E nesses momentos que ele pode
levar a plenitude suas visdes, imagens celestes de nuvens, 0s fragmentos
luminosos que compéem efemeramente um rosto. Ele se entrega as ima-
gens no rumor do vento, na espera aterrorizada da calmaria. O cego 6
aquele que se dedica a olhar no vento.
Os clichés nos permitem apreender apenas 0 que nos interessa das
coisas. Ver cada vez menos. Mas um outro tipo de imagem 6 possivel: que
faca surgir a coisa em si mesma, no seu excesso de horror e beleza. Uma
iluminacao. Tornar-se visiondrio
Estamos diante de algo intoleravel, alguma coisa de muito forte ou
muito bela que nos retira toda possibilidade de acao, que nos cega. Algo
ficou forte demais na imagem. A percepgao do visiondrio 6 uma expe-
riéncia que resulta do ofuscamento do olhar habitual, o excesso que acom-
panha a falta de visao comum. Ele fala por enigmas. A visao é uma evi-
déncia do invisivel. Tentativa de apresentar pela linguagem aquilo que se
experimenta como radicalmente ausente, ela convoca o simbolo a exer-
cer-se na sua plenitude. A viséo impée: toda distancia ou nenhuma.**
Vidente 6 aquele que enxerga no visivel sinais invisiveis aos nossos
olhos profanos. O cego recorre A lembranga, A sensibilidade, a varias des-
cricdes. Um modo polifénico de ver, composigao de todos esses olhares.
Da voz a todos eles. Desloca o olhar retiniano de sua centralidade con-
vencional, multiplicando os pontos de vista. Passa do olhar a visdo. O
cego é a figura embleméatica das imagens contemporaneas.
Quando o olho da lugar a vidéncia, a imagem passa a ser tao legivel
quanto visivel. A visibilidade da imagem torna-se uma legibilidade.
tamente como ocorre no plano opaco e horizontal da pintura contempo-
ranea ou do video eletr6nico. Toda uma analitica da imagem se constitui
a partir dai. A visao — em vez do olhar, submetido ao visivel — permite
apreender 0 que nao se pode mais ver. Tudo 0 que foi soterrado pela
xa-
civilizacao do cliché, As vezes 6 preciso buscar aquilo que se tirou da
José Miguel Wisnik, “Tuminagdes pro
et al., O olhar (Sao Paulo: Companhia das Letr
(poetas, profetas, drogados)”, em Adauto Novaes
1988) ~
41]
Lz-visdo da cidade
imagem para torna-la mais atraente, Outras vezes, deve-se rarefazer a
imagem, suprimir todas as coisas que Ihe foram adicionadas para nos
fazer crer que viamos tudo. Essa imagem ¢ uma verdadeira visao.
Para Godard nés entramos ~ quando as imagens parecem cada vez
mais entregues a uma galopante inflagao — numa “era do refluxo do visual”.
O que seria o visual que essas imagens viriam justamente reprimir? Re-
mete a percepcao do visiondrio, ao cego.
O visual é uma qualidade especial do visivel que s6 se produz em
imagens muito raras. Ele nao tem nada a ver com a aparéncia — 0 look —
das imagens, muitas vezes privilegiada em desfavor daquilo que se esta
vendo. E uma marca impossivel de se reproduzir. O visual pode ser 0
nome deste inesperado desvelamento que nos invade de repente, uma
vez.a cada dez mil tomadas de cena, trazendo uma emocao: a de uma fragil
e instavel presenca de seres e coisas na tela. Algo ocorre que torna
misteriosamente presente aquilo que até entao era meramente visivel.
Nesses momentos, aquele ator, aquele céu, aquela drvore tornam-se efe-
tivamente coisas que respiram nesta terra e, por segundos, essa sensa-
cao de vida é miraculosamente capaz de chegar até nés.*
Esta marca do visual pode aparecer em varios lugares, mas nada
tem a ver com o fotogénico. Essa misteriosa qualidade se manifesta em
algum ponto entre a postura e o olhar da camera. Nada tema ver também
com 0 roteiro, mas exige atencdo para as suas inesperadas aparicdes
uma qualidade de luz, um movimento, uma expressao no rosto. Daf fil-
mar buscar o visual — ser uma recusa a se submeter a determinacdes
naturais do visivel.
O cinema contemporaneo ~ como o de Tarkévski, uma procura de
transcendéncia num mundo opaco ~ é feito de imagens visiondrias.” No
simplesmente visivel, seus personagens estao no exilio. Tentativa de pro-
Gilles Deleuze, L’image-mouvement (Paris: Minuit, 1983), pp. 29-34
= Alain Bergala, “The Other Side ofthe Bouquet”, em Jean-Luc Godard, Son + Jmage (Nova
York: The Museum of Modem Art, 1992)
© Youssef Ishagpour, Cenéma contemporain: de ce coté du miroir (Paris: La Différence,
1988), pp. 309-317,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Desafio #3 - COOL CLASSDocument1 pageDesafio #3 - COOL CLASSIsabella LaraNo ratings yet
- E-Book - Instagram IrresistivelDocument10 pagesE-Book - Instagram IrresistivelIsabella LaraNo ratings yet
- Desafio #01 - COOL CLASSDocument2 pagesDesafio #01 - COOL CLASSIsabella LaraNo ratings yet
- Linha Do TempoDocument21 pagesLinha Do TempoIsabella LaraNo ratings yet
- Cafe Com Ilustra 69 - Premiações PDFDocument3 pagesCafe Com Ilustra 69 - Premiações PDFIsabella LaraNo ratings yet
- Testes-Design de IdentidadeDocument1 pageTestes-Design de IdentidadeIsabella LaraNo ratings yet
- Phone Tique+complet PDFDocument1 pagePhone Tique+complet PDFIsabella LaraNo ratings yet
- Apostila Completa Saindo Do Zero PDFDocument142 pagesApostila Completa Saindo Do Zero PDFIsabella LaraNo ratings yet
- Phonetique - Texte 3Document1 pagePhonetique - Texte 3Isabella LaraNo ratings yet
- Phone Tique+2-BDocument1 pagePhone Tique+2-BIsabella LaraNo ratings yet
- Phonetique - Texte 1 PDFDocument1 pagePhonetique - Texte 1 PDFIsabella LaraNo ratings yet
- Phone Tique+3-B PDFDocument1 pagePhone Tique+3-B PDFIsabella LaraNo ratings yet
- Phone Tique+3-A PDFDocument1 pagePhone Tique+3-A PDFIsabella LaraNo ratings yet
- Exercícios de Gramática em FrancêsDocument3 pagesExercícios de Gramática em FrancêsIsabella LaraNo ratings yet
- Phone Tique+2-ADocument1 pagePhone Tique+2-AIsabella LaraNo ratings yet
- A Importância Do Diálogo em FamíliaDocument1 pageA Importância Do Diálogo em FamíliaIsabella LaraNo ratings yet
- Phone Tique+1Document1 pagePhone Tique+1Isabella LaraNo ratings yet
- Equacao Do Segundo GrauDocument2 pagesEquacao Do Segundo GrauIsabella LaraNo ratings yet