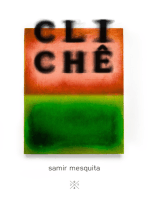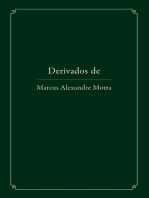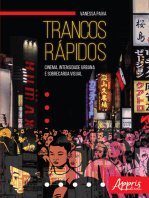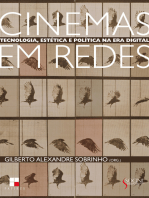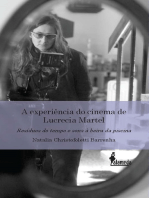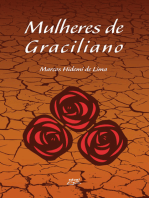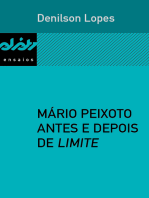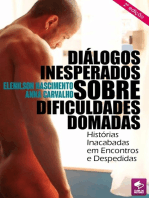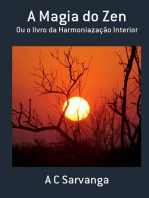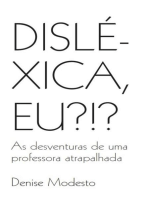Professional Documents
Culture Documents
ISMAIL XAVIER O Discurso Cinematografico
ISMAIL XAVIER O Discurso Cinematografico
Uploaded by
Juliano Schmitt0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views34 pagesOriginal Title
271794295 ISMAIL XAVIER O Discurso Cinematografico
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views34 pagesISMAIL XAVIER O Discurso Cinematografico
ISMAIL XAVIER O Discurso Cinematografico
Uploaded by
Juliano SchmittCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 34
ISMAIL XAVIER
O DISCURSO
CINEMATOGRAFICO
a opacidade e a transparéncia
38 edigao
Revista ¢ ampliada
PAZ E TERRA
© Ismail Xavier
Foros: Acervo Cinemateca Brasileira
CIP-Brasil. Catalogaga
(Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ)
na-fonte
Xavier, Ismail, 1947-
x19d O discurso cinematogeifico: a opacidade ¢ a transparéncia, 3* edicao ~ Sao Paulo,
Paz e Terra, 2005.
ISBN 85-219-0676-5
Inclui bibliografia
1. Cinema ~ Estética, 2. Cinema - Filosofia 1. Tieulo I.
03-1822 CDD-791.4301
CDU-791.43.01
EDITORA PAZ E TERRA SIA
Rua do Triunfo, 177
o Paulo, SP — CEP: 01212-010
‘el: (O11) 3337-8399
Santa Efigénia
E-mail: vendas@pazeverra.com.br
HomePage: www. pazeterra.com.br
2005
Impresso no Brasil { Pinted in Brazil
PREFACIO
Hé quase trinta anos, 0 livro O discurso cinematogréfico resiste bravamente como a mais
importante obra sobre teoria cinematogrifica produzida no Brasil, mesmo considerando a ex-
celéncia de outras contribuigées que vieram depois, algumas inclusive do mesmo Ismail Xavier.
Varias gerages de profissionais do cinema, audiovisual ¢ comunicagao em geral se formaram
nas universidades tendo este livro como a sua principal referéncia bibliografica. As razes s30
simples de clucidar. Em primeiro lugar, Xavier tem uma vasta bagagem de leituras, abrangendo
praticamente tudo 0 que de importante foi pensado e escrito no terreno dos estudos de cinema
desde as suas origens até as mais recentes discussdes sobre o atual reordenamento do audiovisual.
‘Tem também uma invejavel capacidade de condensagio e sintese, sabendo extrair da babel dos
debates entre as diferentes tendéncias tedricas 0 seu fundo conceitual mais importante, para
depois destilar isso tudo numa linguagem clara e acessivel, mas sem comprometer a complex:
dade das questées discutidas, nem sacrificar a necessaria densidade conceitual em nome de
qualquer didatismo simplificador. B além de tudo isso, é um autor com opinigo: no apenas
apresenta objetivamente as virias teorias, mas se posiciona com relacéo a elas. Eis porque um
livro como O discurso cinematogrdfico demandava uma edigio nova ¢ atualizada.
Evidentemente, um livro publicado originalmente em 1977 reflete as discusses que
estavam em proceso naquele momento. Nos anos 1970, 0 processo de recepgao do filme € 0
modo como a posigéo, a subjetividade ¢ os afetos do espectador sio trabalhados ou “programa
dos” no cinema mereceram uma atengao concentrada da critica, a ponto desses temas terem se
constituido no foco de atengao privilegiado tanto das teorias estruturalistas, psicanaliticas €
desconstrucionistas, quanto das andlises mais “engajadas” nas varias perspectivas marxistas,
feministas ¢ multiculturalistas. Nessas abordagens, o aparato tecnolégico e econdmico do cine-
ma (na época chamado de “o dispositivo”), bem como a modelagao do imagindrio forjada por
seus produtos foram submetidos a uma investiga¢io minuciosa ¢ intensiva, no sentido de veri-
ficar como o cinema (um certo tipo de cinema) trabalha para interpelar o seu espectador en-
6 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
quanto sujeito, ou como esse mesmo cinema condiciona o seu piblico a identificar-se com
através das posigdes de subjetividade construidas pelo filme. Quando 0 “dispositivo” é oculta-
do, em favor de um ganho maior de ilusionismo, a operacao se diz de transparéncia. Quando o
“dispositivo” é revelado ao espectador, possibilitando um ganho de distanciamento ¢ critica, a
operagio se diz de opacidade. Opacidade ¢ transparéncia — subtitulo do livro — so os dois pélos
de tensio que resume o essencial do pensamento daquele period.
Nesta nova edigdo, Xavier optou por nao interferir no texto original de 1977 (e no
apéndice de 1984). Em compensa¢ao, adiciona a esta edi¢ao um capitulo novo, que dé conta do
posterior avango da teoria ~ e também da sua dispersdo ou desconcentragao em torno apenas de
alguns temas hegemdnicos. Esse capitulo adicionado € praticamente um livro novo — como se
fosse um Discurso cinematogréfico 2— onde, novamente com notavel poder de sintese, Xavier
traga o percurso do pensamento tedrico desde a critica do “desconstrucionismo” dos anos 1970.
até © surgimento de novas perspectivas de andlise. De fato, de 1977 para ci, 0 pensamento
predominante nos anos 1970 foi submetido a uma reviséo as vezes bastante dura. As teorias
daquele periodo pressupunham uma concepgdo um tanto monolitica do que era 0 cinema
“classico” e essa concepsao comecou a se mostrar problemética quando as atengdes se voltaram
para um numero imenso de filmes “comerciais” e até hollywoodianos que nao referendavam o
modelo. Por outro lado, a concepgao que se fazia da atividade do espectador ou do processo de
recepgfo era demasiado abstrata ¢ rigida: 0 espectador era visto, nesses sistemas teéricos, como
uma figura ideal, cuja posigao ¢ afetividade encontravam-se estabelecidas @ priori pelo aparato
ou pelo “texto” cinematogréfico, ndo cabendo portanto nenhuma consideracio a respeito de
uma possivel resposta auténoma de sua parte.
O novo capitulo acrescentado oferece ao leitor uma espécie de mapa conceitual dos
novos caminhos perseguidos pelo pensamento cinematogréfico a partir dos anos 1980: a critica
dos modelos tedricos do estruturalismo e da psicandlise (David Bordwell, Noel Carroll), os
novos modelos da semio-pragmatica (Roger Odin, Francesco Casetti), a retomada da tradiggo
baziniana em perspectiva contemporinea (Serge Daney), 0 retorno ao cinema das origens (Tom
Gunning, Miriam Hansen), as perspectivas feministas (Laura Mulvey, Mary Ann Doane), as
criticas da cultura (Fredric Jameson, Jean Louis Comolli, Paul Virilio), as incursées de fundo
filos6fico (Slavoj Zizek, Stanley Cavell, Gilles Deleuze), 0s estudos culturais (Raymond Williams,
John Fiske, Jesus Martin-Barbero), o didlogo com a pintura (Jacques Aumont, Pascal Bonitzer)
ou com a miisica (Michel Chion) ou com as outras artes visuais ¢ audiovisuais (Raymond
Bellour, Philipe Dubois) e a recente “inversio do principio” operada por Jacques Ranciére.
Trata-se de uma verdadeira viagem pelo pensamento contemporaneo do cinema, do audiovisual
da cultura inteira do presente, onde Xavier faz 0 papel néo apenas de guia, mas também de
protagonista, j4 que, em muitos momentos, ele nao esté apenas comentando o pensamento dos
outros, mas também dando forma ao seu préprio universo conceitual.
PREFACIO. 7
Mas, ainda que um certo fundamentalismo ortodoxo dominante nos anos 1970 tenha
passado pelas necessirias corregées e relativizagdes nas décadas seguintes, o essencial daquela
discussio permaneceu de alguma forma e é bom que nao seja esquecido. E muito instrutivo
norar como a dialética da opacidade e da transparéncia, anunciada como moribunda no cinema
€ na teoria mais recente, retorna agora com toda forga nos novos ambientes computacionais.
Uma autoridade nessa drea como Oliver Grau, em seu recente livro Virtual art. From illusion to
immersion (Cambridge: The MIT Press, 2003), discute as determinagoes ideoldgicas do ilusio-
nismo na realidade virtual e no video game ¢ o faz numa diregao tedrica que lembra estreita-
mente as discussGes em torno do “dispositive” nos anos 1970, Ele se pergunta se ainda pode
haver lugar para a reflexio critica distanciada nos atuais espacos de imersio experimentados
através de interagao. Mostra também como as técnicas de imersio com a interface oculta (cha-
mada ingenuamente de “interface natural”) afeta a instituicao do observador e como, por outro
lado, interfaces visiveis, fortemente acentuadas, tornam o observador mais cnscio da experién-
cia imersiva e podem portanto ser condutoras de reflexdo. Se a histéria se repete em ciclos, &
conveniente, vez por outra, retornar aos modelos de pensamento do passado no apenas para
constatar o que foi superado, mas também para avaliar o que podemos estar perdendo.
Arlindo Machado
NOTA INTRODUTORIA A 3? EDIGAO
Quando da primeira edigio deste livro, organizei a apresentagao das teorias a partir de um
eixo que marcava a oposicao entre “opacidade ¢ transparéncia’, partindo da diferenca entre
estilos de composicao da imagem ¢ do som no cinema. Num extremo, hé o efeito-janela, quan-
do se favorece a relacio inrensa do espectador com o mundo visado pela cimera ~ este é cons-
trufdo mas guarda a aparéncia de uma existéncia auténoma. No outro extremo, temos as opera-
ges que reforcam a consciéncia da imagem como um efeito de superficie, rornam a tela opaca
¢ chamam a atengio para 0 aparato técnico ¢ textual que viabiliza a representagao. Tal oposigio
se ajustava a0 debate tedrico de meados dos anos 1970, momento em que se criavam as nogoes
em consonancia com os desafios trazidos pela pritica do cinema nas versdes mais radicais do
underground norte-americano e do cinema europeu pés-1968, este que teve no Godard de Vento
do leste, nos documentitios de Jean Daniel Pollet € no cinema conceitual de Jean-Marie Straub
seus exemplos mais discutidos. No Brasil, era 0 momento em que o “cinema de invencao", ou
“experimental”, operava também no terreno da desconstrucao.
Desde entio, o campo das idéias ¢ teorias cinematogrificas se expandiu em variadas dire-
goes de modo a criar um novo quadro conceitual para o debate, o que exigiria um outro ponto
de vista para a apresentacio das teorias dentro do espirito didético, de introduso, presente no
corpo deste livro, Neste longo periodo, as idéias que emergiam do préprio contexto dos cineas-
tas e dos criticos conviveram com uma intensa produgio de textos tedricos vinda das univer
dades, uma vez. que 0 dado diferencial entre 1977 € hoje foi a consolidacao da pesquisa acade-
mica. Esta explorou os campos da anélise formal (o drama, a narrativa, a composigao visual e a
trilha sonora) ¢ a intrincada relacao entre o cinema e as outras artes, num mundo em que a
interpretagao de experiéncias estéticas mostra que nao é mais possivel montar um sistema das
artes distintas, especificas, como se fez durante algum tempo € como tentaram fazé-lo os pri-
meiros defensores do cinema como arte auténoma.
10 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
Tal como os cineastas em seu trabalho, teéricos ¢ criticos tém enfrentado o desafio trazido
pelo impacto do avango tecnolégico que desestabiliza a propria definigao do cinema. A ténica
é contabilizar perdas ¢ ganhos, reconhecendo que 0 seu destino esté atrclado a0 dos outros
suportes da experiéncia audiovisual (0 video, a imagem e som digitais). Transformacées do
mundo pritico rebatem sobre a teoria num momento em que, no plano da reflexio, hd maior
complexidade nas relagées entre a teoria do cinema e a filosofia, ¢ hd um enorme avanco dos
estudos histéricos viabilizados pela parceria entre as universidades ¢ as cinematecas. A diversi
dade do que foi produzido e as rotagées havidas no eixo dos debates exigiram, numa atualiza-
sa0, praticamente um novo livro caso adotasse o mesmo padrio de exposigao das teorias e dos
programas estéticos.
O discurso cinematogréfico, em seu formato original, em se mantido de grande utilidade
nos cursos de cinema. O testemunho dos colegas atesta a sua renovada procuta, 0 que me faz
cret que os parametros que o nortearam foram coerentes e eficientes na configuracao do percur-
so da teoria até 1977. Nesta nova edi¢ao, optei por nao intervir no corpo do texto. Descartei
eventuais alteragdes de passagens que posso hoje julgar esquematicas. Preservei o livro de 1977
e sua unidade (incluindo o Apéndice 1984). O dado novo vem no final desta edigao; em texto
complementar, fago um breve mapeamento do intervalo que nos separa da primeira, mais a
titulo de indicagio do que de explicacéo dos tépicos ¢ tendéncias que emergiram como respos-
tas ao debate jé apresentado no livro. Optei por um recorte que organiza o campo a partir de
um eixo que se ajusta as indagagées sobre a transparéncia e opacidade, mas traz a0 centro a
questio do dispositivo cinemarografico, foco maior da polémica ocorrida nos anos 70, capitulo
final da primeira edicio.
Ismail Xavier, julho de 2005.
SUMARIO
Introdugio
1. A janela do cinema ea identificagao ...
II. A decupagem cléssica
III. Do naturalismo ao realismo critico ...
a. A representacao naturalista de Hollywood ....
. As experiéncias de Kulechov ....
©. O realismo da “Visio de Mundo” .
D. O realismo critico explicitado.
IV. O realismo revelatério ¢ a critica 8 montagem_
4. O empirismo de Kracauer ¢ 0 humanismo neo-realist
8, O modelo de André Bazin
is ¢ a “abertura’
C. As corregies fenomenolégi
V. A vanguarda
A. O anti-realismo e 0 cinema de sombras ...
8, Cinema poético e cinema puro ...
©. O advento do objeto ¢ a inteligéncia da maquina ...
pb. O modelo onfrico ...
E. A imagem arquétipo ..
F. O olhar visiondrio e a questo epistemoldgica
13.
7
27
41
41
46
52
Bi
67
67
79
89
99
99
103
107
iii
115
118
12 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
VI.O cinema-discurso ¢ a desconstrugao 129
a. Eisenstein: da montagem de atrag6es ao cinema intelectual 129
b. O impacto das ciéncias da linguagem 137
c. A desconstrusio .. 146
VII. As falsas dicotomias 165
Apéndice 1984. 171
175
As aventuras do Dispositivo (1978-2004) ...
Indice onomastico ..
Indice de revistas... 212
INTRODUGAO
Minha tarefa ¢ apresentar, dentro da
faixa mais ampla possivel, as mais significa-
tivas posturas estético-ideolégicas que foram
assumidas frente ao cinema ao longo de pra-
ticamente sessenta anos (da Primeira Guerra
Mundial ao inicio da década de 1970). Um
periodo tao longo comporta uma diversida-
de de formulacies, no nivel da reflexéo es-
crita, que compée um elenco bastante am-
plo para embaracar a quem se propée apre-
senté-la em conjunto, Tais formulagdes nao
constiruem uma rede fechada de proposigdes
que se explicam por si mesmas nem sao inte-
ligiveis apenas na base de uma classificagao
que fornece o “quadro” de suas diferengas.
O cinema nao foge & condigao de campo de
incidéncia onde se debatem as mais diferen-
tes posigdes ideolégicas, ¢ 0 discurso sobre
aquilo que the ¢ especifico é também um
discurso sobre principios mais gerais que, em
liltima instdncia, orientam as respostas a
questes especificas. Tendo em vista tais con-
digées, para a montagem das diversas pers-
pectivas aqui discutidas, certas selegoes pre-
cisam ser feitas ¢ um principio ordenador
precisa ser escolhido, de modo que a exposi-
a0 das propostas seja capaz de tornar claras
as implicagdes presentes em cada uma.
Fica descartada a apresentago pura-
mente cronolégica, dada a sua tendéncia a
produzir a ilusio de que o texto esta dando
conta de uma determinada histéria ¢ que a
simples sucesso constitui um principio ex-
plicativo. Nao ha aqui também uma nova
“histéria das idéias cinematogréficas”, uma
vez que nao procuro explicar um proceso €
sua légica de desenvolvimento. Hi apenas 0
objetivo de por em confronto diferentes pos-
turas e situd-las com base em sua resposta a
uma questao fundamental nos debates em
torno da pratica cinematogréfica. O eixo que
me guia nesta exposigio é a concepgao assu-
mida por diferentes autores ¢ escolas quanto
ao estatuto da imagem/som do cinema fren-
te 8 realidade (dentro das concepgGes confli-
antes que se tem desta).
As varias posigdes assumidas quanto as
relagdes entre discurso cinematogrifico ¢ rea-
lidade nao constituem uma decisio puramen-
te tedrica, Para evitar confusdes raramente
14 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
faso uso do termo “teoria”, uma vez que,
esquematicamente, as perspectivas sio com-
postas em dois momentos basicos: hd, em
cada proposta, uma ideologia de base que
pretende explicar, ou simplesmente postu-
lar, a existéncia de certas propriedades na
imagem/som do cinema. Dentro do espago
ctiado por tal ideologia ¢ feita uma devermi-
nada proposigao referida 3 pritica cinema-
togrifica, basicamente no que diz respeito
a0 modo de organizar a imagem/som, tendo
em vista a realizagao de certo objetivo socio-
cultural tomado como tarefa legitima do ci-
nema, Em geral, a conexio entre teoria “ge-
ral” ¢ norma “particular” ganha nitidez na
medida em que a norma, referida ao que 0
cinema “deve set”, procura apoio numa teo-
ria que, em primeiro lugar, garanta que 0 ci-
nema “pode ser” o que se Ihe pede e, em se-
gundo lugar, afirme que “é mais préprio a
sua natureza” ser o que se Ihe pede. Por estes
motivos, prefiro usar o termo “estéticas ci-
nematogrificas”, aplicado a proposigoes dis-
postas a orientar uma determinada pritica e
uma determinada critica cinematogréfica.
Para tornar mais didatica esta apresen-
tacio, optei pela exposigéo mais detida das
idéias de um conjunto basico de autores, evi-
tando a acumulagio de referéncias historio-
gréficas que dariam mais precisio ao pano-
rama tracado, mas que nao contribuiriam
decisivamente para a discussio central que
me interessa. Ao mesmo tempo, uma tradi-
ao de debates em torno do problema do do-
cumentirio cinematografico nao recebe aqui
um tratamento 3 parte, tendo em vista que
isto acarretaria uma ampliagao dificil de ma-
nejat, dados os limites e proporgées deste tra-
balho, implicando num deralhamento que
procurei evitar. Ao discutir cada proposta,
minhas consideragdes vao estar concentra-
das no cinema ficcional, aquele mesmo que
tradicionalmente tem sido oposto ao cine-
ma documentirio como se fossem géneros
nitidamente separados. Isto nao significa a
aceitacao de tal oposigéo nos moldes em que
cla em geral foi proposta, seja na base da di-
cotomia “natural (espontanea)/artificial (re-
presentacéo)”, seja na base do grau de “vera-
cidade” do filme conforme sua pertinéncia a
um género ou outro. Aqui é assumido que 0
cinema, como discurso composto de imagens
sons é, a rigor, sempre ficcional, em qual-
quer de suas modalidades; sempre um fato
de linguagem, um discurso produzido e con-
trolado, de diferentes formas, por uma fonte
produtora.* Neste sentido, o que esta ausen-
te no meu texto nao é um discurso sobre 0
documentario; mas, um discurso sobre de-
terminados autores cuja perspectiva se defi
niu exclusivamente em relag4o ao documen-
tario — Flaherty, Grierson, Ivens, Jean Rouch,
por exemplo (a tinica excegio ¢ 0 rapido co-
mentirio sobre Dziga Vertov, dada a sua po-
sigdo central nas referéncias de certos ided-
* Fiz um uso largo da idéia de ficso ~ sindnimo aqui de “nao real”, universo do discurso. Nao levei em
conta a diferenga peculiar da “ficcio propriamente dita”, como invengao — simulacdo consentida -, diante
de outras formas de discurso, distingio que pode rornar-se relevante em outro contexto de andlise.
INTRODUGAO 15
logos contemporincos). As varias estéticas
aqui discutidas correspondem ao estabeleci-
mento de determinados princ{pios gerais que
se aplicam a diferentes modalidades de pro-
dugao cinematogréfica, incluido o documen-
tirio. Afinal, as proposiges de Bazin, Kra-
cauer, Pudovkin ou da revista Cinéthique nao
estio formuladas de modo a exclui-lo como
algo estranho ao seu dominio, pelo contré-
rio. Portanto, no que segue, o discurso sobre
o documentario esta presente, embora nao
especificado.
I
A JANELA DO CINEMA E A IDENTIFICACAO
E comum se dizer da imagem fotogra-
fica que ela ¢ 20 mesmo tempo um icone e
um indice em relagio aquilo que representa.
Entre outras formulagées semelhantes, po-
demos tomar a de Maya Deren, figura basica
da vanguarda americana de 1947 1961, que
fornece uma clara explicagao em seu artigo
“Cinema: 0 uso criativo da realidade” (1960).
“O termo imagem (originalmente baseado
em imitagao) significa, em sua primeira
acepgio, algo visualmente semelhante a um
objeto ou pessoa real; no proprio ato de espe-
cificar a semelhanga, tal cermo distingue e
estabelece um tipo de experiéncia visual que
nao é a experiéncia de um objeto ou pessoa
real. Neste sentido, especificamente negati-
vo — no sentido de que a fotografia de um
cavalo nao € 0 proprio cavalo ~ a fotografia é
uma imagem”. Até aqui, o critério da seme-
Ihanga compreende 0 que, de acordo com a
classificagéo de Pierce, define um tipo de sig-
no: 0 icone (em principio, a imagem denota
alguma coisa pelo fato de, ao ser percebida
visualmente, apresentar algumas proprieda-
des em comum com a coisa denotada)
‘Ao mesmo tempo, a prépria Maya
Deren é enfitica em apontar a diferenga fun-
damental que separa a imagem fotogréfica
de outros tipos de imagem, obtidas de acor-
do com processos distintos (por exemplo, as
imagens produzidas pela mio do homem:
desenhos, pinturas etc.): “Uma pintura nao
6 fundamentalmente, algo semelhante ou a
imagem de um cavalo; ela ¢ algo semelhante
a.um conceito mental, o qual pode parecer
um cavalo ou pode, como no caso da pintu-
ra abstrata, ndo carregar nenhuma relagao
visivel com um objeto real. A fotografia, en-
tretanto, é um processo pelo qual um objeto
ctia sua prépria imagem pela agao da luz so-
bre o material sensivel. Ela, portanto, apre-
senta um circuito fechado precisamente no
ponto em que, nas formas tradicionais de
arte, ocorre o processo criativo uma ver. que
a realidade passa através do artista”. Em ou-
tras palavras, ela esté falando sobre a indexa
18 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
lade da imagem fotogréfica pois, dado que
© proceso forogréfico implica numa “im-
pressio” luminosa da imagem na pelicula,
esta imagem enquadra-se também ma cate-
goria de indice ~ “um indice é um signo que
se refere a0 objeto que ele denota em virtude
de ter sido realmente afetado por este obje-
to” (Philosophical writings of Pierce, p.102).
A partir deste fato, toda uma série de
comentarios discusses podem ser feitos
quanto aos especificos mecanismos presen-
tes no funcionamento da imagem fotografi-
ca como signo, 0 que é justamente levado
até as tiltimas conseqiiéncias dentro de uma
perspectiva semidtica. Foi comecando por
esta constatagao da iconicidade e da indexa-
lidade que a pesquisa semiética
lida com a fotografia ¢ o cinema. Notada-
mente a partir da década de 1960, tal pers-
pectiva desenvolveu suas investigagdes no
tocante As condigdes (de percepgao) presen-
tes na leitura da imagem, buscando os cédi
gos responsiveis pelo seu poder significance.
A anilise semidtica atinge hoje um grau refi-
nado, mas nao é na diregio desta investiga-
ao teérica que vamos caminhar, mas na di
regdo das implicagées priticas que advém
destas propriedades bésicas do material fo-
tografico ¢ cinematografico. Estou interes-
sado em expor e discutir propostas estéticas,
defensoras de um tipo particular de cinema,
€ 0 modo como estas propostas encaram ¢s-
tas propriedades.
Sem discutir o que esta por trds da se-
melhanga ou da indexalidade, vamos reter a
idéia de fidelidade de reprodugéo de certas
propriedades visiveis do objeto ¢ a idéia de
que uma fotografia pode ser encarada como
um documento apontando para a pré-exi
téncia do elemento que ela denota. Estes sio
pontos de partida para a reiterada admissio
ingénua de que, na fotografia, s4o as coisas
mesmas que se apresentam 3 nossa percep-
do, numa situagao vista como tadicalmente
diferente a encontrada em outros tipos de
representacio. Se j4 € um fato tradicional a
celebragao do “realismo” da imagem foro-
gréfica, tal celebragéo € muito mais intensa
no caso do cinema, dado o desenvolvimento
temporal de sua imagem, capaz de reprodu-
zit, no s6 mais uma propriedade do mundo
visivel, mas justamente uma propriedade es-
sencial & sua natureza — 0 movimento. O
aumento do coeficiente de fidelidade ¢ a
multiplicagao enorme do poder de ilusio
estabelecidas gragas a esta reproducao do
movimento dos objetos suscitaram reacies
imediatas ¢ reflex6es detidas. Estas tém uma
longa historia, que se iniciou com a primei-
ra projecéo cinematografica em 1895 ¢ se
estende até nossos dias. Nos primeiros tem-
pos, sio numerosas as crénicas que nos fa-
lam das reages de panico ou de entusiasmo
provocadas pela confusao entre imagem do
acontecimento ¢ realidade do acontecimen-
to visto na tela. Os primeiros teéricos fize-
ram deste poder ilusdrio um motivo de elo-
gio (ao cinema) ¢ de critica (aos explorado-
res do cinema), que Ihes consumiu boa par-
te de suas elaboragdes: os psicdlogos, desde
Munstenberg (livro publicado em 1916) até
0s doutores da filmologia (pés-2* Guerra),
passando por Arnheim (1933), tiveram af seu
tema preferido, E a discussio do tema — a
AJANELA DO CINEMA E A IDENTIFICAGAO 19
impressdo de realidade no cinema —torna-se 0
estopim para uma polémica fundamental
desenvolvida recentemente na Franca, envol-
vendo uma tradicao filmoldgica, que em cer-
tos termos se estendea Jean Mitrye Christian
Metz, de um lado, ¢ as revistas Cahiers du
cinéma e Cinéthique do outro. Entre estas
duas revistas, 0 conflito também é¢ flagrante
¢ dele vem participar a figura de Jean-Patrick
Lebel.
Esta € uma discussio a que pretendo
chegar, mas nao estou preparado ainda para’
elucidd-la, Nada foi dito até aqui sobre a
implicagéo fundamental contida no fato de
um filme ser composto por uma sucessio de
fotografias. Eu disse algo sobre a reprodusio
do movimento, mas nao disse que o eixo das
discusses esta justamente no modo como
devem ser encaradas as possibilidades ofere-
cidas pelo processo cinematogréfico. O con-
junto de imagens impresso na pelfcula cor-
responde a uma série finita de forografias
nitidamente separadas; a sua projegao ¢, a
rigor, descontinua. Este proceso material de
tepresentagio nao impée, em principio, ne-
nhum vinculo entre duas fotografias sucessi-
vas. A relagio entre elas sera imposta pelas
duas operagées basicas na construgao de um.
filme: a de filmagem, que envolve a opcao de
como os varios registros serao feitos, € a
montagem, que envolve a escolha do modo
como as imagens obtidas sero combinadas
ritmadas. Em primeiro lugar, consideremos
uma hipétese elementar: a cimara sé € posta
em funcionamento uma ver ¢ um registro
continuo da imagem é efetuado, captando
um certo campo de visio; entre o registro ea
projecio da imagem nada ocorre sen
velagao e copiagem do material. Neste caso,
temos na projegao uma imagem que ¢ perce-
bida como um continuum. Uma primeira
constatagéo é que, mesmo neste caso, 0 re
tangulo da tela nao define apenas 0 campo
de visio efetivamente presente diante da ci-
mera ¢ impresso na pelicula de modo a for-
necer @ iluséo de profundidade segundo leis
da perspectiva (gracas as qualidades da len-
te). Noel Busch nos lembra muito bem o fato
clementar de que o espaco que seestende fora
do campo imediato de visio pode também
set definido (em maior ou menor grau). Burch
nao nos diz. “pode sex”; ele é mais taxativo na
admissio absoluta da virtual presenga deste
espago nao captado pelo enquadramento:
“Para entender o espago cinemitico, pode
revelar-se til consideré-lo como de fato cons-
tituido por dois tipos diferentes de espaco:
aquele inscrito no interior do enquadramen-
to e aquele exterior a0 enquadramento
(Praxis do cinema). A meu ver, esta admissio
ja €indicadora de uma valorizagio, onde cer-
to tipo de imagem passa implicitamente a
nao ser considerada “cinemética” apesar de
ser materialmente cinematogréfica
Isco fica mais claro, quando tentamos
estabelecer de que modo este espago “fora
da tela” pode ser definido dentro da hipéte-
se inicial (registro e projegao continua). Neste
caso, 0 espaco diretamente visado pela ci-
mara poderia fornecer uma definigio do es-
paco nio diretamente visado, desde que al-
gum elemento visivel estabelecesse alguma
relagio com aquilo que supostamente esta-
ria além dos limites do quadro, Uma relagio
20 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
freqiiente vem do faro de que © enquadra-
‘mento recorta uma porgio limitada, o que
via de regra acarreta a captagao parcial de
certos elementos, reconhecidos pelo espec-
tador como fragmentos de objetos ou de cor-
pos. A visao direta de uma parte sugere a
presenga do todo que se estende para o espa:
go “fora da tela”. O primeiro plano de um
rosto ou de qualquer outro detalhe implica
na admissdo da presenga virtual do corpo.
De modo mais geral, pode-se dizer que
espago visado tende a sugerir sua prépria
extensio para fora dos limites do quadro, ou
também a apontar para um espaco contiguo
nao visivel. Esta propriedade esta longe de
ser exclusiva & fotografia ou ao cinema. Ela
manifesta-se também em outros tipos de co-
municagao visual, dependendo basicamente
do critério adotado na organizagio da ima-
gem. A tendéncia & denoragao de um espaco
“fora da tela” ¢ algo que pode ser intensifica-
do ou minimizado pela composigio forne-
ida, Nestes termos s6 uma andlise mais cui-
dada poderia verificar a validade da afirma-
a0 de André Bazin: “Os limites da tela (ci
nematogrifica) nao s4o, como o vocabulério
técnico As veres 0 sugere, 0 quadro da ima-
gem, mas um ‘tecorte’ (cacheem francés) que
nao pode sendo mostrar um a parte da reali
dade. O quadro (da pintura) polariza 0 es-
paco em diregao ao seu interior; tudo aquilo
que a tela nos mostra, contrariamente, pode
se prolongar indefinidamente no universo.
O quadro é centripeto, a tela é centrifuga”
(Quest-ce que le cinéma? —v. tt, p.128).
Bazin tem a seu favor alguns dados da
histéria da pintura no século xtx. A tendén-
cia A composigao que procura o detalhe nao
auto-suficiente ¢ 0 fragmento como fragmen-
to, em vez do todo completo que se fecha
em si mesmo, foi crescentemente se mani-
festando paralelamente ¢ sob a influéncia da
fotografia (0 caso Deégas ilustra este efeito da
fotografia na concepgao da estrutura da ima-
gem pictorica). Além disso, seria forte carac-
teristica do instantineo fotogréfico resultar
numa composi¢ao espacial cuja tendéncia a
a
incompletude iria confirmar a tese de Bazin.
De qualquer modo, no caso do cine-
ma, hé algo mais do que isto. O movimento
efetivo dos elementos visiveis seré responsé-
vel por uma nova forma de presenca do es-
pao “fora da tela”. A imagem estende-se por
um determinado intervalo de tempo ¢ algo
pode mover-se de dentro para fora do cam-
po de visio ou vice-versa. Esta € uma possi-
bilidade especifica da imagem cinematogré-
fica, gracas 4 sua duragao. E claro que o tipo
de definigio dado ao espago “fora da tela”
depende da modalidade de entrada ou saida
que efetivamente ocorre. Um exemplo sig-
nificativo deste problema nos é dado pelo
proprio estagio da chamada “linguagem ci-
nematogrifica” no inicio do século. No pe-
riodo dominado pelo sempre criticado “tea-
tro filmado”, um caso limite de construgao
filmica era o da adogio de um ponto de vis-
ta fixo, A cimera, fornecendo um plano de
conjunto de um ambiente (cendrio teatral),
onde determinada representagao se dava nos
moldes de uma encenagao convencional, si-
tuava-se na clissica posicdo dos espectado-
res. Aqui, a entrada ¢ saida dos atores tinha
tendéncia a se definir dentro do estilo pré-
prio as entradas ¢ saidas de um palco. Este
seria um fator responsdvel pela redugao do
AJANELA DO CINEMA E A IDENTIFICACAO 21
espaco definido pela cimera aos limites do
espago teatral, portanto, nao cinematico na
acepcao de Burch. Os elementos fundamen-
tais para a constituicao da representagao en-
contram-se todos contidos dentro do espa-
0 visado pela camera, ocotrendo, além dis-
so, um reforco desta tendéncia ao enclausu-
ramento, proveniente de dois outros fatores
combinados: (1) a propria configuracio do
cenério, tendente a produzir uma unidade
fechada em si mesma; (2) a imobilidade e 0
ponto de vista da camera, ctimplice no efei-
to sugerido pelo cenario, na medida em que
a visio de conjunto evita a fragmentacéo do
espaco em que a agao se desenvolve.
Portanto, a ruptura com este “espago
teatral” € a criagdo de um espaco verdadeira-
mente cinematico estaria na dependéncia da
ruptura com esta configuracio rigida. No
caso deste plano fixo e continuo corresponder
a filmagem de um evento natural ou aconte-
cimento social em espacos abertos, apesat da
postura de cimera ser 2 mesma, a ruptura
frente ao espaco teatral estaria garantida pela
propria natureza dos elementos focalizados,
aptos a produzir a expansio do espaco para
além dos limites do quadro gracas ao seu
movimento. Nunca ninguém associou um
plano fixo ¢ continuo numa rua, ou mesmo
a famosa chegada do trem da primeira pro-
jesa0 cinematogréfica, a algo como 0 “teatro
filmado”. Mesmo num filme constituido de
um Gnico plano fixo ¢ continuo, pode-se
dizer que algo de diferente existe em relagao
a0 espago teatral, e também em relagio a0
espago pictérico (especificamente o da pin-
tura) ou mesmo o fotogrifico: a dimensio
temporal define um novo sentido para as
bordas do quadro, nao mais simplesmente
limites de uma composigio, mas ponto de
tensio origindrio de transformagées na con-
figuracao dada. Na verdade, quando Burch
fala em espaco cinematico ele esté se referin-
do justamente & organizacio e a0 dinamis-
mo nascidos desta diferenga. Minha aludida
preferéncia pelo “pode ser definido” em vez
do “é definido” em relagéo a0 espago “fora
da tela’, vem da admissio de que, nao sé
nesta hipétese elementar, mas também e es-
pecialmente em estruturas mais complexas,
uma construgio absolutamente cinemdtica
pode ganhar seu efeito justamente por tra-
balhar na direcao contréria, Neste caso, pro-
curar-se-ia deliberadamente produzir uma
indefinigéo do nao visto ¢ um enclausura-
mento do espaco visado (sem ser teatro fil-
mado).
JA falei de algumas coisas especificas a0
cinema ¢ ainda nem toquei nos dois elemen-
tos tradicionais sempre considerados como
fundadores da arte do cinema: a chamada
“expressividade” da cimera € a montagem.
Entrar neste terreno significa caminhar em
diregao a outras possibilidades advindas da
propria natureza material do processo cine-
matogrifico: numa delas, ainda mantemos
6 registro continuo, mas conferimos mobi-
lidade 4 camera; na outra, introduzimos a
descontinuidade de registro, o que implica
em supor o pedaco de filme projetado como
combinagao de, pelo menos, dois registros
distintos.
No caso do movimento continuo de
cimera, a constante abertura de um novo
22 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
campo de visio tende a reforcar a caracteris-
tica bésica do quadro cinematogréfico con
forme a tese de Bazin: ser centrifugo. O
movimento de cimera é um dispositivo tre-
mendamente reforsador da tendéncia & ex-
pansio, Concretamente, ele realiza esta ex-
pansio e, como diz Burch, transforma o es-
paco “fora da tela” em espago diretamente
visado pela cimera. As metéforas que pro-
poem a lente da camera como uma espécie
de olho de um observador astuto apdiam-se
muito no movimento de camera para legiti-
mar sua validade, pois so as mudangas de
direcdo, os avangos € recuos, que permitem
as associagbes entre 0 comportamento do
aparelho e os diferentes momentos de um
olhar intencionado. Ao lado disto, 0 movi-
mento de camera reforca a impressio de que
hé um mundo do lado de l4, que existe inde-
pendentemente da cimera em continuidade
20 espaco da imagem percebida. Tal impres-
so permitiu a muitos estabelecer com maior
intensidade a antiga associagéo proposta em
relagdo & pintura: 0 retingulo da imagem é
visto como uma espécie de janela que abre
para um universo que existe em si € por si,
embora separado do nosso mundo pela su-
perficie da tela. Esta nogao de jancla (ou as
vezes de espelho), aplicada ao retangulo ci
nematogréfico, vai marcar a incidéncia de
princfpios tradicionais & cultura ocidental,
que definem a relagio entre 0 mundo da
representacio artistica e 0 mundo dito real.
Bela Balazs nos lembra tal tradigao ¢, a0
‘mesmo tempo, aponta a radical modificacao
que vé no préprio estatuto de tal “janela”
com o advento do cinema. Ele aponta a con-
vengao segundo a qual a obra de arte apre-
senta-se como microcosmo, ¢ procura tes
saltar o principio vigente de que hé uma se-
paragio radical entre este ¢ 0 mundo real,
constituindo-se a obra numa composicao
contida em si mesma com suas leis préprias.
Como Balazs nos diz, tal microcosmo pode
apresentar a realidade mas nao tem nenhu-
ma conexio imediata ou contato com ela.
Precisamente porque ele a representa, est
separado dela, nfo podendo ser sua “cont
nuagio”. A conclusio a que Balazs procura
chegar é que a janela cinematografica, abrin-
do também para um mundo, tende a sub-
verter tal segregagio (Fisica), dados os recur
sos poderosos que o cinema apresenta para
carregar 0 espectador para dentro da tela.
“Hollywood inventou uma arte que nao ob-
serva o principio da composigao contida em
si mesma e que, nao apenas climina a distan-
cia entre 0 espectador e a obra de arte, mas
deliberadamente cria a ilusdo, no espectador,
de que ele esta no interior da aga reprodu-
zida no espago ficcional do filme” (Theory of
the film, p.50).
Aqui, o esteta htingaro faz coro com
uma ampla faixa de te6ricos do cinema, em
sua preocupacio em incluir, na propria ca-
racterizagao basica da nova arte, esta moda-
lidade de relagao marcada pelo forte efeito
de presenga visual dos acontecimentos (na
realidade ausentes) ¢ a sua nao-efetividade
sobre a situagio fisica do espectador. A and-
lise especifica do tipo de experiéncia forne-
cida pela projecao cinematogréfica constitui
tema privilegiado dos filmélogos da Revue
Internationale de Filmologiea partir de 1947.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Mimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesFrom EverandMimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesNo ratings yet
- Nos bastidores do cinema: A trajetória do papel às telas no filme Primo BasílioFrom EverandNos bastidores do cinema: A trajetória do papel às telas no filme Primo BasílioNo ratings yet
- Paisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90From EverandPaisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90No ratings yet
- O filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaFrom EverandO filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaNo ratings yet
- O Povo Messiânico: o messianismo político em Glauber RochaFrom EverandO Povo Messiânico: o messianismo político em Glauber RochaNo ratings yet
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971From EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No ratings yet
- Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroFrom EverandBernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Um certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)From EverandUm certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)No ratings yet
- Trancos Rápidos: Cinema, Intensidade Urbana e Sobrecarga VisualFrom EverandTrancos Rápidos: Cinema, Intensidade Urbana e Sobrecarga VisualNo ratings yet
- A linguagem filmográfica e a representação estética de uma liderança política em documentários: o Lula de várias representaçõesFrom EverandA linguagem filmográfica e a representação estética de uma liderança política em documentários: o Lula de várias representaçõesNo ratings yet
- Cinemas em redes: Tecnologia, estética e política na era digitalFrom EverandCinemas em redes: Tecnologia, estética e política na era digitalNo ratings yet
- A experiência do cinema Lucrecia Martel: Resíduos do tempo e sons à beira da piscinaFrom EverandA experiência do cinema Lucrecia Martel: Resíduos do tempo e sons à beira da piscinaNo ratings yet
- As Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXIFrom EverandAs Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXINo ratings yet
- Slow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoFrom EverandSlow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoNo ratings yet
- A travessia do narrativo para o dramático no contexto educacionalFrom EverandA travessia do narrativo para o dramático no contexto educacionalNo ratings yet
- Imagem Fascista no Cinema: Remakes, Blockbusters e ViolênciaFrom EverandImagem Fascista no Cinema: Remakes, Blockbusters e ViolênciaNo ratings yet
- Diálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasFrom EverandDiálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasNo ratings yet