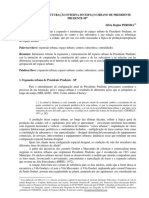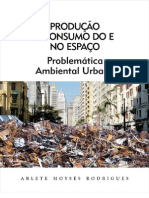Professional Documents
Culture Documents
Texto 3 - Notas Preliminares
Texto 3 - Notas Preliminares
Uploaded by
Sílvia Regina Pereira0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views5 pagesOriginal Title
Texto 3 - Notas preliminares
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views5 pagesTexto 3 - Notas Preliminares
Texto 3 - Notas Preliminares
Uploaded by
Sílvia Regina PereiraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 5
NOTAS PRELIMINARES SOBRE 0 CARATER DA FORMACAO
TERRITORIAL BRASILEIRA
Introducio
Este trabalho pretende examinar alguns aspec-
tos da selagio entre o carter ¢ as etapas do de-
senvolvimento capitalista no Brasil, aqui entondi-
do como capitalismo retardatério, ¢ as formas ge-
raise especificas de sua realizacio em dados es-
pagos do terit6rio brasileiro. O objeto de anitise,
portanto, restringe-se, de um lado, & particularida~
des do capitalismo neste pais em suas determina
bes sais geiais (0s padives de acumulagio de ea
pital), © de outro, A expressdo territorial desses. pro-
cessos.
‘Um enfoque dessa natureza aponta para a se
guinte hipdtese: no Ambito das relagBes de produ-
cio capitalistas, o capital nao se realiza fincarmen-
te através do tempo e do espaco, A desigualdade,
portanto, € elemento intxinseco do seu desenvolvi-
mento, 0 que implica em desiguais seumulacio
distribuigdio das riquezas acumuladas, quer entre
as classes sociais de que se compoe, quer entre os
diferentes lugares de que se apropria. Tsto a0. ni
vel da lei geral. As particularidades manifestam-se
‘em varios outros processos, como por exemplo, na
tendéncia & especializagao na atividade industrial
—que se expressa nas diferengas salariais ¢ numa
dada divisio social do trabalho. Além disso, nu-
ma particular diviséo territorial do trabalho, 0 que
implica em desiguais dotacdes de recursos entre as
areas afetas 2 produgio, circulacéo e consumo.
‘Também é notéria a compulsio do capital em
concenirar-se, tanto 20 nivel de uma determinada
eo
Wanderley M. da Costa (**)
classe social, mas igualmente, quanto ao nivel de
empresas, estabelecimentos e lugares. Fica dificil,
portanto, 0 exame do tema proposto sem conside-
ar estas 18s manifestacdes histérico-concretas do
modo de produgio capitalista: desigualdade, que exi-
ge especislizagdo e concentracao.
Com relagéo & expressio territorial dos_mo-
dos de produce, M. Santos diz: “O espaco por-
tanto, é um testemunho; éle testemunha um momen-
to de um modo de producao pela meméria do es-
ago construide, das coisas fixadas na paisagrm
criada” (SANTOS, 1978 p. 138). O mesmo au-
tor afirma que esta relaedo (geral) pode apresen-
tar variagSes significativas, como & 0 caso dos pai-
ses sub~desenvolvidos, em que, segundo ele, as “ma-
‘crocefalias” comuns em tais pafses, seriam o resul-
tado dos “progressos tecnolégicos” ¢ das “tendén-
cias & concentracao”
‘Tentaremos verificar estas articulagdes no m-
ito especifico dos fendmenos que vamos analisar
para 0 caso brasileiro
Capitalismo Tardio e a Heranga Colonial
B fora de davida que a maior contribuigao
te6rica (no Brasil) para a discussio deste tema,
(@) — Artigo apresentade como trabalho de apro-
veitamento 20 Curso “Problemas de G. dos Indisrias” mi-
nisteado pola Prof® Lea Goldentein, no 2° semestre de 1979,
fem nivel de Pés-Graduaslo. Trabalho zecsbido para public
agdo em outubro. de 1980.
(9) — Autiliae de Fesino do Departamento de Geo-
srafia— FFLCA — USP.
92.
dove-se a Joo Manuel Cardoso de MELLO (1975),
que inaugura um vigoroso repensar da economia
brasileira, no sentido de captar a esséncia contra-
dit6ria do desenvolvimento capitalista neste pais.
Ao fundir, pela dialética, determinacGes histéricas
fe econmicas, ele evita tanto o economicismo quan-
istoricismo, o que resulta numa verdadeira
‘geral de interpretagio do Brasil.
‘Ao examinar as teorias cepalinas de centro-pe-
riferia, o autor comenta: “A propagagio desigual
do processo téenico (que € visto como a esséncia
do. desenvolvimento econémico) traduz-se, portan-
to, na conformactio de uma determinada estrutura
da economia mundial...”. Segundo éle, de um
ado as “cconomias industrializadas” © de outro,
a periferia, “economias exportadoras de produtos
primérios”. Mais adiante, ainda com relacio as
teorias cepalinas, comenta que para estas, & pos-
sibilidade de emancipacio dos paises periféricos s-
taria na industrializagio, momento em que estes
paises se constituiriam enquanto nagdes, libertando-
se do jugo dominador. Diz, porém, que tais teorias
foram desmentidas pela reatidade, pois a industria
Hzagio ou se “abortara” ou, nos casos em que teve
“éxito, no eliminara tal dominagdo nem a miséria.
Segundo éle, & af que surgem as teorias da depen-
déacia, como recurso te6rico de que langa mio as
andlises cepalinas posteriores. E a partir destas eri-
ticas que o autor cunha a expressio “Capitalismo
Retardatério”, como teoria mais ampla, capaz de
superar os equivocos cepalinos.
too
teori
‘A idéia central de sua interpretacio é a de
distinguir uma economia primétio-exportadora de
uma economia colonial, enquanto momentos his-
t6rices especiticos do desenvolvimento capitalista
em paises periféricos. Capitalismo retardatério sim,
pois que este surge apenas no momento em que as
economias exportadoras organizaram-se com 0 tra~
balho assalariado. Apenas af que se deu a passagem
de uma economia colonial para uma economia pri-
ério-exportadora-capitalista (MELLO, 1975, p. 26
Com relaco ao nosso problema especifice, po-
demos dizer que 0 Brasil de economia colonial, assim
como outros paises, caracterizou-se fundamental-
mente pela presenga da grande producio agr
de exportago, que em sua esséncia buscava o méi-
ximo Iuero em minimos custos possiveis, © que expli-
‘ca a presenga do trabalho compulsério, dé urna préti-
ca agricola extensiva, cujo limite de produtividade
cra dado pela fertilidade absoluta do soto, disponi-
bilidade de terras e pela eapacidade fisica do escra-
vo. A busca do minimo cusio explica ainda a loca-
lizagio da exploragio numa estreita mas longa fai-
xa de terras préximas 0 Titoral, 0 que evitava
custos adicionais de transporte terrestre.
Do ponto de vista da organizagio do territé-
rio, um dos resultados dessa exploragdo. foi um
padriio colonial de urbanizagao, em que 0s. centros
urbanos mais destacados, aqueles de fungao portud-
ia, comercial © administrativa, apresentavam ine
fima ou nenhuma relacdo entre si, jf que voltados
em grande parte aos fluxos intensos com a me-
tr6pole européia. Isto, sem mencionar os fracos
fluxos com 0 interior, excetuando-se af o comércio
de came oriunda do sertio. Destague-se ainda 0
fato de que o dinamismo econémico da colénia
centrava-se nas grandes propriedades, 0 que cons-
fituia fator de estagnagio das cidades
Estes fatos representam, de certo modo, a con=
centragio territorial de uma particular exploragao
econémica, qual scja, a colénia de exploragio, cu-
jo objetivo era o da exploragdo imediata, 0 que
impediu 0 assentamento efetivo de populagéo, uma
imtegragio territorial e meconismos endégenos d=
acumulagio de capital, causas ‘ltimas do. prolon-
ado atraso econdmico ¢ social do pais (PRADO JR.,
1973, especialmente “Sentido da Colonizagio”)
Economia Exportadora Capitalista e a In-
ternaliza¢io da Acumulacao
Para JM.C. de Mello, assim como para C.
Prado Jr. ¢ outros autores, a passagem para uma
economia exporiadora capitalista no Brasil ¢ deter-
minada em dltima instncia pela crise do sistema co-
Ionial, que tem por base, entre outras causas, a crise
de mao de obra (escrava), 0 esgotamento da eco-
nomia mineira, a queda do exclusivo metropolita-
no ¢ a formacfio do Estado Nacional
A. mudanga significativa no padrio de acumu-
lagio de capital deveu-se em grande parte aos cons-
tantes impulsos do chamado “capital mereantil na-
ional”, jé que este transformou-se, através das ax
sas. comissérias, no principal agente. econémi
timulador da expansio agro-exportadora subseqi
te: a produso cafecira no sudeste do pais. Mesmo
levando-se em conta que parte do proceso de act
mulagio ainda era feito no exterior, além de qu:
6 sucesso do empreendimento dependia sobremanet
ra da demanda externa, considera-se que é a partir
desta passagem que se inaugura um verdadeiro pro
cesso de intemalizagio do excedente auferido na
atividade mercantil, que se constituird em fator pri-
mordial para os mecanismos endégenos de acurmula~
co de riquezas
Para que fique clara a relagfo entre esta. no-
va etapa do capitalismo no Brsil e 0 novo padréic
territorial de localizacko ¢ exploragio, faz-se neces
sério recorrer as caracteristicas da exploragao co-
onial mineira no interior do pais.
E inegdvel que quanto & forma, 0 deslocamen-
to da exploragio em Areas litordneas para o interior
do pais (MG, GO, MT) significou uma alteracao
no padrao tersitorial aié emtZo vigente. Isto porque
a interiorizagao da economia permitiu, de um lado,
fa anexagdo ccondmica de parcelas até entio mar-
ginalizadas da exploractio; de outro, dado o carter
peculiar da exploracio mineira — alto valor por
unidade dos produtos, pela sua raridada e pela quan-
tidade de trabalho dispendido na produeio — per-
isiu em pouco espago do tempo, a instalagio de
‘uma razodvel infracstrutura regional, capaz de in-
tegrar boa parte do territério as reas litoréneas
(RY, por exemplo), por vias terrestres, interiorizar
a urbanizagio ¢ equipar micleos urbanos préximos:
€ distamtes da producio, Desenvolveu ainda as ba-
ses materials para_a cmancipagio politica do pats,
além de, pela especificidade da exploracao, transferir
cada vez mais para os centros urbanos os poderes
de decisio politica © econémica.
Falamos acima que a interiorizagéo da explo-
ragio significou uma mudanca de forma, isto por
que este processo nem refletiu e nem foi acompa-
93
nhado por uma mudanga qualitativa no padrio de
acumulaga0, qual soja a exploracdo colonial. Isto
nao significa entretanto, que as transformagdes no
mbito da organizagdo territorial, com a mineregdo,
nao tenham jogado nenhum papel nas reais mudan-
gas posteriores a que se assistiu no pais. Este ra-
Giocinio baseia-se no fato de que os momentos his
Aricos de um modo de produggo esto associados
a uma objetiva e necessaria expresso material (ter-
ritorial) € por isso mesmo, sujeltos até @ uma ver-
dadcira sobredcterminagao dos momentos. anterio-
res materializados no espaco, capazes que sf, pe-
To seu cardter duradouro, de interferir objetivamen-
te nos rumos das etapas posteriores
Em suma, a superacio de uma etapa por ou-
‘tra, ou mesmo de um modo de produgdo por outro,
niio implica necessariamente na destruicio da he-
ranga territorial. Considerando-se ser este 0 cas
brasileize, entio a mudanga a que aludimos nao
pode ser reduzida a uma mudangs de forma,
‘Tentaremos agora avangar um pouco, procu-
rando concredizar & urgumetagiv acime
‘A expansfo da producdo cafeeira a partir da
primeira década do século passado, marcou a cons-
fituigio do que se convencionou chamar de “Eco-
nomia Nacional”. Este processo vinculou-se a ou-
tos de natureza econdmica (algum excedente da e-
conomia mineira, mao de obra esctava, patticipagao
de agentes financeiros, etc.), politica (constituicio
do Estado Nacional) ¢ geoecondmica. Caracterizou-
-so este ultimo, em primeira insténcia, pela existén-
cia de condighes materiais prévias (capital instalado
© incorporado ao espago), representadas pela dispo-
nibilidade de um centro urbano portuério equipado
para a exportagio (Rio de Janeiro), esiradas (li
gando 0 Vale do Paraiba &s minas e a0 litoral),
centcos urbanos menores 20 longo do rio Parafba:
cenfim, espago construido anteriormente, Aqui, vale
questionar: eram as terras do Vale do Paraiba pro~
prias ao café, justificando assim a exploragio nesta
regiio? Parece-nos que no foi o caso, Nao eram
as terras (solo) prOprias ao caté (alids, as “boas
terras” sé seriam deseobertas mais tarde), mas
sim, a regido que 0 era. Nao foi a fertilidade ou
no do solo 0 indutor da localizacdo da nova ex-
94
ploracio, mas a posiefo privilegiada de uma regio
proxima ao Rio de Janviro ¢ das areas litoraneas ©
dotada de uma infracstrutura minima obtida em
atividade anterior. Este fato nos induz a pensar nu-
ma localizacao econémica determinada objetivamen-
te pelo espaco criado.
A expansio cafeeira posterior obedece meca-
nismos similares, Esta mio se fard dissociada de
suportes materiais presentes no territ6rio, o que po-
de ser constatado pelo papel de um centro urba-
no como Campinas, verdadeira “boca de sertio’
© centro indutor na marcha para o interior, antes
mesmo do advento do trabatho livre, E esta serd
4 tonica geocondmica das exploragies subsegiientes
‘em que, 20 contrério do periodo colonial, as expan-
sBes agricola, urbana, ferrovidria ¢ rodovidria, sia-
nificardo um mesmo processo.
Podlerfamos sintetizar esta nova tOniea na ex-
Ploragio econdmica, afirmando que a partir da pro-
ducdo cafecira, o processo de constituigio da “E>
conomia Nacional” vineula-se organicamente mo
86 intemnaliza¢o da acumulacéo de capital, mas,
simultaneamente, a uma redefinigdo na formacao
territorial do. pais, no sentido de que a expansio
econdmica sera simultfinea & expansio das frontei
ras agricoles © urbanas, em outras palavras, & in-
teriorizagtio do espago construido.
Antecedendo a este processo, 6 inegivel 0 pa-
pel jogado pelo advento do trabalho livre na ex-
‘raordinéria velocidade adquirida pela marcha do
café a partir do final do XIX. A interiorizacdo do
plantio a partir dai, impulsionada ainda pela de-
manda extema favordvel, pela ampliacao da infra-
estrutura e por lagos cada vez mais estretos entre
© capital produtivo © o capital financeiro, permite-
nos falar num verdadeiro “complexo cafeciro”.
Do ponto de vista econdmico, esse seri o mi=
cleo propulsor da economia capitaista exportadora,
Do ponto de vista estritamente social, af repousa-
réo as bases de uma sociedade moderna capitalista.
Quanto 20 estritamente geogréfico, tal processo re-
presentou o fim de um padrao territorial de tipo
colonial em que o enclave substitui a totalidade es-
Foj somente a partir do momento em que
0 novo caréter do desenvolvimento econmico pas
sou a comandar indissoluvelmente 0 campo e a ce
dade que o serritério adquiriw a sua plena funcao
capitatisia
Quendo a literatura especiatizada menciona a
gestagao de um mercado interno para produtos ine
dustrializados, refere-se certamente, como parte des
te processo, a0s novos irabalhadores assalariados
‘ou aos novos empresirios de café ou mesmo a0
complexo cafeeiro em geral. Perde-se ai frequen-
temente @ perspectiva de que sip muito mais que
isso: movos trabalhadores e novos empresitios em
novas dreas produtivas; ou ainda, noves centros ur
banos integrados por novas viar de —transportes,
componentes fundamentals de um espaco econ6-
rico que se slarga continuamente, E esta a dimen-
S60 completa do mercado interno que se forja na
economia exportadora capitalista.
A. explicacdio destas articulagdes pode ser ob-
tida ao compreender-se que, ao inscrir-se plenamen-
‘te nos processos endégenos da producto capita
ista, 0 territério passou a valorizar o capital em-
pregado, tanto pelo seu valor em si (0 preco
do solo determinado pela fertitidade e pela localiza
so), quanto pelas sucessivas incorporacdes (es-
tatais, privadas, etc) de valor eriado (expresso na
intensa valorizago das terras) tornando-se éle pr6-
prio capital constante e mercadoria, difenindo-se,
portanto, em territério exclusivamente capita
ta (1).
Consideragdes finais
Parece-nos, assim, um tanto quanto superfici-
al, atribuir a violenta concentracio econémica do SE,
e em particular de S40 Paulo, to somente a um me-
ro deslocamento do eixo econdmico (com a mine-
ragio e o café), quando em realidade tratou-se de
(a) — Esta questio € tratada por Costa, W. M. ¢
Moraes, A-C.R. em “Valor, Espago ea Questio do M&
todo”, Temas de Ciéncias Humanas n? 5, 1979 Ea. C. Hue
imanas ¢ “A Geosrafia e 0 Provesso de Valorizacdo do Bsp-
50", inbdito, mimeografado, 1980, em que os autores tentarm
xplicitar a formapta territorial sob a ética do marxismo
slisseo,
‘uma radical transformagio, de um lado, no padrio
de acumulacdo de capital, ¢ de outro, nas formas
particulares de desenvolvimento territorial. A is
ternalizagéo/interiorizagio do capital permitiu ain-
da a estruturagdo de uma rede urbana hicrarquiza-
da, paralela e necesséria as atividades produtivas,
transformando.velhos centros coloniais como Rio
de Janeiro © Si0 Paulo em metr6potes nacionais,
capazes, pelo dinamisme de suas fungoes, de captar,
centralizar e redistribuir parte considerdvel do ex-
cedente produzindo, ¢ mais ainda, capazes de co-
mandatem, @ partir do infcio deste século, todos os
processos modemizantes verificados no pais.
A argumentagdo até aqui adotada pode tam-
bbém aplicar-se a algumas particularidades do cha-
mado processo de industrializagio do pais. Alguns
autores, em trabalhos recentes, tém demonstrado
corretamente que a nascente indistria doméstica,
desde o final do século passado, caracterizava-se
exclusivamente como produtora de bens de consu-
mo nio duréveis, de trabalho intensivo, baixa ab-
sorefio teonoldgien e destinados em granvle parte ans
assalariados, Demonstraram também que esta in-
diistria cumpria, pelo menos até 1.930, uma dupla
fungio no Ambito da economia exportadora capi-
talista: de um lado, a de suprir populacGes assala-
riadas de artigos de baixo custo e absorver exceden-
tes de mao de obra rural, ¢ de outro, servir de al-
temativa de investimentos de capitais que manti-
vessem 0 padréo de acumulagio em momentos ci-
clicos de crise cafeeira. B desta forma, que pe-
To _menos “‘horizontalmente”, a pequena indiistria
nacional péde crescer A sombra da exploracio prin-
cipal. Tel industrializacto ineipiente achava-se res-
95
trita aos dois centros jé mencionados. Represen-
tava, portanto, a alternativa urbana de trabalho a
imigrantes ¢ nacionais; representva também a. al-
temativa urbana de’ investimentos de capitais
a cmpresirios rurais. Nao cstava a reboque do com-
plexo cafeeiro, mas era parte deste. A partir do mo-
mento em que a produgio cafecira se enfraquece en-
quanto motor hegeménico de acumulacad de capital,
0 centros urbanos dinamizam-se, a
sou proceso de verticalizactio, o Estado passa a tor-
nar-se 0 gerente da destinagio dos recursos para es-
te setor ¢ os empresitios canalizam seus capitais
mais e mais para 0 crescimento urbano-industrial.
‘As indkstrias pioneiras, restritas aos centros hist6-
ricos destas cidades, e as novas empresas iniciam
entiio um vigoroso proceso de descentralizacio em
direcio & periferia urbana, alongam-se paralclas as
vias férreas € as novas estradas de rodagem. No
plano regional, surgem centros como o de Belo Ho-
rizontt, Volta Redonda, ou mais préximos das me-
trépoles como Campinas, Sorocaba, Sio José dos
Campos, Santos, etc., manifestagées de um amplo
‘rescimento € de Timitagao de um espaco econémi-
co de dentro para fora, que, & maneira do café, in-
temaliza ¢ interioriza a produgéo, agora industrial
Em verdade, estes sfo apenas alguns apon-
tamento de uma argumentagdo que deverd tornar-
se ampla, a ponto de poder dar conta de especifi-
cidades da formacio territorial brasileira, bastan-
te complexa para o Ambito deste pequeno traba-
Iho. Trata-se muito mais de escolher-se um ca-
minho, @ mais coerentememte possivel, mestn0 co-
nhecendo-se os possiveis riscos de desvios teéri-
0s € préticas de uma tentativa deste t'po.
BIBLIOGRAFIA CITADA
1 — COSTA, W. M. ¢ MORAES, A. C. R. — (1975) — Vor
Tor, espayo © a questio do método. Temas de Ciéne
cia Humanas (5), Livraria ators Cigocas Humanas,
‘fo Paulo
2 — (1980) — A
Grografia © 0 proceso de valorizagio do espaco
Tnesito, mimeosrafado
3 — MELLO, J. M. C. — 2975) — © capitalismo tardio.
Ed. do autor, Campinas.
4— PRADO JR, Caio — (1973) — Formsgao do Brasil
Contemporineo. Ed. Brasliense, S50 Paulo,
5 — SANTOS, M. — (1978) — Por uma Geografia Nova
Ed. Hucitee, $. Paulo.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Expansão e Estruturação UrbanaDocument18 pagesExpansão e Estruturação UrbanaSílvia Regina PereiraNo ratings yet
- Problemas Ambientais UrbanosDocument21 pagesProblemas Ambientais UrbanosSílvia Regina PereiraNo ratings yet
- Urbanização, Meio Ambiente e Vulnerabilidade Social.Document8 pagesUrbanização, Meio Ambiente e Vulnerabilidade Social.Larissa LourençoNo ratings yet
- Produção e Consumo No EspaçoDocument193 pagesProdução e Consumo No Espaçopattipateta100% (1)
- Texto 3-Análise Dos Planos de Desenvolvimento Após II PNDDocument203 pagesTexto 3-Análise Dos Planos de Desenvolvimento Após II PNDSílvia Regina PereiraNo ratings yet
- Texto 1 - Espaço Agrário ColonialDocument13 pagesTexto 1 - Espaço Agrário ColonialSílvia Regina PereiraNo ratings yet
- Carta Mundial Pelo Direito A CidadeDocument31 pagesCarta Mundial Pelo Direito A CidadeSílvia Regina PereiraNo ratings yet