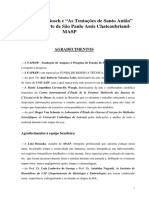Professional Documents
Culture Documents
A Vanguarda
A Vanguarda
Uploaded by
Erick Muntz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views29 pagesOriginal Title
A vanguarda
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views29 pagesA Vanguarda
A Vanguarda
Uploaded by
Erick MuntzCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 29
© Ismail Xavier
Fotos: Acervo Cinemateca Brasileira
CIP-Brasil. Catalogagao-na-fonte
(Sindicato Nacional dos Edirores de Livros, RJ)
Xavier, Ismail, 1947-
xsd © discurso cinematogrifico: a opacidade e a transparéncia, 3 edicéo ~ Sao Paulo,
Paz e Terra, 2005.
ISBN 85-219-0676-5,
Inclui bibliografia
1. Cinema — Estética, 2. Cinema — Filosofia I. Titulo IL. Série
03-1822 CDD-791.4301
CDU-791.43.01
EDITORA PAZ E TERRA S/A
Rua do Triunfo, 177
Santa Efiggnia, Sé0 Paulo, SP — CEP: 01212-010
Tel: (011) 3337-8399
Esmail: vendas@pazeterra.com.br
HomePage: www.pazeterra.com.br
2005
Impresso no Brasil | Pinted in Brazil
A. O ANTI-REALISMO E O CINE}
SOMBRAS
Desde 0 Manifesto das Sete Artes, es-
tito por Ricciotto Canudo ¢ publicado em
Paris, em 1911, € possfvel encontrar a exal-
tagio das ricas possibilidades da nova arte,
eny mo algo essencialmente ligado
ok alor Daeg? da imagemNo exame das
concepsoes que Sustentam tal valor poético
é possivel encontrar um caminho para en-
ender a relagio entre cinema e realidade na
visto de Canudo e de outras figuras da van-
guarda dos anos 1920.
© trago comum aos diferentes “ismos”
daquele periodo ¢ sua oposigao a uma tradi-
4a clissea,reumnidi-ne prepoatio dear are |
eee a
gomo“imitacao”, € aquilo que era entendi-
do como uma nova versio mais moderna —
0 realismo artistico tal como ctistalizado na
literatura ¢ na representacao pictérica (ante-
tior a0 impressionismo) do século x1x.
Visca dentro de uma perspectiva mais
ampla, tal oposigéo ao estabelecido, nao im-
plica necessariamente que 0 projeto das vi-
A VANGUARDA
tias vanguardas adquira como definigéo ab-
soluta a qualificagao de anti-tealista. Se, em
suas varias vers6es, a vanguarda apresenta
como caracteristica imediata a ruptura com
récnicas e convengdes prdprias a uma forma
particular de representacio, esta ruptura esté
articulada com um discurso te6rico-critico
onde 0 novo estilo encontra suas justifica-
Bes em visdes especificas da realidade, dis-
tintas daquela que presidiu 0 projeto realista
do século xx. O pintor impressionista diré
que stia visio e seu modo de pintar sio mais
fiis & pura sensagio visual e as propriedades
dinamicas da luz do que o realismo que ©
precedeu, preso a regras responséveis por uma
representagio convencional ¢ irreal do mun-
do visivel. Cézanne diré que todo o seu pro-
jeto liga-se & pintura que provém da nature-
za; ¢ muitos criticos favoraveis ao estilo
cubista diréo que 0 novo espaco pictético é
mais compativel com as condigées da vida
moderna ¢ as novas descobertas da ciéncia
do que velhas receitas académicas, Fernand
Léger ser explicito na proposigao da van-
guarda como um mais rico ¢ mais profundo
100
realismo. © cineasta e 0 pintor surrealista
dito que o mundo surreal que emana de suas
imagens é mais real, como 0 préptio nome o
indica, do que o real captado ¢ organizado
pelo nosso senso comum.
Em suma, falar das propostas da van-
guarda, significa falar de uma estética que, a
rigor, somente é anti-tealista porque vista por
eli gene td inna pene st toaatnae
dana Renascenqa ow porque, no plano nar-
fata lige merle onnadapaalt
read sched jcormurs Anal cedote qual
quer realismo ésempre uma questéo de ponto
de vista, ¢ envolve a mobilizagao de uma ideo-
logia cuja perspectiva diante do real legitima
‘ou condena certo método de construcao ar
tistica. Como o olhar renascentista e uma
certa concepcao de narrar constituia o estilo
dominante, as novas propostas por mais que
teoricamente se vinculassem a projetos “rea-
listas” dentro de outros referenciais, ficaram
associadas a anti-realismo. Isto, em princt-
Hogeniae tesa metteatnaye
sere
Este é um aspecto da questo. Ao lado
disto, hd que se considerar a enorme contri-
buigdo que o préprio discurso da vanguarda
ofereceu i estratificagio da equagio segun-
do a qual vanguarda se identifica com anti-
realismo. Investindo contra a propria idéia
de representacao (mimese) e propondo a ati-
Widade artistica como criagao de um objeto
(entre outros) auténomo e dotado de leis
préprias de organizacio, o pintor modernis-
ta tende a destruir a visio do quadro como
janela que abre para um duplo do nosso
mundo, Num primeiro momento, tal rup-
es
© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
tura prevalece sobre qualquer consideraggo
mais detida a respeito do tipo de “realidade”
depositada na superficie da tela. Uma arte
que busca provocar estranheza, que denun-
cia sua presenga ostensiva como objeto nao
natural e trabalhado, e que nao permite um
acesso imediato (sem mediacio de uma teo-
ria) As suas convengGes e ctitérios construti-
vos, tende a desencorajar as tentativas do lei-
tor em relacioné-la com realidades existen-
tes fora da obra. O que nao impede que, no
seio mesmo deste aparente irrealismo, uma
legitimacéo do novo estilo seja proposta a
partir de sua compatibilidade com um certo
tipo de realidade, de tal modo que as velhas
idéias de “captacéo do essencial” ¢ de “reve-
lacao das profundezas” sejam reintroduzidas.
Posto isto, vejamos como se desenvol-
vem as varias propostas “anti-realistas” no
Cinema, A construcao do
“cinema poético’) compativel com os diver-
365 “Temos” da vanguarda implica em traba-
Ihar contra a reprodugao “natural” ¢ COATT a
ida de mime no prop ETS ORE
‘naturalidade de tal perfeicao mimética pare-
cem estar inscritas no proprio instrumento e
nna préptia técnica de base. Diante deste pro-
blema, conforme a vanguarda particular que
se considere, a resposta seré diferente.
Oataque frontal 4 aparéncia realista da
imagem cinematogréfica vem, inicialmente,
de uma tendéncia especifica marcada por
uma ostensiva prézestilizagio do material
o frente & cimera: a tendéncia
expressionista, A mesma qué, ao longo da
histéria do cinema, receberia um duplo ata-
que, sendo alvo dos defensores dos varios
realismos e alvo dos te6ricos da vanguarda.
A-VANGUARDA 101
Os primeiros nunca estiveram dispostos a
aceitar a “artificialidade” dos métodos de
representacao expressionistas ou a metafisi-
ca proposta através destes métodos; os segun-
dos nunca perdoaram ao expressionismo a
sua “sacrilega” violagdo dos principios da
especificidade cinematogréfica ao apelar para
‘0s recursos estilisticos que se tornaram céle-
bres a partir de O gabinete do doutor caligari
(1919). Na diregao da vanguarda ou na di-
regio do realismo, pode-se dizer que sempre
predominou uma frente tinica em defesa dos
sco eerge Le nee Sea eee ae
momentos de introdugio do estilo ha arte
Moussinac e Epstein na proposta de que ndo
é legitimo basear uma estética do cinema na
elaboragio artistica do material a ser filma-
do, reduzindo-se a cimera ao simples papel
de registro, « a montagem a praticamente
nada. Nao foi exatamente isto que 0 expres-
sionismo fez, mas esta ficou sendo sua eti-
queta. O que nao surpreende, uma vez. que
seu procedimento mais caracteristico ¢ evi-
dente foi justamente a pré-cuilizacdo como
forma de “trait” © realismo da imagem foto-
grdfica.
Sem duivida, sua marca é a elaboragio
de um espaco dramitico sintético artificial-
mente construfdo por um trabalho cenogré-
fico que procura os mais diversos efeitos,
exceto a ctiagao da ilusto de profundidade
segundo leis da perspectiva. E Caligarié evi-
dentemente o extremo exemplo de tal méto-
do. Utilizando superficies, paredes e solos
pintados num estilo marcado por distorgbes,
linhas curvas ¢ formas distantes daquelas
encontradas no espago natural, este filme
transporta para 0 ambito cinematogréfico
estruturas espaciais ¢ formas préprias 20
mundo do teatro néo naturalista e ao espago
pictérico da arte moderna. Neste sentido, cria
uma linha de associagdes que ainda hoje in-
duz as pessoas a qualificar de expressionista
qualquer distorcao, exagero ou despropor-
(G40 manifestas na tela do cinema, Igualmen-
te, outros filmes expressionistas, com seu
caracterfstico jogo de sombras, criam uma
tradigao que associa a0 expressionismo o es-
tilo fotografico marcado pela nao definigo
da toralidade do quadro, num forte contras-
te entre zonas visiveis e zonas de trevas. O
que o expressionismo nao associou a si —e
isto sem divida esté manifesto em alguns fil-
mes desta tendéncia ~ é a néo obediéncia &s
regras de continuidade e aos padroes de coe-
réncia espacial proprios & decupagem cléssi-
ca, j4 amadurecida 0 suficiente naquele mo-
mento para que a decupagem de Caligari seja
encarada como ruptura.
‘Trabalhando contra a superficie clara,
a decupagem clara, contra o gesto natural ¢
6 drama inteligivel segundo leis naturais, a
mento obscuro, de seres humanos que sé
deslocam estranhamente num espago cheio~
de dobras e, desta forma, instaura u =
co dramético regulado por forgas distintas~
Contra a textura de um mundo continuo ¢
claro, o olhar expressionista quer libertar-se
da piso dos estimulos imediatos, abrindo
brechas nesta textura do mundo e procuran-
do recuperar uma nogio de experiéncia onde
os sentidos voltam a ser a “ponte entre o in-
compreensivel eo compreensivel”, tal como
odizo pintor August Macke, O jogo desom-
102 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
bras © as distorgbes sistemiticas, tendentes a
agugar as caracteristicas basicas da forma,
procuram constituir uma experiéncia sensi-
vel modelada segundo estruturas primordiais
da “alma humana” ~ 0 projeto é reintrodu-
zit no nosso cotidiano a “sensagao do cos-
mos”, Um objeto néo é apenas um objeto,
hd sempre um além por trés da sua presenga
imediata: “mesmo a matéria morta € espiti-
to vivo” (Kandinski).
Ao quebrar a continuidade do espaco,
ao instituir suas dobras e suas sombras, 0
drama expressionista quer reintroduzir as
marcas do invisivel, desmascarat 0 mundo
vistvel. A sombra provoca o desnudamento
© € poderosa justamente porque constitui a
presenga mais nitida da forma pura sem as
diluigdes que a textura material impée. Nela,
temos a esséncia sem os acidentes da super-
ficie, “A forma é a expresso exterior de um
contetido interior” (Kandinski, Der blawe
reiter almanac, 1912). Na perspectiva expres-
sionista, tal contetido ganha definigao atra-
vés da nogio de incompreensivel ¢ através
da idéia de percepgao direta do segredo das
coisas: “idéias incompreensiveis se expressam
em formas compreensiveis” ¢ a “forma é um
mistério para nés porque é a expresso de
misteriosos poderes. Somente através dela
nés percebemos os poderes secretos, 0 Deus
invisivel (August Macke, “Masks”, Der blaue
reiter almanac, 1912).
A idéia de uma esséncia encarnada ea
pritica de um idealismo platénico surgem
como resposta 4 mentalidade positivista sin-
tonizada com o progresso tecnolégico e ma-
terial. Encontramos no contexto expressio-
nista uma postura dramética de revolta, de
chamado & recuperacao de uma esséncia hu-
mana supostamente perdida, numa atitude
que se julga anunciadora de uma nova era de
espiritualidade: “uma grande era se inicia, 0
acordar espiritual, a tendéncia crescente de
recuperagio do ‘equilibrio perdido’, a neces-
sidade inevitével do cultivo espiritual, 0 de-
sabrochar do primeiro Iirio. Estamos no li
miar de uma das maiores épocas que a hu-
manidade jamais experimentou, a época de
uma grande espiritualidade. No século x1x,
apenas acabado, quando parecia haver 0 com-
pleto florescimento — a grande vitéria ~ do
material, os primeiros elementos ‘novos’ de
uma atmosfera espiritual formaram-se pra~
ticamente despercebidos. Eles forneceram e
yao fornecer o alimento necessdrio para ao
florescimento do espirito” (Editorial escrito
por Kandinski e Franz Marc para o Der blane
reiter almanac).
Em tal apostolado, o essencial é a rela-
go “alma a alma”, a possibilidade de atra-
vessar a superficie material ¢ atingir a comu-
nicagio direta das forcas espirituais dentro
de cada um de nés. A arte, como ugar privi-
legiado da construgao de formas e da intui-
Glo reveladora, afirma-se como a experién-
cia fundamental: o lugar da expresso nua
da intetioridade e da comunhao através do
extase.
Quanto ao cinema, como sucessor ime-
diato do teatro de sombras, ele € 0 vefculo
por exceléncia. E.o expressionismo vai abor-
délo como o lugar do nao-discurso, como
um além da linguagem. O olhar expres
nista aponta a cimera para as formas essen-
ciais capazes de revelar a “alma humana”, as
forcas do coragao (como no filme Metrépolis,
A VANGUARDA 103
realizado por Fritz Lang em 1926) € 0 Deus
invisivel. Ancorado na idéia de expresso
como encarnagao direta do espitito na ma-
téria, cal cinema nao discursa, nem sequer
fotografa 0 real; ele tem “VisGes”.
B. O CINEMA POETICO E O CINEMA PURO
Ao lidar one aee
sualidade em Seu poder revelatério ¢ em sua
capaci ei
guagem verbal, a yanguarda francesa cami-
nha numa diregio bastante distinta do cine-
ma de sombras. Na sua perspectiva, a expres-
so do essencial e a emergéncia do poético
ocorrem num espago de clareza, no préprio
seio da “objetividade” da reproducao foto-
grafica. Tal “objetividade”, ser celebrada,
sendo assumida como a alavanca fundamen-
tal para 0 cinema no seu caminho rumo &
superagao da narrativa realista ¢ rumo 4 su-
premacia de sua dimensio pottica.
Na sua luta contra o discurso, contra 0
que € assumido como linguagem convencio-
nal, a vanguarda privilegia a imagem cine-
matogrifica naquilo que ela tem de “visio
direta’, sem mediag6es, ¢ naquilo que ela tem
de especial frente & visto natural. Para Ca-
nudo € Delluc, além de ser a exptessio nao
discursiva de algo — a idéia é de que o cine-
ma nfo fala das coisas, mas as mostra (como
em Bazin e Mitry) —a imagem do cinema é
dotada de um poder de transformagao que
desnuda 0 objeto ou 0 rosto focalizado (no
claro, & diferenga da postura expressionista).
Aqui, configura-se uma antecipagio de Ba-
zin, mas a crenga no poder revelatério nao
se combina com a defesa de um cinema nar-
rativo centrado em torno da figura humana,
O cinema da vanguarda purista (no inchio
aqui o surrealismo e 0 dadaismo) quer justa-
mente quebrar as hierarquias de tal realig-
mo, ¢ sua maior aspiragio € dissolver 0 ho-
mem ¢ 0 social dentro de um universo ho-
mogénco, onde a tinica ordem e tinica inte-
ligencia possivel se define no nivel da naty-
reza, Néo aquela do naturalismo burgués ou
aguela que a taro explica, mas aquela natu
reza “sabia” dotada de subjetividade © de
finalismo, cuja apreensio s6 pode ocorrer
como um ato de intuigéo para o qual con-
corre fandamentalmente a sensibilidade,
Nesta petspectiva, o cinema é também pon-
to culminante de uma liturgia — a verdade
gue ele revela € “indizivel” € origina-se nas
virtudes da propria imagem luminosa. Nao
éfruto de um trabalho discursivo, da articu-
Jaco de elementos ou da construggo de um
espago que ctia um lugar para as coisas, &
resid apenas da pes brs
laments respeitado em scu desenvolvimen-
garacteristico, O importante € cada imagem
Singular e seu poder gerador de uma ova
experiéncia do mundo visivel.
O cinema ¢ instrumento de um novo
lirismo ¢ sua linguagem é poética justamen-
te porque ele faz parce da natureza. O pro-
cesso de obtencao da imagem corresponde a
tum processo natural — ¢ 0 olho e 0 “cérebro”
da chimera que nos fornecem a nova € mais
perfeica imagem das coisas. O nosso papel,
como espectadores, é clevar nossa sensibil-
dade de modo a superar a “lcitura conven.
cional” da imagem e conseguir ver, para além
do evento imediato focalizado, a imensa
ener ni
104 0 DISCURSO CINEMATOGRAFICO
orquestragio do organismo natural ¢ a ex-
pressdo do “estado de alma” que se afirmam
ina prodigiosa relagéo cimera-objeto.
Tal leitura convencional estaria intima-
mente ligada aos condicionamentos que nos-
sa “razo estreita” impée, na medida em que
promove uma relacéo com o visivel marcada
por objetivos de ordem pritica e nao respei-
ta aquilo que de mais profundo existe nas
coisas, Uma relagéo sensorial mais integral
com o mundo ¢ a apreensfio de sua “poesia”
tornar-se-ia posstvel gragas & nova arte ¢ seu
poder de putificagao do olhar.
Ao celebrar fundamentalmente a rela-
gio cmera/objeto, tal liturgia do “olhar pu-
rificado” deve instalar-se na brecha criada pela
desintegtagio do espago dramitico e narrati-
vo. Para que a verdade da Natureza e do “ser
natural” que existe dentro de nds se revele, €
preciso dissolver as concatenac&es narrativas
eas tenses elaboradas dentro de convengées
proprias a0 teatro, Ou seja, para que a “obje-
tividade” da imagem seja compativel com 0
“cinema poético” ¢ preciso que ela se organi-
ze de modo a explorat as “revelac&es” vindas
de cada relacéo camera/objeto. E preciso abrir
guerra contra o encadeamento dos eventos a
partir de seus efeitos priticos, pois a narragao
0s explora em sua “exterioridade” e nao em
sua “interioridade”.
O que de mimético existe na reprodu-
Gio cinematogrifica fica accito e redimido
na medida em que a mimese proposta néo se
esgote na “exterioridade dos fatos” ¢ seja ca-
paz de atingir a “profundidade” do enfoque
pottico (expresso de um estado de alma),
contra “superficialidade” das concatenagées
logicas.
Deritrojtetal peripectivajga disci
sobre os critérios de decupagem/montagem
tende a se concentrar no problema do rit-
Taps rquestbesrrplacionsdualconilatcarteg
trugio de um espaco coerente perdem rele-
vancia ¢ as reflexdes dos teédricos se dirigem
para 0 clogio as virtudes plésticas de cada
To plano atral para Sas maiores especula-
des, dada a sua associagao com tragos como
detalhe revelador, intimidade, movimento
seareto, visualizago do invis{vel. A monta-
gem sé recebe especial atengao no pensamen-
to dg Moussinac, cujo cinema postico estaré
iaseaipmiociollescinwaldmseismdela
musical, um ritmo formalizado e produzido
enuifunide deelaroeaqusntiiceycied Dire
ferencial musical ser assumido de maneira
mais radical por cineastas ¢ esteras como
Germaine Dulac, Viking Eggeling ou Hans
Richter. Nao surpreende que sua estética te-
nha como ponto de chegada a realizagao do
“cinema puro”, Bste, correlato ao abstracio-
nismo pictérico (também referenciado ao
modelo musical em sua teoria) vai mais lon-
ge na desintegracéo do referencial realista.
Nao sé proclama a dissolugéo da nacrativa
ow eliminagio do espago dramético; exige
a supressio de qualquer vestigio mimético,
desqualqyerireitncta a, unit crpatostemago
natural exterior ao filme, e toma como tini-
ca realidade a dinamica da luz ¢ os seus efei-
tos geométricos € ritmicos na superficie da
tela. Dentro destes, princtpios, Richter,
Eggeling ¢ Dulac realizam, nos anos 1920,
alguns de seus filmes, buscando procedimen-
tos destinados a reduzir a experiéncia cine-
matogréfica a seus elementos mais puros.
A VANGUARDA 105
Neste caso, perde © sentido 0 uso de
expresses como decupagem, uma vez que a
montagem de linhas, figutas geométricas ou
0 jogos de luz e sombras, no se produz atra-
vés da filmagem de “cenas” divididas em pla-
nos, mas através da filmagem “quadro a qua-
dro”, onde cada fotografia corresponde 20
registro de uma imagem pictérica e abstrata.
A técnica utilizada nas experiéncias do cine-
ma puro é a mesma que encontramos na rea-
lizacao dos desenhos animados, com a dife-
renga de que o cartoon de maior divulgagio
comercial corresponde A constituig’o de um
espago narrativo ¢ antropomérfico (lembre-
mos Walt Disney). No cinema puro, temos
uma seqiiéncia de imagens nao figurativas,
No caso do cinema de Richter, calcula~
das variagdes em torno da figura retangular
(retingulos brancos em tela preta ou vice-
versa) constituem a matéria para um estudo
da relagio superficie/profundidade: a redu-
40 do cinema e seus elementos mais puros
0 branco ¢ 0 preto ~ é vista como 0 cami-
nnho certo para a andlise do filme como obje-
tgem si mesmo, como algo dotado de quali
dades préprias, como luz projetada numa
superficie e nada mais. Dentro desta estéti-
ca, trata-se de investigar o funcionamento da
percepgio, as modalidades de tesposta do
espectador diante de um estimulo que esta
aquém da “representaco”, aquém da presen-
ga de objetos reconheciveis mergulhados
num espago tridimensional — 0 espaco so-
cial de seres humanos e objetos. Se este espa-
¢0 pode ser projetado na tela gragas & ilusao
ctiada pelas leis da perspectiva inscritas no
proprio aparelho (lentes fotogrificas), 0 ci-
neasta abstrato busca a recusa deste ilusio-
nismo e, 20 mesmo tempo, encaminha sua
pesquisa para o nivel sensorial. Ele quer for-
necer um estimulo que produza no especta-
dor uma teagao capaz de ensinar a este como
cle percebe ¢ capaz de o fazer entender 0 que
€0 “cinema em esséncia”, como objeto, an-
tes que as luzes projetadas na supetficie da
tela scjam organizadas pelo projeto ilusionista
do cinema de ficcio.
Tais luzes serio organizadas segundo
projetos pictéricos marcados por diferentes
orientagbes, conforme o cineasta em ques-
tao, tendo as varias perspectivas, como ttago
comum, a valorizagao das caracteristicas plis-
ticas da imagem e as proptiedades fisicas do
objeto-cinema. Varias formas de cinema de
animagio, caracterizadas pela filmagem “qua-
dro a quadro” de imagens e desenhos pinta-
dos pelo cineasta-artista plistico, articulam-
se com diferentes propostas j& presentes no
nivel da pintura (desde o abstracionismo geo-
métrico até um simbolismo recuperador das
mais diferentes mitologias acidentais ¢ orien-
tais), Um cinema muito especifico emerge.
Como diz Robert Breer, figura bsica no atual
cittema gréfico americano, aquele cinema que
se define por uma “evolugao das formas de-
rivadas da pintura do autor”. Como outros
praticantes do cinema gréfico (Harry Smith,
Len Lye, Jordan Belson), Robert Breer é um
homem que vem de um trabalho original em
pincura, prolongando suas pesquisas dentro
de um contexto filmico, © que implica em
lidar com a movimentasio das configucagoes
visiveis e com o estabelecimento de uma
duracéo definida para cada imagem em par-
ticular, propondo um tipo de leitura ao es-
pectador.
106 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
A tendéncia a considerar o filme-obje-
to chega a uma formulagao mais radical no
momento em que, nos anos 1950 ¢ 1960,
Peter Kubelka, Gregory Markopoulos © 0
prdprio Breer passam a trabalhar com o fo-
tograma (cada uma das forografias que com-
poem a pelicula cinematogrifica) como uni-
dade basica da experiéncia visual da platéia.
Dar privilégio a cada fotograma como fonte
de uma configuragao diferente das outras, é
atacar 0 principio, num determinado mo-
mento considerado cientifico, de que 0 ¢s-
pectador ¢ incapaz de perceber, como uni
dades separadas, cada um dos fotogramas.
Pois bem, € justamente este princfpio que
vai constituir um dos alves da vanguarda
americana, de Markopoulos a Brakhage, pas-
sando por Breer, Kubelka e outros, Contra a
tradigao, eles yao defender a tese de que ¢
possivel enxergar cada fotograma e, portan-
to, o cineasta deve concentrar sua mensagem,
carregando cada 1/24 de segundo com uma
nova configuragio, como se a seqiiéncia de
forogramas fosse uma série de hieroglifos a
serem decifrados. Markopoulos vai inserir
esta idéia do cinema de single-fiame (foto-
grama individualizado) dentro de um proje-
to de cinema narrativo: 0 género mito-poé-
tico, Brakhage vai inserir tal ataque (ao que
ele considera um “preconceito” do mundo
cientifico) dentro do seu projeto global de
ataque as limitagées que a cultura — como
conjunto de convengées que condiciona a
percepgdo — impée ao nosso olhars ¢ vai
montar seus filmes sem preocupar-se com 0
velho problema do “limiar da percepcao”
Breer vai trabalhar mais sistematicamente
com os efeitos da ripida sucesso de cores
com a introdugio da série descontinua de
fotogramas como estratégia de ataque ao ilu-
sionismo ou, mais precisamente, como ten-
tativa de revelagao, para o espectador, daquilo
que est por trés do ilusionismo do cinema-
janela. O modelo musical reaparece, reviven-
do os ideais de Dulac, mas agora dentro de
uma nogao mais matematica. Os forogramas
isolados, como notas, constituiriam as uni-
dades bésicas de uma construgéo ritmica apta
a produzir experiéncias sensoriais de mesmo
nivel que a experiéncia auditiva fornecida
pela musica. O modelo chega a sua formula-
cio mais radical em Kubelka, que propoe e
executa filmes curtos extremamente elabo-
rados no nivel da relacio matematica entre
focogramas ¢ extremamente voltadas para a
nao figuragio, para a apresentagio de um
objeto dado a percepcao como algo indepen-
dente e fechado em si mesmo, Com Kubelka,
© cinema puro afirma-se como sucessio ma-
tematica de luz (tela branca) ¢ obscuridade
(cela totalmente preta), numa produgio que
realiza o velho sonho do cinema com “parti-
tura”. Se as cépias de Arnulf Rainer (1960)
de Kubelka se perderem, qualquer pessoa
poderd refazer o filme, uma vez que ele apre-
senta apenas luz pura ¢ auséncia de luz, al-
ternadas segundo certas relagées numéricas.
© flickering cinema (cela piscando segundo
certas leis matemiticas) inicia sua carreira e
vai constituir tema de especulagao de Conrad
€ outros, preocupados com as modalidades
da experiéncia sensorial.
A matematizagio e 0 modelo musical
ligam-se a critica & continuidade e Kubelka
chega a inverter as tradicionais definigoes do
cinema: “O cinema nao ¢ movimento. O ci-
wlll dA)
‘A VANGUARDA 107
nema ¢ a projegao de fotos (cts) — ou seja,
imagens que nao se movem — num ritmo
dccleradot (iGabellzajenitrevina'alforasiMe-
kas, in New forms in films, p.80). Dentro
desta deficdo;d -artculacia, bésita deum
filme se dé no invervalo entre dois fotogra-
mas: “Onde esté entdo a articulacao do cine-
ma? Eisenstein, por exemplo, disse: é a coli-
séo entre dois planos, Mas é estranho. que
ninguém nunca tenha dito que nao é entre
dois planos mas entre dois fotogramas. F
entre os fotogramas que o cinema fala” (idem,
p.80).
Na afirmacso/de filme; como iabjero
dovado de uma temusl paige Ss tecnica
le base ¢ so os cuidados essenciais aos olhos
dos inventores do cinema, que recebem o
ataque do’cineasta, Dentro do projem hists-
rico que gera 0 mecanismo reprodutor do
movimento (0 cinematégrafo de Edison ¢
Lumiére), a ilusio de continuidade é um
horizonte essencial — condigo para a simi-
laridade entre a tela de cinema ¢ 0 mundo.
Neste caso, a recuperacao da descontinuida-
de, daquela descontinuidade que realmente
acontece na projecéo do filme, significa tra-
zet parao nivel da percepgéo a presenca ime-
diata da pelicula cinematogréfica como ob-
{eto,, com suas proptiedades Gsicas (série de
fotografias dispostas de um certo modo). O
pedaco de celuldide prevalece sobre a idéia
de imagem representativa ~ no hd aqui ne-
huma auséncia (objetos, mundo) que este-
jasendo visada pela presenca da imagem for-
necida. Nao somos remetidos a nada que ndo
seja 0 objeto (filme) que se mostra. Ele é 0
discurso que fala apenas de si mesmo. Cada
filme é uma auto-definicao.
Para Jonas Mekas, este cinema, como
arte, atinge seus niveis mais altos “em dire-
ao a uma iluminagao estética mais sutil ¢
menos racional”, E, neste movimento, equi-
para-ses outras artes em suas tendéncias mais
modernas. Se lhe dissermos que hd muita abs-
tragao no encaminhamento desta forma par-
ticular de negar o projeto ilusionista, Mekas
nos responde negativamente. Num desvio
empitista para um homem devotado ao ci-
nema visionario ¢ poético—ou melhor, numa
demonstragao do quanto hé de comum en=
tre empitismo e poesia visiondria — ele assu-
me que nada é mais concreto do que a pre-
senga imediata do objeto ¢ as sensacdes dele
derivadas: “O cinema, mesmo aquele mais
ideal ¢ mais abstrato, permanece em sua es-
séneia concreto; permanece a arte do movi
mento, luz. ¢ cor. Quando deixamos os pre-
conceitos eos pré-condicionamentos delado,
nos abrimos para a concretude da experién-
cia puramente visual ecinestética, para o“rea-
lismo” da luz ¢ do movimento, para a pura
experiéncia do olho, para a matéria do cine-
ma. “Assim como o pintor teve que se tornar
consciente da matétia da pincura — a tinta;
ouo escultor, igualmente, da pedra, madeira
ou mérmore; assim também, para chegar a
sua maturidade, a arte do cinema teve que
assumir a consciéncia de sua matéria — luz,
movimento, celuléide, tela” (Mekas, Movie
journal, p.219).
C. O ADVENTO DO OBJETO EA INTELIGEN-
CIA DA MAQUINA
Hans Richter, nos anos 1920, fora pega
fundamental na inauguragao do cinema puro
‘i (© DISCURSO GINEMATOGRAFICO
wabstraco. Depois da Segunda Guerra,
undo © palco principal do “cinema poéti-
a! transfere-se para os Estados Unidos, cle
tikintroduzir no seu cinema a presenga dos
‘bjetos externos”. Nesta sua nova fase, tes-
frinda a figuragdo das coisas ¢ aceita a pre-
sig dos objetos na tela, a ruptura com 0
‘undo natural faz-se através do deslocamen-
veda imtegragio destes objetos numa nova
«idem constitufda de valores plasticos-rftmi-
i, O objeto cotidiano, 0 fragmento da
niquina, a imagem familiat, sé destacados
chs eis contextos ¢ convidados a participar
ma Combinagdo de outra natureza, néo
peasua Funcionalidade, mas pelas suas qua~
liades plisticas. Ou seja, sua presenga na
tt € organizada de modo a tornar sua for-
me cextura um puro espetéculo. Ballet
neenique (1924), de Fernand Léger, cons-
tui o modelo de tal “orquestragao de ritmo
tforma” onde o brilho de determinadas su-
Peficies, iluminadas de diferentes formas ¢
cmbinadas em diferentes séries, fornece
naterial para um “novo realismo” (na expres-
So de Léger). O artista francés fala nas no-
ns condigdes de percepgao que caracterizam
ayida urbana na sociedade industrial e quer
produzir um cinema apto a fornecer uma
aperiéncia compativel com a nossa nova
ttkcdo Com as objetos ¢ com as maquinas
Auayés de suas imagens, trata-se de explorar
+ possibilidades plisticas do objeto cotidia-
10, liberto de nossa visio utilicaria, que 0
iprisiona ao lhe definir certas fung6es. Em.
liger, trata-se basicamente de operar com a
inaginag&o, romper com a narrago eo dra-
mma teatral — celebrar 0 “advento do objeto”
‘fazer do cinema uma arte exclusivamente
plastica, de montagem, propria a fornecer em
sua mais sofisticada versio aquilo que, em
certa medida, jd é fornecido pelo espetéculo
das ruas, pelas técnicas de decoracao de vi
trines e por toda esta transformacio ambien-
tal que, sem duivida, tem suas influéncias
decisivas na sensibilidade do homem. Em
relagéo 4 interagio homem/ambiente, Eps-
tein tera uma formulagao mais incisiva ¢ mais
aristocratica, falando da “nova inteligéncia”
que seria prépria aos cultores da vida mo-
derna. No esquema de Epstein, 0 cinema
ocuparia um lugar privilegiado na modela-
gem desta nova inteligéncia: “E impensavel
que um tal instrumento nao venha a ter in-
fluéncia sobre o pensamento. As méquinas
que o homem inventa tém sua inteligéncia a
qual recorre a inteligéncia humana” (Eerits
de Jean Epstein, p.244).
Um misto de temas futuristas ¢ técni-
cas cubistas inspira as formulagies de Léger
¢ Epstein, com diferencas. Do manifesto pela
cinematografia futurista de 1916, reaparece
a idéia de celebragao da maquina ¢ do objeto
manufaturado, ¢ a dissolucio do homem
numa ordem mecanica, com a transforma-
Go da arte num discurso das coisas. A mo-
dernidade ensinaria a retirar 0 homem do
centro do mundo ¢ a deslocar 0 palco dos
grandes dramas.
Ao celebrar o advento da maquina e do
objeto industrial, Léger no assume as im-
plicagées ideolégicas contidas no programa
futurista. A nogao de que fazer cinema e
manipular imagens ¢ explorar possibilidades
contidas num certo material € assumida den-
tro de uma racionalidade diferente. A seu
modo, ele dissolve a hierarquia humanista ¢
A VANGUARDA, 109
© primado da consciéncia, transformando o
objeto no centro do discurso. Em tal des-
centramento, © passo decisivo é a desinte-
graco do espaco social, refletida no estilo
da decupagem. O primeiro plano, maior in-
vengao do cinema segundo toda a vanguar-
da francesa, assume literalmente a fungao de
produzir uma nova percepgio e a idéia de
enquadramentro como um “retirar do con-
texto” é levada as suas tiltimas conseqiién-
cias. A nogdo de “novo realismo”, de con-
cretude, liga-se & proposta de celebrar, pela
listica, a presenga de cada objeto, de cada
culo para os olhos.
Indo além das preocupagées mais eco-
légicas de Léger, Jean Epstein penetra num
terreno ontolégico ¢ fala de “personalidade”,
de “vida propria” contida em cada fragmen-
to isolado pelo quadro cinematogrifico. Ao
lado do poder de revelacao psicolégica fren-
te a um rosto, o cinema para Epstein tem
um poder anfmico frente aos objetos e aos
elementos naturais. A diferenga da nogao de
concteto que preside 0 espeticulo naturalis-
ta~preso & nocao de fato e& cadeia de acon-
tecimentos vinculados por uma relagéo de
causalidade — a concretude de Léger Eps-
tein pressupde a descontinuidade, o nao en-
cadeamento de fatos, a ordenagéo em série
segundo critérios fora do espago e do tempo
do senso comum. “O primeiro plano fere
também de outro modo a ordem familiar das
aparéncias. A imagem de um olho, de uma
mio, de uma boca, que ocupa toda a tela —
no sé porque aumentada em trezentas ve-
zes, mas também porque vista fora da co-
munidade organica — assume um carter de
autonomia animal. Este olho, estes dedos,
estes libios, j4 so seres que possuem, cada
um, suas préprias fronteiras, seus movimen-
tos, sua vida, sua finalidade prdprias, Hles
existem em si” (Eorits, de Jean Epstein, p.256,
texto escrito em 1946),
‘Abrindo guerra contra a percepgao que
prevalece na vida cotidiana dos homens,
Epstein vai construir o referencial mais sis-
temético na tentativa de justificar a imagi-
nacdo poética em sua oposigao ao cinema
dominante ¢ na tentativa de demonstrar a
profunda afinidade entre as estruturas do fil-
‘me como objeto e as novas revelacdes da fisi-
ca moderna. Como Kracauer, ele parte de
uma inverpretacao particular dos dados da
ciéncia e, como Kracauer, formula uma pro-
posta que atribui & nova arte uma funcéo
decisiva na cultura moderna. No entanto, sua
interpretagao, desde os anos 1920, sempre
caminhou em direc oposta & do tedrico
alemao. Para o poeta, cineasta ¢ tedrico fran-
cés, 0 cinema é o lugar de um aprendizado
especifico; ele é a via de acesso para uma nova
mais verdadeira percepcio do espaco-tem-
poem que estamos inseridos. “Se, hoje, qual-
quer homem medianamente culto consegue
representar © universo como uma continui-
dade com quatro dimensdes, em que todos
os acidentes materiais resultam da articula~
‘do de quatro varidveis espaco-temporais; se
esta figura mais rica, mais dinamica, mais
yerdadeira talvez, substituiu pouco a pouco
a imagem tridimensional do mundo, assim
como esta substituiu primitivas esquemati-
zagées planas da terra e do céu; se a unidade
indivisivel dos quatro fatores do espago-tem-
po esté paulatinamente se tornando tao evi-
110 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
dente como a inseparabilidade das trés di-
menses do espago puro, isto se deve muito
ao cinematégrafo, a cle se deve esta ampla
penetracao da teoria 4 qual Einstein e Minko-
wski, principalmente, ligaram seu nome”
(idem, p.284, 1944).
De que modo pode 0 cinema desem-
penhar tal fungao? Primeiro, porque na sala
de espetéculos estamos em todo lugar e em
parte nenhuma; somos dotados de uma ubi-
qiiidade que transforma nossa visio do mun-
do. Ao set-no-mundo de Merleau Ponty ¢
ao homem “em situacao” do existenclalism,
Epstein opdc o ser-em-toda-parte ¢o homem
Edgar Morin vai discutir nos anos 1950, Em
segundo lugar, porque, acima de tudo, o ci-
nema € 0 reinado da descontinuidade. No
proprio processo de registro, tal descontinui-
dade esté impressa e, por sua vez, a monta-
gem cria um uniyerso fragmentado, cuja con-
tinuidade, mesmo no mais simples filme
narrativo, € produto de uma sintese da nossa
consciéncia. Portanto, nos dois niveis, o que
0 cinema demonstra ¢ a convencionalidade
deste mundo integrado ¢ “sem vazios” que
julgamos habitar. O espaco-tempo de Eps-
tein é cheio de curvas ¢ a temporalidade se
descnvolve segundo diferentes trajetos locais;
o presente, cada instante, nao é senao o lu-
gar de uma concorréncia (celebrada no cine-
ma pela montagem ou pela superposicio de
imagens). A identidade do objeto ou da pes-
soa que vemos na tela € relativas vemos sem-
pre particularidades. A experiéncia cinema-
togréfica mostra que a unidade do espago ¢
uma ficco em nossa cabeca, E 0 principio
de causalidade deixa de nos aparecer como
algo inerente & natureza. © cinema é uma
reeducacao pelo absurdo. Principalmente
quando 0 cineasta sabe organizar o material
de modo a produzir uma ficgdo magica ca-
paz de deflagrar a experiéncia reveladora. Para
tal, cle deve seguir a “inteligéncia do préprio
cinema”, desta miquina de sonhos, que nos
demonstra a relatividade de tudo e a equiva-
Iéncia das varias formas possiveis.
O procedimento fundamental capaz de
coroar 0 proceso de revelacéo, promovido
pela inteligéncia da cimera, é a alteracéo de
velocidades permitida pela projecéo cinema-
togréfica. E af que se cristaliza a relatividade
da nogio de tempo. Em cimera lenta, so-
mos capazes de acompanhar os minimos
movimentos que compéem uma expressio
facial que cartega uma emogio, ou somos
capazes de estudar os movimentos de ani-
mais ea evolugio de processos naturais, Atra-
vés do registro descontinuo ¢ lento do cres-
cimento de uma planta ou do deslocamento
de um acidente natural, obtemos uma série
de Fotografias que, projetadas em 24 quadros
por segundo, nos revelam a vida ali concen-
trada em seus ritmos caracteristicos fora do
nosso alcance na percepgio comum. Na con-
cepgio de Epstein, no cinema, manipulamos
© tempo, invertemos a diregao dos processos
¢ violamos a segunda lei da termodinamica.
Tudo isto demonstraria como a oposi
cio animadofinanimado € arbitrdtia ¢ pro-
duto dos limites do nosso senso comum, €
como a fixidez da qualidade das coisas € re-
lativa, ao mesmo tempo, deixaria claro todo
© aprendizado que nos espera na necessiria
revisio de nossos referenciais. Se 0 universo
se mostra em sua descontinuidade ese o tem-
lL
‘A VANGUARDA ul
multiplica e se inverte, para Epstein, €
apidpria nogao de eal que se efantag pelo
menos aguela nagto que t2
acravés de longa trajetdria da cultura ociden-
tal. O que nao o impede de se apoiar em
elementos particulares desta tradigao para
coroar sua visio de mundo ¢ seu discurso
sobre o olho “surreal” do cinema, Em seu
inceresse pela teoria da relatividade ¢ em sua
dissolugao das especificidades do mundo
social e humano, Epstein apéia-se numa in-
terpretagio muito particular dos novos te-
sultados da ciéncia, basicamente encami-
nhando-se para a fundamentagdo de uma
nova religidio a partir dos elementos aqui
enumerados. O discurso cincmatografico —
pottico, livre, ancorado numa nova inteli-
géncia inscrita na prépria maquina que ele
utiliza — €0 ponto culminante de uma
liturgia: aquela que define um certo panteis-
mo moderno. Epstein nao apenas nos diz:
“Nao sobra senao um reino: a vida’, Mas
procura nos especificar os fundamentos des-
te mundo desdiferenciado: “Nao sé a vida
esta em toda parte, mas também o instinto €
a inteligéncia e a alma’ (idem, p. 389). E
conclui: ‘A vida & uma esséncia universal,
manifestagéo primordial da existéncia divi-
na. Jé que a mesma vida move todas as apa~
réncias, o mesmo Deus, tinico € uno, consti-
tui o principio imanente de todas as coisas”
(idem, p.390).
Eeeste pantefsmo, associado ao culto da
inteligencia ¢ 4 extrema atengio pelos aspec-
tos quantitatives dos dados sensiveis, cami-
nha em direcio a definigéo de uma certa or
dem oculta dirigida pelos nimeros — a filo-
sofia de Epstein afirma-se como um neopi-
tagorismo. Anticartesiano, ele defende o pri-
mado da imaginacfo, basicamente como for-
ma de experimentar, pela montagem ¢ pelos
enquadramentos cinematogréficos, as varias
ficgGes possiveis, as varias ordens que defini-
iam realidades imagindrias, entre as quais a
do “senso comum”,
O “cinema do diabo” de Epstein ¢ he-
rético e alquimista. Na sua batalha contra 0
naturalismo e o cinema narrativo, a sua ima-
gem ¢ uma transubstanciagio do real e seu
discurso poético € uma reivindicagio pelos
direitos ¢ pela legitimidade de uma visto
magica do mundo,
D. O MODELO ONIRICO
No inicio da década de 1950, Bufiuel
escreve: “O mistétio, o elemento essencial de
qualquer obra de arte, esta em geral ausente
dos filmes. Autores, diretores € produtores,
com sacrificio, conservam nossa paz, deixan-
do hermeticamente fechada a janela que leva
ao mundo liberador da poesia. Preferem fa-
zee a tela refletir temas que poderiam inte-
grar a continuiidade normal de nossa vida
cotidiana, repetir mil vezes o mesmo drama
ou fazet-nos esquecer as duras horas do tra-
balho diario, E tudo isso é naturalmente san-
cionado pela moralidade habitual, governo,
censura internacional ¢ religido, dominados
pelo bom-gosto e enlevados pelo humor in-
sipido e outros imperativos prosaicos da rea-
lidade” (Conferéncia “Cinema: instrumen-
to de poesia’, 1953, publicada no livro Laie
Buftuel de Francisco Aranda).
No mesmo texto, ele cita suas conver-
sas com Zavattini, figura basica do “cinema
112 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
prosaico” que cle mais respeita — 0 cinema
neo-realista. Nesta conversa, Bufiuel explica
a diferenga basica entre o cinema que ele quer,
um cinema poético e aberto para o fantisti-
co, ¢ 0 olhar neo-realista: “Como jantiva-
‘mos juntos, 0 primeiro exemplo que se ofe-
rece a mim foi © do copo de vinho. Para
um neo-tealista, eu disse a cle, um copo é
um copo e nada mais; vocé o ve retirado da
prateleira, cheio com liquido, levado & cozi-
nha onde a empregada o lava ¢ as veres 0
quebra, 0 que resulta no seu retorno ou néo
etc. Mas, este mesmo copo, observado por
seres diferentes, pode ser mil coisas diferen-
tes, porque cada um carrega de afézo 0 que
vé; ninguém vé as coisas como elas sdo, mas
como seus desejos e seu estado de expitito 0
fazem ver. Eu luto por um cinema que me
mostre este tipo de copo, porque este cine-
ma vai me dar uma visio integral da realida-
de, vai alargar meu conhecimento das coisas
€ das pessoas, vai me abrir 0 maravilhoso
mundo do desconhecido, de tudo aquilo que
eu néo encontro nos jornais nem na rua”
(mesma conferéncia)
Quando ele nos fala de uma viséo inte-
gral da realidade, Busiuel esté levando em
conta 0 principio bésico formulado por
Breton desde o primeiro manifesto surrealis-
ta:a transmutagao dos dois estados aparente-
mente contraditérios, sonho ¢ realidade,
numa espécie de realidade absoluta, de
surrealidade. E é0 préprio Bufuel quem cita
Breton, na sua sintética formula, propondo a
dissolugdo da diferenga entre o real ¢ 0 fantés-
tico prépria ao senso comum: “O que é mais
admirdvel no fantastico é que ele nao existe,
tudo é real” (Breton citado por Bufiucl).
Em 1924, no mesmo ano em que Fran-
cis Picabia e René Clair realizavam Entr‘acte,
filme que introduz no cinema os dispositivos
de choque ¢ os ataques ds convencoes da boa
arte prdprios a0 comportamento dadaista,
Breton langava o primeiro manifesto surrea-
lista. Se quisermos nele encontrar alguma
referéncia explicita ao cinema, encontramos
apenas uma tinica frase: “O cinema? Viva as
salas escuras!”. E, evidentemente, uma série
de propostas cuja formulacao ditigida ao tra-
balho poético em literatura praticamente
solicita um transplante para o terreno cine-
matogréfico. Isto, em termos de critica, sera
feito por Robert Desnos, o poeta surrealista
que durante toda a década de 1920 batalhou
por um cinema apto a projetar na tela 0
“maravilhoso surrealista”. Como Bufiuel trin-
taanos depois, Denos, em sua coluna critica,
constata uma auséncia: a do cinema livre,
postico ¢ maravilhoso. E 0 filme dadaista de
René Clair € 0 tinico que satisfaz a sensibili-
dade surrealista. O que muito se deve acertas
afinidades de espitito ¢ de atitude entre esses
dois movimentos: a agressdo ao senso comum,
© cultivo do humor aliado & ironia frente as
conyenges burguesas ¢ as regras estéticas
vigentes; em alguns aspectos, o surrealismo,
que “oficialmente” inaugura-se em 1924, é
um desdobramento, numa diregao especifi-
ca do Dadaismo de 1916-1920 — mais cen-
walizado e mais canalizado para o cultivo de
um método do que o anticonformismo anar-
quista ¢ a autofagia dos movimentos Dada.
Posto de lado Enér‘acte, Desnos 96 vé
no cinema a distancia entre as possibilidades
potticas e a pobreza da pritica dominante, a
mesma pobreza que revolta Bufuc! nos anos
lal,
‘A VANGUARDA 113
1950. Desnos nao se envolve nas contendas
que partem da dicotomia entre cinema nar-
rativo-comercial e cinema poético de van-
guarda. Diante da tendéncia naturalista do
Cinema griffithiano, a vanguarda de Dulac e
Epstein esté longe de constituir uma alter-
nativa. Contra o esteticismo da vanguarda,
Desnos propée o cinema autenticamente
liberador, segundo os princfpios sucrealistas:
um cinema de sonho, de aventura, de misté-
rio e de milagres; um cinema que, como
Bufuel exige, incorpore 4 sua imagem a
dimensio do desejo, sem represses.
© fundamental para o surrealismo é 0
rompimento de um circulo: 0 do desejo su-
blimado e inscrito nas convengées culturais
e estéticas de um cinema que cultua a suges-
Go, que usa a montagem como construgao
de um espaco verossimil € 0 corte como re-
pressio da imagem proibida. O cincasta sur-
realista quer atingir 0 maravilhoso, e, pata
tal, precisa lutar contra o cinema que cele-
bra a estabilidade do mundo de frustracoes
cotidianas ou fornece uma experiéncia esca-
pista bem comportada que nada mais fiz se-
nfo aprisionaro espectador no circulo de suas
fantasias. O cineasta surrealista quer denun-
iar a rede de censuras articuladas com a es-
tética do cinema dominante, O filme sur-
realista deve ser um ato liberador ¢ a produ-
do de suas imagens deve obedecer a outros
imperativos que nao os da verossimilhanga e
os do respeito ds regras da percep¢to comum.
Nao bastam as transformages no contetido
das cenas filmadas e a liberacao do gesto
humano que compéem sua narrativa, E pre-
ciso introduzir a ruptura no préprio nivel
da estruturacio das imagens, no nivel da
construcdo do espago, quebrando a tranqiii-
lidade do olhar submisso as regras.
Em sua defesa da montagem que obe-
dece aos imperativos tinicos da imaginacao,
a proposta surrealista implica numa agres-
sao direta as convengées da decupagem clis-
sica, Em vez de caminhar em diregéo a uma
iluséo de continuidade, a montagem cria uma
cadeia associativa de imagens que frustra as
expectativas de quem espera uma narracio
trivial com referéncias de espago ¢ tempo cla-
tas. Os letreitos de Un chien andalow (1929)
sugerem uma cronologia; as imagens negam
tal informagao, cuja presenga torna-se iréni-
ca, A descontinuidade e 0 non-sense instau-
ram-se na sucessio de gestos ¢ cenas articu-
lados em diferentes espagos. Cada plano é
lugar de uma nova definigao dos clementos
em jogo: um objeto que nao estava ali no
plano anterior, tranqiiilamente aparece no
plano seguince; um gesto que se inicia num
quarto de apartamento em Paris completa-
se rigorosamente num jardim distantes 0 es-
aco ¢o tempo transformam-se em “ocasiio”
de eventos controlados por uma insténcia que
se recusa a obedecer as limiagdes impostas
pelo “princtpio de realidade” (Freud).
Tal como na “escrita automatica” pro-
posta por Breton no manifesto de 1924, 0
princfpio da “associagao livre” instala-se na
confeccio da montagem cinematogréfica. E,
tal como na experiéncia de Breton e Philippe
Soupault no plano literério, Buftuel e Salva-
dor Dali compéem conjuntamente o tecido
de ocorréncias de Un chien andalou, fazendo
questo de explicitar o critétio de combina-
io das imagens: “O produtor-diretor do fil-
me, Bufiuel, escreveu o (roteiro) em colabo-
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- 1 PDF Olhar Periférico (LUCRÉCIA FERRARA)Document14 pages1 PDF Olhar Periférico (LUCRÉCIA FERRARA)Erick MuntzNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- 2021 LUCRÉCIA FERRARA - A Epistemologia Da DiferençaDocument17 pages2021 LUCRÉCIA FERRARA - A Epistemologia Da DiferençaErick MuntzNo ratings yet
- Da Vanguarda Europeia Às Primeiras Manipulações Digitais Da ImagemDocument58 pagesDa Vanguarda Europeia Às Primeiras Manipulações Digitais Da ImagemErick MuntzNo ratings yet
- Contexto AfricanoDocument11 pagesContexto AfricanoErick MuntzNo ratings yet
- Cinema AsiaticoDocument2 pagesCinema AsiaticoErick MuntzNo ratings yet
- Nouvelle VagueDocument8 pagesNouvelle VagueErick MuntzNo ratings yet
- Hieronymus BoschDocument109 pagesHieronymus BoschErick MuntzNo ratings yet
- O Storytelling e Transtorytelling Como Fenômeno MultimidiáticoDocument16 pagesO Storytelling e Transtorytelling Como Fenômeno MultimidiáticoErick MuntzNo ratings yet