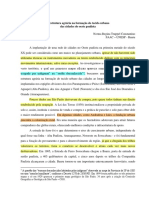Professional Documents
Culture Documents
A Caic (Carneiro, Honório de Souza)
A Caic (Carneiro, Honório de Souza)
Uploaded by
VitorStafusa0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views177 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views177 pagesA Caic (Carneiro, Honório de Souza)
A Caic (Carneiro, Honório de Souza)
Uploaded by
VitorStafusaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 177
HONORIO DE SOUZA CARNEIRO
CALG
(COMPANHIA DE AGRICULTURA, IMIGRACAO E COLONIZACKO: 1928-1961)
SKO_PAULO
85
DISSERTACAO DE MESTRADO apre-
sentada @ Fundacdo Escola de
Sociologia e Politica de Sao
Paulo, para obtencao do titu-
lo de MESTRE EM HISTORIA.
BIBLIOTECA
AGRADECIMENTOS ©. 0 ee ee ee ee ee
ABREVIATURAS » 6 6 0 se et et ee
IntROvUGAO
1. Definigdo e Delimitagdo do Tema... -..- 2...
2. A Expansdo Capitalista no Brasil e Algumas de suas
ImplicacoeS - ee te ee
3. A Companhia de Agricultura, Imigracdo e Colonizagao
CAPITULO I
© FAZENDEIRO DE CAFE E A FXPANSAO CAPITALISTA NO BRASIL
1. 0 Capitalismo no Brasil: Alguns Antecedentes .. .
2. 0 Fazendeiro do Café: Século XIX... -.-- 1 ee
3. As Relagées Capitalistas de Producdo no "Oeste Pau-
eta
CAPITULO II
© FAZENDBIRO DE CAFE EB A CRISE DE 29.........
1. Antecedentes: Diversificacdo das Atividades Econé-
micas se et te te ee ee
2. 0 Fazendeiro e o Estado: Valorizacdes .......
3. Defesa Epsédica dos Precos do Café ..-.-...
4, Defesa Permanente e Crise Final. ....-....
5. A Crise: Reacdes, Repercussdes e Novas Alternativas
CAPITULO IIT
‘A CAIC: OPCAO CAPITALISTA ALTERNATIVA, NUM MOMENTO DE
CRISE . we ee te ee
We Antecedentes, 6) 0 Gg ee ee
2. As Origens: Razées Iniciais e Relacdes com a Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro .-- +++ +
3. Da Companhia Geral de Imigracdo e Colonizagdo do
Brasil a Companhia de Agricultura, Imigracdo e
Colonizacao: Organizacao e Objetivos -- +--+. -
4. A CAIC: Propriedade e
Suas Realizacdes: Pequena
licultura . 2. ee ee ee
4.1- Acdo
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
no
no
ne
no
ng
Planos Imobiliario
e
Colonizador
PAGINAS
Ii
Iv
16
31
31
35
39
42
47
53
53
56
67
88
88
92
94
96
97
99
Tr
CONT. - PAGINAS
Quadro 19 0 100
Quadro 08 ee ee 107
Quadro n2 Be ee 108
4.2- Acdo no Plano Imigratério .......... 110
4.3- Ac&o nos Planos Bancério e Industrial .... 113
5. Resultados Financeiros do Empreendimento .... . 119
GONCLUSAO 6 ee ee ee ee ee 124
BIBLIOGRAPIA . 5 + 2 set et tt ee ee et eee 130
ANEXOS . 6 eee ee ee ee eee ee + de 135 a 172
ILA
DED ChAT 0 Rel AS
Para
A familia unida é fator decisivo para qualquer
empreendimento, sobretudo quando séo grandes
os obstaculos a vencer.
Ao
Meu Pai, que embora desconhecendo o presente trabalho
foi o principal fator para sua concretizacao-
AGRADECIMENTOS
Ao
JOSE ENIO CASALECHI: Muito mais um
amigo que um orientador.
K
UNIVERSIDADE FEDERAL DE NATO GROSSO
DO SUL: Trabalhando nela, este tra
palho se tornou viavel.
Ao
FENELON, HERMES E DERMEVAL: Pelos
trabalhos de datilografia, contabi
lidade e quadros.
Ao
Ovidio de Freitas, pela datilogra
fia final.
-III-
-IV-
it
ABREVIATURAS
C.A.1.C.
Companhia de Agricultura, Imigracdo e Colonizacao.
C.G.1.C.B.
Companhia Geral de Imigracdo e Colonizacao do Brasil
C.P.E.F.
Companhia Paulista de Estradas de Ferro
A.G.0.
- Assembléia Geral Ordindria = -
A.G.E.
Assembléia Geral Extraordinaria
D.O.E.
- Didrio Oficial do Estado (Sao Paulo)
-V-
(QIUPAIDIR:OIS| 2 E, ANIENIOlS)
QuaDROS.
1- Demonstracdo das Areas de Terras das Fazendas da CAIC,
em 31/12/1936.
2- Demonstracdo do Custo das Fazendas da CAIC.
3- Demonstracdo das Areas de Terras das Fazendas da CAIC,
em 31/12/1940.
4- Demonstracdo das Areas de Terras das Fazendas Loteadas
pela CAIC, em 31/12/1945.
S- Demonstracéo das Areas de Terras Loteadas pela CAIC, em
31/12/1950.
6- Relacdo das Areas Totais de Terras Loteadas pela CAIC,
até 1957, 1958, 1959 e 1960, com Discriminacdo dos Acrés
cimos Anuais e do Numero de Propriedades Vendidas.
7- Demonstracao das Areas de Terras Loteadas pela CAIC, em
31/12/1955. (Abrange todas as fazendas loteadas).
8- Demonstrativo de 10 (dez) Municipios onde houve a atua-
cao da CAIC, com indicacao de dez produtos agropecuarios,
€ as respectivas producoes em 1950 e 1960.
ANEXOS.
1- Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Informacées Pre:
tadas pela Diretoria a Pedido de um Grupo de Srs. Acio=
nistas, Sao Paulo, 1947.
2- Programma da Companhia Geral de Immigracdo e Colonizacao
do Brasil, Sao Paulo, Sociedade Impressora Paulista, 1929,
3. Acta da Assembléia Geral Extraordinaria da Cia. Geral de
Immigracdo e Colonizacao do Brasil, e fundacdo da CAIC,
4- Carta do Presidente da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro ao Presidente do Banco do Estado de Sao Paulo, 1934,
$- Carta de um Diretor da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro a um amigo na Europa, ano de 1934.
INTRODUCAO
1. DEFINIGAO E DELIMITACGAO DO TEMA.
A Companhia de Agricultura, Imigracdo e Colonizacao
— CAIC = surgiu em 1934+, no bojo da Crise de 1929. Nasceu da
reorganizacéo de uma empresa anterior’, do mesmo género, cria
da em 1928, mas cujo desempenho foi pouco expressivo e muito
prejudicado pelo advento da Grande Crise iniciada em outubro
de 1929.
Quando se analisa a CAIC nas suas origens, o primei
ro aspecto que chama a atenco é 0 fato da mesma ter sido oriun
da da acdo de latifundidrios“do café>, mas destinando-se a im
plementacdo da pequena propriedade e da policultura. 0 fato
chega a parecer contraditério, muito embora a aidlise feita
possibilite uma conclusao bem diversa.
Em funcdo de ter surgido em pleno desdobramento da
Grande Crise capitalista dos anos trinta, a andlise da Compa-
nhia precisou remontar a um passado um pouco distante, atra-
vés do qual se buscou acompanhar o desenvolvimento capitalis-
ta no Brasil, em éspecial o papel do seu agente mais destaca-
do, 0 fazendeiro, que, no fundo, foi o criador da empresa es-
tudada.
Desse modo as explicacées necessdrias ao encadeamen
(1) CAIC, Relatérios n@s 1, 2 e 3 da Dixectoria da Companhia
Agricultura, Immigracdo e Colonizacéo, Assembléia Geral de
23/03/1935, Sdo Paulo, Empreza Graphica da “Revista dos Tri
bunaes", p. 3; "passando a denominar-se, dessa data em dian
te, Companhia de Agricultura, Immigracdo e Colonizacao",—
(2) Programa da Companhia Geral de Immigracéo e¢ Colonizacio
do Brasil, Sao Paulo, Sociedade Impressora Paulista, 1929,
p. 26.
Paulista de Estradas de Ferro ,
IC foi organizada pela Companhia
eae amerente cers taaa (cee cepica sa or union aorcates
sabidamente controlada por capitais
-2-
to do processo de andlise sdo buscadas desde um passado um pou
co recuado, até o deflagar da Crise de 29, suas conseqUéncias,
o nascimento da CAIC, sua estruturacdo geral, e parte de sua
acdo.
A empresa em questdo existe até os dias atuais, sen
do ligada ao Governo Paulista. No entanto seu enfoque no tra-
balho dura até meados de 1961, quando ela foi encampada pelo
poder piblico estadual, juntamente com a Companhia Paulista de
Estradas de Ferro’, da qual foi subsidiaria.
Apesar desse espaco de tempo, 1929 a 1961, a pesqui
sa ndo detalha o perfodo todo. A razdo disso @ que o trabalho
foi centrado no estudo da CAIC como opcdo de investimento ca-
pitalista, em meio a uma grande crise desse sistema. 0 alcan-
ce dos objetivos tracados, que constitui a principal meta do
trabalho, se consubstanciou a curto e médio prazos, antes mes
mo de 1961. Essa data se justifica, porém, por se tratar de um
marco muito importante na vida da empresa tal seja sua trans-
formacio de Companhia privada para empresa piblica.
Na medida em que a companhia tinha sucesso nos seus
empreendimentos, € a Grande Crise ia sendo superada, a sua po
1itica foi sendo mudada. Mesmo assim seu objetivo mais impor-
tante, embora ndo explicito na sua criacdo e organizacao, fo-
ra cumprido. E tratava-se de algo eminentemente capitalista.
Uma opcdo de -investimento, que deu bons resultados, em meio a
uma crise de dimensées profundas.
0 estudo, portanto, acompanha a acdo da Companhia,
antecedido de uma andlise, ainda que nao aprofundada, do de-
(4) Decreto n@ 35.548, de 19 de junho de 1961, publicado no
D.O.E. (Sao Paulo), de 3/6/1961, P+ 1+
-3-
senvolvimento capitalista no Brasil, centrada na figura do fa
zendeiro de café.
A EXPANSAO CAPITALISTA NO BRASIL E ALGUMAS DE SUAS IMPLI-
CAGOES.
Tem sido muito comum entre nés a afirmacdo de que
nascemos como colénia de Portugal, sob a égide do Capitalismo
Comercial, com as implicagées dai decorrentes: Pacto Colonial,
Mercantilismo e Monopélio Comercial®. Referido Processo e sua
conseqUente evolucdo, tiveram um longo curso entre nés, sé se
concluindo a partir de meados do século passado, conforme tem
sido demonstrado, e, sera aqui~relembrado.
Dentro desse enfoque a questao ainda controversa so
bre nossa caracterizacao passada envolvendo feudalismo e capi
talismo, no tocante as reiacées de producio®, sera objeto de
algumas consideracdes gerais, importantes para o equacionamen
to do tema desenvolvido. Com énfase serdo lembrados alguns mo
mentos da nossa evolucdo econémica, social e politica, e ne-
les colocada e analisada a aco dos fazendeiros, com amplo des
taque para aqueles tigados ao café.
Essa aco, sempre como classe dominante, foi cons-
tante e se fez presente até o final da década dos anos vinte,
do século em curso. Ela ocorreu em todo o Periodo Colonial, a-
qui entendido o espaco de tempo anterior 4 Independéncia Poli
tica (1822); ela comandou a mesma emancipacdo, alias defenden
(5) Consultar a esse respeito, entre outros, Fernando A, No-
vais, 0 Brasil nos Quadros do Antigo Sistema Colonial, in
Brasil em Perspectiva (org. Carlos Guilherme Mota), DIFEL
Sio Paulo, 1971. >
(6) Ver a_esse respeito, entre outros, José Roberto 4
(Org-), Modos de Producdo e Realidade Brasileirg
lis, Rio de Janeiro, Vozes, 1980. ,
Lapa
Petrépo-
Paulista na outra, bem como valoriza e elogia suas atividades,
de grande beneficio para a ferrovia. 0 documento em questao é
uma resposta da Diretoria da CPEF, a uma interpelacdo feita por
um grupo de acionistas da empresa sobre as congéneres, subsi-
didrias, coligadas ou dependentes da Companhia Paulista, entre
as quais a CAIC’.
‘A empresa atuou em todo 0 Estado de Sdo Paulo, e fo
ra dele, nas zonas "velhas", do café, e na Frente Pioneira do
Oeste: comprando, loteando, agenciando e colonizando. De ini-
cio a CAIC manteve contactos e negécios com o Banco do Estado
de Sdo Paulo (Banespa), que mantinha sob hipoteca, algumas de
zenas de fazendas falidas edecadentes das zonas velhas, em de
corréncia da crise de 29. Varias dessas fazendas foram adqui-
ridas e loteadas pela empresa. SO mais tarde ela decidiusse pe
eranitributarias: Foi o caso, BANaNEXEHpINEiCanyldaqAlcamara:
surpiraw da/aco da CAIC, Nesse particular, e quando necessa-
— rio, serd usado como exemplo BUCTdSdSNaeNSAHEAMPENAONSHT © a1_
gumas dela vizinhas e dependentes, [Sndelalacdoqdamempresayeoi
(7) Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Informagdes Presta
das pela Diretoria a pedido de um Grupo de Actonistas, Sio
Paulo, 1947, Anexo n@ 1.
(8) Escritura de Compra e Venda da Gleba Paget, 239 Tabeliona—
to de Notas, livro n? 34, fls. 5-
—Shubinéia e Santana da Ponte Pensa’.
Em sintese a pesquisa abrange trés partes distintas
além da presente introducdo, e da conclusdo: a acdo do fazen-
deiro de café dentro do quadro do desenvolvimento capitalista
brasileiro, até a Grande Crise, com destaque para o seu agen-
te principal, o fazendeiro de café; 0 mesmo agente em face da
crise e seus desdobramentos, e a CAIC como opgao de investi-
mento, naquele momento de grandes dificuldades, mas quando um
espirito capitalista bem nitido, era uma realidade indiscuti-
vel, especialmente em So Paulo. Esse comportamento porém nao
foi obra daquele momento. Ele veio se formando e ampliando ao
longo do tempo.
(9) Santa Fé do Sul é 0 atual ponto final da antiga Estrada de
Ferro Araraquara, sede de comarca, limitada pelos rios Gran—
de, Parana e Ponte Pensa, bem no Noroeste do Estado.
CAPITULO I
© FAZENDEIRO DE CAFE E A EXPANSAO CAPITALISTA NO BRASIL
Como o tema em estudo diz respeito a uma empresa ca-
pitalista, e dentro dela a acdo do fazendeiro, necessério se
torna uma volta ao passado visando acompanhar a acdo desse a-
gente ao longo do tempo, sem o que ndo ficaria bem claro a ori
gem da CAIC.
Afinal de contas tivemos a acdo de fazendeiros no
Brasil, desde o inicio da nossa formacao. E verdade que o ter
no fazenda € relativamente recente em nossa evolucdo, mas, mes
mo com denominagées e caracteristicas diferentes, os concei-
tos se assemelham no essencial’.
Ao se falar em fazenda e fazendeiros, emerge o pro-
biema das relacgdes de producdo capitalistas entre nds, cuja
andlise concorre, de forma significativa, para 0 entendimento
do tema a ser desenvolvido.
1. 0 CAPITALISMO WO BRASIL: ALGUNS ANTECEDENTES
Nossa formagdo a partir do inicio do século XVI coin
cidiu com a transicdo mundial do feudalismo a0 capitalismo.
Tal ocorréncia evidentemente plasmou nossas caracteristicas ao
longo do tempo, muito embora ainda existam controvérsias so-
bre nossa caracterizacdo colonial, capitalista ou nao. Nesmo
em meados do século XIX, 0 problema ainda se coloca. Os auto~
(1) A esse respeito consultar José de Souza Martins, 0 Cati—
veiro da Terra, 22 edicdo, Sao Paulo, Editora Ciéncias Hu-
manas, 1981, pp. 23 e 24, A certa altura diz o autor que
fazenda: "significava o conjunte dos bens, a riqueza acu~
mulada; significava sobretudo os bens produzidos pelo tra—
balho personificado no escravo".
res se dividem a esse respeito, muito embora haja um consenso
no sentido da existéncia de praticas capitalistas, desde mui-
to cedo, mas sem a predominancia de relacées capitalistas ge-
nuinas’.
No plano mundial, apesar da denominacdo consagrada
de Capitalismo Comercial, as condicdes nado eram muito diver-
sas do Brasil. Sdo corretas, por exemplo, afirmacdes taxati-
vas, como a de Amaral Lapa, segundo a qual em meados do sécu-
lo XIX, capitalismo de verdade, s6 ocorria na Inglaterra, sen
do que no resto do mundo, o que havia eram formas pré-capita-
listas de producdo, que demorariam ainda um longo tempo para
serem superadas.
Desse modo, para 0 objetivo perseguido neste traba-
iho, 0 ponto de partida para as consideracdes sobre a acdo do
fazendeiro como agente capitalista de nosso processo de desen
volvimento, deve se situar a partir da metade do século passa
do, ou mesmo um pouco antes, quando comeca a ganhar énfase a
cultura do café.
Quanto ao passado mais remoto, e nele as questées ja
lembradas da passagem do feudalismo ao capitalismo, e do es-
cravismo, convergindo para a caracterizacao capitalista ou nao
da nossa longa fase colonial, fogem aos limites do presente
trabalho, cuja esséncia é, como ja foi afirmado, a atuac&o do
fazendeiro, dentro do desenvolvimento capitalista brasileiro.
(2) Sobre o assunto consultar, José de Souza Martins, ob.cit.,
e José Roberto do Amaral Lapa (org-), Modos de Produedo e
Realidade Brasileira, Petrépolis, Vozes, 1980, entre outros,
(3) Nesse sentido consultar a obra anteriormente citada de Ama
ral Lapa, especificamente as paginas 17 e 18. 0 mesmo f.
la, por exemplo, em capitalismo que chegou mais ou menos
tardio, ou, "um capitalismo debilitado que nao consegue re
mover a sobrevivéncia ou insercdo de padrées que gberram
do sistema".
9-
Sobre o passado colonial, sao suficientes a lembran
ga de figuras como o Senhor de Engenhos, 0 Senhor de Lavras e
os Criadores de Gado, como exemplos tipicos, ou réplicas, do
agente estudado. Registrar também que tivemos o predominio ab
soluto da escraviddo como base do sistema, e com ela, e sobre
tudo em conseqlléncia dela, a precariedade de um mercado inter
no de consumo. Tais caracteristicas certamente interessam ao
presente estudo, mas a permanéncia ou evolucao das mesmas até
meados do século passado, permite que sejam consideradas com
maiores detalhes a partir daquele momento. Um bom ntimero de au
tores? tratou e continua tratando do processo citado, com and
lises e definicdes a respeito da, questao, cuja amplitude e 1i
mites tém crescido com o passar dos anos. Em geral, porém, fi
ca claro, que formas capitalistas de producdo mais aprimora-
das, sd comecam a se manifestar com o advento do trabalho 1i-
vre, que, aos poucos, liquidaraé com o escravismo. Florestan Fer
nandes deixa claro que “sem a universalizacdéo do trabalho as-
salariado e a expansdo da ordem social competitiva"®, nao se-
yia vidvel uma economia de bases capitalistas auténticas.
A conclusdo ‘do presente item ressalta, portanto, as
consideracées da existéncia de prdticas capitalistas desde o
nosso passado mais remoto, tendo o fazendeiro como agente des
A
(4) Sobre essa linha de consideragées poderdo ser consultados
serores como José de Souza Martins, Jacob Gorender, Anto~
ao Barros de Castro, Octavio Ianni, Nelson Werneck Sodra,
aacral Lapa, Sérgio Silva e Florestan Fernandes, cujos pon
erat Ge vista sdo significativos no enfoque dos problemas
Sgontados, e cujas obras serdo registradas a0 longo do tra
balho.
(5) Florestan Fernandes, A Revoluedo Burguesa no Brastl, Rio
je janeiro, Zahar Editores, 1975, p. 20. Esse autor acres—
oe a congideragdes oportunas sobre Burguesia e Burgués,
Gapitalismo e Aristocracia Agraria, e sobre o carater de”
Sendente do nosso capitalismo, no momento analisado.
-10-
tacado das mesmas, e coloca a emergéncia de um capitalismo cres
centemente mais puro, a partir da metade do século XIX, ou mes
mo da expansdo da agricultura cafeeira, cuja ocorréncia pode
ser um pouco recuada no tempo.
2. 0 FAZENDEIRO DO CAFE: SECULO XIX
0 alvorecer do século XIX coincide com nossa eman-.
cipagdo politica, cujo ponto de partida foi a Abertura dos Por
tos, em janeiro de 1808. No perfodo anterior, agricultores,
criadores e mineradores cobriram 0 universo da atividade pro-
dutiva, com atuacdes cujos limites, superacées, relacdes ou
acomodacdes se ligam com 0 advento do café, que acabara se so
brepondo a todas as atividades anteriores, por todo o espaco
de tempo que interessa ao presente trabalho.
Desse modo 0 Fazendeiro de café sera o elemento mais
importante para 0 que se pretende nesta pesquisa, tanto o do
vale do Paraiba (S40 Paulo e Rio de Janeiro), como aquele do
Oeste Paulista, este Gltimo muito mais importante que o pri-
meiro, por razdes que serao analisadas em diversos momentos da
dissertacdo.
£ oportuno registrar que ao alcancarmos a emancipa-
cdo politica, a mesma certamente influiu em nossa evolucao eco
némica, muito embora ndo tenha concorrido para transformacées
sensiveis nas relacdes de producdo que prevaleciam no Brasil,
ao iniciar o século passado®.
(6) Florestan Fernandes afirma que "As estruturas econdmicas,
sociais e politicas, herdadas do mundo colonial, interfe~
riram sobre os dinamismos do mercado mundial, tolhendo ou
selecionando os seus efeitos positivos e restringindo
seu impacto construtivo sobre o crescimento econdmico in-
terno", ob. cit., p. 151. Para Emilia.V. da Costa, Da Mo~
narquia @ Republica Momentos Dectsivos, 3% Edicdo, Edito~
ize
cria as condicées de expansdo de uma burguesia ligada ao alto
comércio, mas ainda pouco consistente. Mesmo assim, nos seg-
mentos urbanos ela serd anti-escravista, e, com o tempo, mais
o café e uma parcela dinamica dos fazendeiros, acabard supe-
rando o escravismo, maior obstaculo que se antepunha as rela-
des capitalistas plenas.
Dentro do esquema tracado para este trabalho, o que
interessa mais de perto é a evidéncia de que, coincidindo com
a emergéncia do Estado Nacional, a rapida expansdo da agricul
tura cafeeira concorrera para mudancas_notaveis na situacio e-
conémica interna e externa do pais, com reflexos marcantes no
comportamento do agente lider do processo, tal seja o fazen-
deiro.
Ele continuard agindo em funcdo do trabalho escravo,
e se apegando ao mesmo; mas as forcas dindmicas do capitalis-
mo, que ampliavam suas influéncias, tanto no plano externo co
mo no interno, acabariam prevalecendo principalmente na medi-
da em que se expandia a lavoura cafeeira, e com ela outras a-
tividades econdmicas, sobretudo as de natureza urbana.
© fazendeiro continuou comandando 0 processo e se a-
moldando ao mesmo. Quando o trafico negreiro se encerrou, 1i-
berando capitais que nele eram investidos, soube aproveitar no
vas opgdes de investimentos que surgiram. Foi o que se deu em
funcdo da acdo pioneira de Maud, que ndo teria acontecido nao
fossem os capitais citados, juntamente com outros que certa-
mente ja estavam se acumulando.
Outra ndo foi a situacao quando o sistema de trans-
(8) Sobre esse assunto consultar Jacob Gorender, A Burguésia
Brasileira 42 edicéo. Séo Paulo, Editora Brasiliense,1985,
p. 13.
-13-
porte do café se mostrou incompativel com a expansao dos cafe
zais para o interior mais distante. Neste particular nao exis
tem davidas quanto @ ampla participacdo do capital oriundo do
café. Sobre essa questao Wilson Cano afirma com objetividade:
‘Além de outros os fazendeiros de café foram os grandes orga-
nizadores e investidores da maior parte das ferrovias paulis-
tas, e, principaimente da Mojiana e Paulista 9.
Outro momento importante da atuacdo do fazendeiro
foi quando do primeiro impacto da questdo da mao-de-obra para
o café, ao se desenhar o fim da escraviddo negra. Era o ini-
cio do problema do trabalho livre que substituiria a mdo-de-
obra cativa, pela via do jmigrante europeu, e mais tarde do
trabalhador nacional.
A parceria foi a primeira experiéncia nesse particu-
lar. Ela ndo teve éxito, mas a imigracdo sim, na medida em que
os fazendeiros souberam evoluir para formas mais eficientes de
relacionamento com os imigrantes, seja diretamente, seja atra
yés do poder pablico, por eles controlado. E as novas formas
jam ganhando, sempre e cada vez mais, os matizes capitalistas,
Ainda com relacdo 4 implantacao do trabalho livre en
tre nés, € oportuno registrar a andlise a esse respeito feita
por José de Souza Martins, que relaciona também o problema da
a
(9) A afirmacdo é de Wilson Cano, Ratzes da Concentragdo In—
dustrial Em SGo Paulo, Sao Paulo, DIFEL, 1957, p.52. Con-
celta, também Flavio A.M.Saes, As Ferrovias de Sao Paulo
1870-1940, NUCITEC/INL-MEC, 1981, pp.152 a 170; Fernando
Henrique Cardoso, Condigdes Soctats da Industrialtzacao de
So Paulo, Revista Brasiliense, n@ 28, 1960, p.30 e José Ro
berto do Amaral Lapa, A Economta Cafeetra, Sao Paulo, Edi-~
tora Brasiliense, 1983, pp-90 a 94. Ver especialmente oo
primeiro deles, 6 qual indica trés detalhes objetivos que
hostram a pujanca da participacdo do capital cafecizo na
Toneretizapge do nosso Sistema Ferrovidrio, principalmen—
te 0 caso da CPEF.
-14-
Lei de Terras de 1850, coincidentemente concretizada no mesmo
ano do fechamento do trafico negreiro. Nesse momento o fazen-
deiro soube compreender a perspectiva evidente da abolicdo da
escraviddo, e tratou de criar condicées para que a terra subs
tituisse o escravo, como garantia dos seus negécios hipoteca-
rios. A lei citada teve como principal objetivo, a valoriza-
cdo das terras. Parece que o fazendeiro se viu forcado as re-
lacées capitalistas e atos que garantissem as mesmas. Apesar
disso reagiu com precisdo, ligando a questdo da propriedade da
terra com o advento do trabalho livre sob a forma de parceria,
niicleos coloniais ou 0 colonato pura e simplemente!?.
De um modo geral, ag,lado da afirmacdo das relacées
capitalistas de produgao, vai se afirmando e consolidando, tam
bém, a Burguesia Cafeeira, e conseqlentemente o capital cafe-
eiro. Na opinido de Sergio Silva, os principais 1ideres da gran
de expansdo e das mudancas que ocorrem, ndo eram sé os planta
dores de café. Eram também os compradores, os intermedigrios e
os nascentes banqueiros, muito embora todos eles possuindo in
timas relacdes com o meio agrario, inclusive no tocante as suas
origens'!. -
Quando as mudancas avancam, as novas formas de rela
cionamento econémico, em particular a economia mercantil es-
(40) Quanto A Lei de Terras, Souza Martins, define a mesma da
Seguinte maneira:- "A impossibilidade de ocupacdo sem pa
gamento das terras devolutas, recriava as condicées de su
geicdo do trabalho que desapareciam com o fim do cativei=
ro, Mas, nao resolvia outro problema que preocupava o fa—
zendeiro em igual extensdo: uma nova garantia para o cré-
dito hipotecario, base do capital de terceiros necessario
& manutencao e expansdo de seus negocios".
(1) Sergio silva, Bxpansdo Cafeeira e Origens da Indistria no
Brasil, Sao Paulo, Editora Alfa-Omega, 1976, p. 58. E-ine
Portante lembrar, nesse particular, a figura do comissa
rio de café, tratada por esse © outros’ autores,
eis
cravista e cafeeira tenderd para a crise, que Jodo M.C. Mello
localiza nos Gltimos anos da década dos anos sessenta, justa-
mente quando as ferrovias, as maquinas de beneficiamento de ca
f€ e o trabalho livre, revelavam de forma muito clara que o
12
pais entrava em uma nova fase de sua evolugado econémica
© conjunto das transformacées que se operam e paula
tinamente se aprofundam, nos colocam diante de um mundo de no
vas relacées e novo dinamismo, que tem o café, a grande lavou
ra e 0 fazendeiro como seus elementos destacados. Florestan
Fernandes registra a projecio do agente em estudo em direcao
4 cidade e ao meio politico cada vez mais dinamico e complexo,
ao passo que Souza Martins defime 0 novo capitalismo, como ge
rado por relacdes nao capitalistas de producdo. Embora Flores
tan Fernandes fale de uma possivel revolucado urbana, as trans
13
formacdes ndo deixam de sér lentas e descontinuas
Um novo rol de acgdes e comportamentos caracteriza o
espirito burgués que a todos seduz sendo que a mola propulso-
ra de todo o processo de mudancas que entdo se operam gira em tor
no da economia cafeeira, que se instalara entre nds a partir
do Estado do Rio de Janeiro, tendo o Vale do Paraiba como seu
principal cendrio. Mas, o espirito capitalista em andlise se
instalard de forma mais profunda em terras paulistas do "Oes-
te", tanto do’ "velho" como o “novo”, que sero também as re-
(12) Consultar sobre o assunto, Joao M.C.de Mello. Capitalis-
mo Tardio, Campinas, UNICAMP, mimeog., 1975, p. 23.
(13) A esse respeito consultar Florestan Fernandes, ob. cit.,
pp.224-226; José César Gnaccarini, Latifundio e Proleta-
riado, S40 Paulo, Editora Polis, 1980, p.27. Sobre a len-
tiddo e descontinuidade das mudancas océrridas,Pierre Mon-
beig, citado por Gnaccarini afirma o seguinte: "ndo se po
deria esperar do dia para a noite, a transformacdo do mo-
do de pensar e de agir de uma sociedade que em, suma nao
sofrera profundas modificacdes depois de sua instituicao
ao livrar-se de um Portugal Medieval".
"164
gides de atuacdo da CAIC. Pouco a pouco as relacées de produ-
ao ganham caracteristicas marcantes de praticas capitalistas
genuinas, e um nivel de complexidade e variacdes cada vez maio
res. Chegar-se-4 inclusive a um processo de industrializacao
profundo e dindmico, que refletira o exercicio daquele espiri
to, também empresarial, com o qual se identificara a empresa
ora analisada!’.
3. AS RELAGOES CAPITALISTAS DE PRODUGAO WO "OESTE PAULISTA"
0 presente item aborda a concretizacao das relacdes
capitalistas de producdo na economia cafeeira, com énfase pa-
ra o Estado de So Paulo, e nele o chamado "Oeste",muito mais
© "novo" que o "velho".
Do ponto de vista cronolégico, ou da evolucdo poli-
tica, 0 perfodo abrangido diz respeito ao final do século pas
sado, aproximadamente o seu Ultimo quartel, e as duas primei-
ras décadas do século em curso. De um modo geral, os analistas
colocam nesse perfodo a plena emergéncia das relacdes citadas,
com destaque para a industrializacdo nacional e 0 conseqlente
capitalismo industria1!®,
Convém insistir que mesmo em se tratando do Oeste
Paulista ndo existe a plenitude das relacdes capitalistas. Em
bora aconteca o capitalismo em processo crescente de aperfei-
(44) A CAIC, conforme ja registrado, nasceu a partir da incor-
poracao de uma empresa anteriormente existente, pela’Com
panhia Paulista de Estradas de Ferro, cujo aparecimento
aconteceu no periodo que acaba de ser analisado.
(15) A esse respeito consultar: Wilson Cano, ob. cit.; Brasi-
lio Sallun Jr., Capitalismo e Cafeicultura, Sic Paulo,
Editora Duas Cidades, 1982; JodoM. C. Mello, ob. cik.;
Warren Dean, A Industrializagdo de Sao Paulo, Sao Paulo,
DIFEL, 1971; e Sérgio Silva, ob cit., entre outros.
-17-
goamento, permanecem formas e atitudes do passado!®,
Fatos marcantes do perfodo, que interessam direta-
mente 4 presente pesquisa, foram: a transicao do escravismo ao
trabalho livre, a Proclamacdo da Repiblica, a montagem do Es-
tado Republicano e a formacdo do "complexo econdmico" do café,
segundo Wilson Cano. Em cada um desses momentos ou situacdes
estar presente, de forma dominante a figura do fazendeiro de
café, numa acdo que, de forma crescente, revela aquele espiri
to empresarial, capitalista e burgués, que desembocara na cri
se de Outubro de 192917.
A andlise assim esquematizada, destacara a aco ca-
pitalista do agente econdmico-em estudo, nos diversos momen-
tos citados, e sob variadas formas, podendo se afirmar que se
ra em funcdo destas atividades que ir@ se consubstanciando a
figura tipica do empresdrio e investidor capitalista que nao
terd dificuldades em equacionar as crises que se sucedem, a
principal das quais a de 1929, oferecendo sempre as solucdes
condizentes, nas diversas oportunidades em que € chamado a in
tervir!®. -
No momento da crise uma das opcées e solucées serd a
empresa em estudo, a Companhia de Agricultura, Imigracio e Co
lonizacao.
Quanto 4 evolucdo da economia cafeeira, especialmen
te seu crescimento conturbado e inadequado, que levard ao co-
ee
(16) Sobre as relacdes capitalistas no "Oeste Paulista", con-
sottar Octgvio Ianni, Origens Agrdrias do Eetado Brasi—
leiro, $i0 Paulo, Editora Brasiliense, 1984, pp.17 e segts.
e Jacob Gorender, ob. cit., pp. 24 e 26.
(17) consultar Emilia Viotti da Costa, ob. cit., p. 211,
(18) Sobre a mesma figura ver Peter Eisenberg, in Lapa, Modos
de Produgao e Realidade Brasileira, ob. cit., p.175, ¢
Fernando Henrique Cardoso, ob. cit., p. 152.
-18-
lapso de 1929, serd tratada num item subseqllente, quando a preo
cupacdo central se fixaré na and@lise do comportamento do fa-
zendeiro diante da Crise.
A agricultura cafeeira alcancou o Centro-Sul pelo
Rio de Janeiro, ja no século XVIII. A area do primeiro grande
explendor do produto foi o Vale do Paraiba, tanto a parte flu
minense como a paulista. Nos dois casos uma producéo inicial
de base escravista, muito embora Séo Paulo adotasse o traba-
lho livre em meados do século XIX.
Até o inicio da década de 1880 Sao Paulo produzia
$ de todo o café brasileiro. Em 1875 esse indice pas
sou para 25% ¢ dez anos mais-tarde atingia 40% da producdo!®.
apenas 16
Amaral Lapa fala da evolucgdo da mesma produg&o, que ultrapas-
sa Minas Gerais em 1881 e Rio de Janeiro em 1889, enquanto o
velho grande centro produtor era superado por Ninas em 1896,
o Espirito Santo em 192879.
Pela citacdo anterior é facil perceber a ascensao e
a decadéncia fluminense. Florestan Fernandes afirma que nessa
comparacdo, e em face do capitalismo, nao havia possibilidade
de éxito do café no Rio de Janeiro, enquanto em So Paulo a
situacdo era totalmente favordvel. A velha regido fluminense
ndo tinha condicées de sair da situacdo de decadéncia. Havia
Ee
(19) 0s percentuais indicados estéo em Wilson Cano, ob. cit.
p. 31. No item 1.2.,"0 Complexo Cafeeiro Escravista ea
$30 Paulo", o autor analisa a expansdo do café do Rio de
janeiro pata Minas, Espirito Santo e Séo Paulo, indican—
do os fatores do sucesso do mesmo em terras paulistas,
(20) A evolugdo das produgdes de café dos trés estados foi ex-
a Eda de José Roberto do Amaral Lapa, A Economia Cafe-
Sika, sio Paulo, Editora Brasiliense, 1983, p. 28. ver do
oiras gutor e obra, pp. 29-30, interessante quadro com.
parative entre as producées cafeeiras no Vale do Paraiba
@ no Velho Oeste Paulista.
-19-
limitagées quanto a quantidade de terras ds altitudes, sem fa
lar na erosdo e exaustao das mesmas.
Pelos mais diversos Angulos em que se analisa aque-
la regido produtora, sempre se chega 4 evidéncia de uma deca~
déncia em marcha ou da incompatibilidade da estrutura escra-
vista em relacdo ao capitalismo que evoluia. Um exemplo é 0 ca
so do maquinaério agricola em comparacao com Sao Paulo. Aqui o
objetivo de seu uso cada vez maior era conseguir maiores 1u-
cros. Ld 0 objetivo era "diminuir prejufzos"?!.
Outro exemplo interessante nos € dado pela expansio
das ferrovias. Como se sabe elas nasceram com uma garantia de
juros por parte do Governo Federal. Em Sao Paulo logo os juros
foram devolvidos (Caso da CPEF), e a garantia dispensada, en-
quanto no estado do Rio as mesmas eram encampadas pelo poder
publico, dada a impossibilidade de pagamento dos mesmos ju-
ros’.
A questdo da mdo-de-obra acabou sendo, no entanto,
© principal motivo da decadéncia final dessa regiado cafeeira.
Ela continuou apegada ao trabalho escravo, ndo conseguiu evo-
luir para a forma mais moderna, além de sofrer as conseqlén-
cias do lento processo da abolicdo, iniciado em 1850.
Assim, apds o cessamento da entrada de africanos, 0
preco do escravo elevou-se muito, tanto aquele que continuow
sendo trazido da Africa, agora clandestinamente (isso ocorreu
até 1856), como aqueles que passavam a vir de outras regides
(21) Wilson Cano oferece mais detalhes a respei A
; . espei
24 a 28, item 1.1.,0 Café no Vale do Paraiba, ob. cit.,pp.
(22) As questdes sobre a garantia de juros pel.
ee os r0-
mos, podem ser encontradas, com detalhes eau eiseces
ob. cit., pp. 151-152. » em Flavio Saes,
-20-
Nesse sentido reduzia-se a disponibilidade de capitais, tanto
para os gastos antigos como para os novos, como a compra de
alimentos. Esta dltima se tornou necessdria pelo fato da mao-
-de-obra, tornando-se cara, ter sido toda ela concentrada so
na produgdo de café, caindo sensivelmente a produgdo de ali-
mentos, como acontecia anteriormente.
Nem os bons precos do café conseguiram segurar a mar
cha decadente. As hipotecas se sucediam e muitas vezes o fa-
zendeiro se via forcado a entregar suas propriedades aos cre-
dores, na impossibilidade de saldé-1as*>. Tudo confluia para
a ndo concretizacéo dos mecanismos que viabilizassem 0 traba-
iho livre e um mercado de consumo, que redundassem na dinami-
zacdo daquela economia. “
Em resumo o Vale do Paraiba (Rio de Janeiro e Sao
Paulo) rapidamente deixa o palco principal da producdo cafeei
ra, cedendo o lugar para o "Oeste Paulista", onde despontava
a figura do "coronel", do "homo ceconomicus tosco", do "homem
apegado ao poder politico para defender sua po-~
24
de negécios"
sicdo social e ampliar seus lucros, "na lavoura ou fora dela"
Em Sao Paulo o principal fator da transformacao ocor
rida foi a adocdo do trabalho livre. Pode-se admitir que logo
no comeco das plantacées paulistas predominava 0 escravo, e
que o mesmo teve sua importancia no século XIX, mas houve um
Wo agente escravista, diante da
do fazendeiro, ndéo raro lhe
us pertences", ob. cit
(23) Wilson Cano registra que
caética situacao financeira
tomava a propriedade agricola e se
p. 26.
(24) Sobre a decadéncia da cafeicultura fluminense, Florestan
Fernandes oferece outros detalhes, como por exemplo,
influgneia das "pressdes do mercado mundial, custos da
producdo agraria que punham em causa o custo ¢ a produti
vidade do trabalho escravo", ob. cit., pp. 109 € segts, —
-21-
momento em que se optou pelo trabalho livre e que se ampliou
o mesmo, consolidando as relacées capitalistas de producdo.
0 fazendeiro paulista do "Oeste" soube compreender
o que estava em jogo, e a compreensdo o levou a adotar o tra-
balho livre, concretizando-se um novo tipo de empresdrio e de
fazenda?>,
Trabalho livre significava a necessidade de impor-
tar bracos da Europa, o que foi facilitado, naquele momento,
pelas condicées internas de alguns paises europeus, onde mul-
tiddes estavam disponiveis, fruto da prépria expansdo capita-
lista, que expulsava os camponeses para as cidades, sem que as
mesmas conseguissem absorver a totalidade da mdo-de-obra que
Reitty os; cannes curopeucee
Desse modo jd entre 1887 e 1900, Sdo Paulo recebe
909.417 imigrantes, do mesmo modo que vai acontecer nos anos
seguintes. Portanto uma imigracdo ampla e continuada, com a
qual sera formada e desenvolvera, na area paulista,aquele mer
cado de trabalho e aquela teia de atividades interrelaciona-
das, que Wilson Cano denominou, com muita propriedade, de "com
plexo econémico do café", cuja marca mais importante foi, sem
divida, o dinamismo.
Estamos por conseguinte, diante de um novo tipo de
enpreendimento, uma nova fazenda, e um novo tipo de agente eco
némico, o fazendeiro paulista. No primeiro caso uma fazenda que
(25) Florestan Fernandes fala de uma fazenda que “deixara de
ver dominio e passara a organizar-se, econdmica e social
como unidade especializada de produgdo agrdria",
ce citando Nelson Werneck Sodré, um fazendeiro que "per-
Sia sua condicéo de senhor, para tornar-se um empresario
capitalista", ob-cit., pp- 109, 269 e 270. :
(26) Mais detalhes sobre esse aspecto ver, Brasilio Sallun Jr.,
ob. cit., pp. 90 € segts.
mente,
-22-
ndo é mais sé fonte de "status" e sim de lucro. Ou ainda, uma
entidade que visava produzir o maximo pelo mais baixo custo””.
Quanto ao novo empresario que surge, @ 0 grande responsavel pe
la consolidacdo do capitalismo brasileiro. Sua acdo néo fica
apenas no plano econémico em si. Ela extrapola para o campo
politico, que sera controlado por ele, que fard do Estado um
instrumento de defesa e protecdo dos seus interesses, particu
larmente aqueles ligados ao café
Quanto ao aparelho de Estado, parece que muito cedo
os cafeicultores descobriram 0 significado e valor do seu con
trole. Desde entdo usaram e abusaram do mesmo. Lapa sintetiza
muito bem essa situacdo ao afirmar que a “oligarquia paulista
e sua vanguarda empreendedora, como setor privilegiado das clas
ses dominantes conseguem desenvolver certas formas de pressao
ou acdo, manipuladoras dos aparelhos do estado, acionando me-
canismos de dominio politico e mandonismo locai"?®.
Quando da Proclamacao da Repiblica, os mesmos conse
guem manipular as coisas de tal maneira, que as estruturas so
cial, econdmica e politica, sejam mantidas em seu favor. O mes
mo pode ser dito da Abolicao e da Imigracdo. Sobre a abolicdo
do cativeiro, Emilia Viotti da Costa fala sobre diferentes rea
des A mesma, com muitos considerando a escraviddo como causa
perdida. Lembra também as novas opcodes de investimentos que se
abriam aos fazendeiros, mas sempre tendo o Estado como supor~
te. Ainda sobre o mesmo assunto Souza Martins conclui de for-
ma objetiva e original: "foi o fazendeiro quem se libertou do
(27) As observagdes sio de Florestan Fernandes, ob. cit
104 e segts. > PP-
(28) José Roberto do Amaral Lapa, ob. cit., p. 32
-23-
escravo e ndo 0 escravo quem se libertou do fazendeiro"?9,
Tudo que era necessdrio ao bom desempenho da econo-
mia cafeeira era feito pelo Aparelho de Estado. Assim a imi-
gracdo foi subsidiada, as ferrovias estimuladas e depois en-
campadas, além de outros fatores. Os precos do café foram pro
tegidos e garantidos: primeiro através do controle cambial, e
depois com a politica de valorizacées. A utilizacdo do Estado
acontecia em todos os planos, do municipal ao central (depois
federal). Bm 1883, por exemplo, Sao Paulo decidiu pagar 100% do
preco das passagens e outros gastos da imigracéo, porém sé pa
ra quem ia para as fazendas de café°°,
Estabelecidas as relacdes de producdo capitalistas
em Sdo Paulo, importa agora destacar otitras formas de acdo do
fazendeiro, além das ja citadas,reveladoras do espirito capi-
talista em processo de ascensao e consolidacdo. As mesmas fo-
ram miltiplas e variadas, o que nado significa que a transicio
do escravismo ao trabalho livre tenha sido facil. Pelo contra
rio, Florestan Fernandes chega a caracterizar a mesma como dra
matica. Um drama que dizia respeito a enfrentar a nova ordem
competitiva que nascia. 0 fazendeiro vai agir em funcdo da no
va ordem, no comego, evidertemente, com resquicios do passado
Por exemplo, & por demais sabido que, quando da adocdo do Sis
tema de Parceria, um dos sérios problemas surgidoS foi ele ten
tar tratar o imigrante como tratava o escravo. Mesmo assim, des
de meados do século passado, temos que admitir com José Enio
Casalechi, que "E como empresdrios capitalistas que agem os
(29) José de Souza Martins, ob. cit.
P. 110, e Emilia Viorti
da Costa, ob. cit., p. 247. @ Viores
(30) Jodo Manoel Cardoso de Mello, ob. cit., p. 83.
-24-
fazendeiros diante dos diferentes problemas que a atividade
propoe">!.
Passando a planos mais especificos da mesma atuacdo,
a mesma fica bem caracterizada na ocupacdo de novas terras ou
no quase monopélio da posse das mesmas, na forma de alocacdo
do trabalho livre, onde prepondera a exploracio, sob a forma
de extracdo da mais-valia, e inclusive a sutileza como a apro
priacdo foi estabelecida.
No caso da ocupacdo de terras, Sergio Silva fala a-
té na disseminacdo de docncas, com a finalidade de desalojar
eventuais ocupantes. Do mesmo modo pode-se lembrar 0 uso do
Apareiho de Estado para facilitagao da legalizacdo das ocupe-
gSes decorrentes dos célebres processos de grilhagem.0 referi
do autor conclui que se "o café encontrava em seu caminho ter
ras que ja eram propriedades", competia aos seus titulares "in
tegrar-se na expansdo cafeeira, ou vender suas terras''3?_
Um outro importante modo de agir era manter o preco
da terra sempre alto, tornando dificil o acesso 4 mesma pelos
colonos. E £4cil concluir que isso acontecia para que a forca
de trabalho ficasse no mercado, para as exigéncias do café°3.
0 desdobramento da situacdo anterior nos coloca dian
te de outra constatacdo. Sabiam os fazendeiros que ante a gran
de expanséo dos plantios, principalmente no final do século
(31) José Enio Casatechi, Da Companhia Industrial, Agné
Pastoril D'deste de’ Sdo Paulo a Cambuhy Coffeo dnd wereos
Estates: 1912-1933, Araraquara, Mimeog., 1973, p. 14.
(32) Sérgio Silva, ob. cit., p. 71.
(33) 0 mesmo autor acima citado afirma que: "se a massa de im
grantes pudesse ter acesso facil & propricdade ae tiene
© capital nao encontraria a forca de trabalho que canes
precisava. 0 preco elevado da terra na regise do cate ve,
flete a apropriacdo da terra pelo capital”, ob. cit., p
72. a
-25-
XIX, ndo seria ‘facil uma plena conciliacdo entre esse cresci-
mento e a alocacao de novos trabalhadores. A disponibilidade
mundial nao atenderia & demanda, além da concorréncia de ou-
tras nagdes, com relacZo 4 absorcdo dessa mao-de-obra, bem co
mo o regresso de imigrantes aos seus paises que era comum e
poderia se tornar um problema naior®*.
Foi em funcdo do quadro acima tracado que se organi
zou o sistema de colonato, que possuindo uma aparéncia de re-
trocesso capitalista, pelo menos num sentido, escondia uma su
til forma de apropriacdo de sobre-trabalho
0 colonato se resumia no pagamento de salario e ren
da, para a formacio e colheita do café. 0 colono tinha o di-
reito ao plantio de cereais entre as fileiras dos cafezais,
uma‘prdtica que, para Wilson Cano, significava "grandes vanta
gens para o fazendeiro e relativas vantagens para os colonos",
© mesmo autor, ao examinar, com detalhes, a producdo segundo
© colonato e a fazenda de escravos, prova que uma saca de ca-
£6 custava entre 7$200 a 9$800 no primeiro caso, e cerca de
15$000 no segundo®>.
Antes de detalhar a forma exploradora através do co
lonato, cumpre salientar que a solucdo pelo mesmo resolvida
aquela questo anteriormente colocada de alocar mio-de-obra e
"gegurar" 0 colono na fazenda. Além disso estimulava as migra
ges por acenar com a possibilidade de acumulacdo, assim como
acenava com a miragem da propriedade da terra.
Detalhando um pouco mais, o colonato se apresentava
da seguinte maneira: o colono recebia uma quantia fixa pela
oe
(34) A esse respeito ver Brasilio Sallun Jr., ob. cit.,pp. 24
e segts.
(35) Wilson Cano, ob. cit-» P» 40.
-26-
formacdo de um niimero determinado de cafeeiros, geralmente por
quatro a seis anos; podia ficar com a producdo do café nesse
periodo, ou parte dela, e fazer as culturas intercalares,prin
cipalmente arroz, milho, e feijdo, cujos rendimentos eram seus,
residindo ai o grande atrativo, e ao mesmo tempo a explora-
0°,
A renda estava escondida sutilmente na producdo de
cereais, hortalicas, animais domésticos e sub-produtos. Assim
a producdo do café era capitalista a segunda nao. Esta altima
ndo passava de um arrendamento, para auferir um rendimento ex
tra, que era aquele que deixava de ser pago em salarios®”.
Um detalhe importante é que isso ocorria porque o
investimento em culturas que néo 0 café, nao eram lucrativas
para o fazendeiro. Outro aspecto interessante € que normaimen
te o colono recebia para cuidar, um nimero de pés de café in-
ferior 4 sua capacidade de trabalho, para que sobrasse o tem-
po para aquelas culturas de subsisténcia, e para a colheita do
café que fazia parte de uma outra forma de remuneracdo. Era a
constituicdo pura e simples do exército de reserva, de que nos
fala Marx°®, :
0 colonato foi a forma mais clara e objetiva de de-
monstracdo do espirito capitalista que se busca caracterizar.
(36) Os detalhes apresentados sao de Bragilio Sallun Jr. para
© qual “os fazendeiros exploravam de forma capitalista u-
ma massa de trabalhadores assalariados para produzirem ca
£é, explorando, ao mesmo tempo, de forma nao capitalista,
© trabalho de uma parte destes trabalhadores, 0s colonos,
na medida em que lhes arrendavam terras em troca do paga~
mento de renda ndo capitalista do solo", ob. cit., pp. 219
© segts.
(37) Para mais detalhes-consultar José de Souza Martins, ob,
eit., p. 32.
(38) As idéias foram extraidas de Brasilio S.Jr., 0 qual acres
centa outros pontos importantes sobre © problema, ob.cit.
Pp. 165 a 238,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- A Segregação Como Conteúdo Na Produção Do Espaço Urbano de Ilha SolteiraDocument18 pagesA Segregação Como Conteúdo Na Produção Do Espaço Urbano de Ilha SolteiraVitorStafusa100% (1)
- A Cidade Que o Lago EngoliuDocument129 pagesA Cidade Que o Lago EngoliuVitorStafusaNo ratings yet
- A Cafeicultura No Contexto Da Agropecuária Noroeste Paulista (ROSAS, Celbo)Document221 pagesA Cafeicultura No Contexto Da Agropecuária Noroeste Paulista (ROSAS, Celbo)VitorStafusaNo ratings yet
- A Cidade de Ilha Solteira Como Laboratório Da Forma-CondomínioDocument21 pagesA Cidade de Ilha Solteira Como Laboratório Da Forma-CondomínioVitorStafusaNo ratings yet
- 353 1567 1 PBDocument16 pages353 1567 1 PBVitorStafusaNo ratings yet
- ConstantinoNorma - A Estrutura Agraria Formação Tecido Urbano OestePaulistaDocument11 pagesConstantinoNorma - A Estrutura Agraria Formação Tecido Urbano OestePaulistaVitorStafusaNo ratings yet
- Memórias SubmersasDocument47 pagesMemórias SubmersasVitorStafusaNo ratings yet