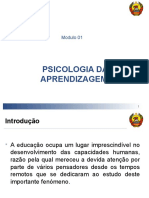Professional Documents
Culture Documents
4 - Análise Química Qualitativa - Teoria
4 - Análise Química Qualitativa - Teoria
Uploaded by
Francisco silva cossaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
4 - Análise Química Qualitativa - Teoria
4 - Análise Química Qualitativa - Teoria
Uploaded by
Francisco silva cossaCopyright:
Available Formats
1- ANÁLISE QUÍMICA QUALITATIVA
Química Analítica - é a parte da química que estuda os princípios
teóricos e práticos das análises químicas. Tem como objectivo prático a
determinação da composição química de substâncias puras ou de suas
misturas.
- Química Analítica Qualitativa - trata da determinação dos
constituintes (elementos, grupo de elementos ou íões) que formam uma
dada substância ou mistura.
A análise qualitativa: é a parte da Química Analítica que se preocupa
com a identificação dos constituintes de uma amostra que pode ser
natureza mineral, vegetal ou animal.
- Química Analítica Quantitativa - trata da determinação das
quantidades ou proporções dos constituintes, previamente identificados,
numa dada substância ou mistura
2- Procedimento para verificação
De modo geral, o procedimento para a identificação de uma espécie
química consiste em provocar, na mesma, uma variação em suas
propriedades, que possa ser facilmente observada e que corresponda com
a constituição da dita substância.
O agente de tal reacção chama-se reagente, porque, geralmente, reage
quimicamente com o produto que se deseja reconhecer.
Em sentido geral, o reagente pode ser um agente físico, como o calor, a
luz e a electricidade, mas comumente entende-se por reagente um
produto químico no estado sólido (ensaio por via seca), ou mais
frequentemente, em dissoluções aquosa adequadas (ensaios por via
húmida), que é empregado para reagir quimicamente com substância em
análise.
É de suma importância um certo conhecimento matemático básico para
melhor entendimento deste assunto.
3- Técnicas de identificação
As separações analíticas visando a identificação de iões comuns menos
frequentes é levada a efeito, utilizando-se técnicas que se baseiam nos
mesmos princípios químicos gerais, mas que diferem entre si quanto à
quantidade de reagentes e aparelhagem empregada.
As principais técnicas ou escalas de trabalho usadas na análise qualitativa
são a macro, a semi-micro e a micro análise.
1- A Macro-Análise emprega-se, em geral, aparelhagem comum de
laboratório e amostras na ordem de 0,5 a 1g de sólido ou 50 a 100
ml de solução.
2- Na Semi-Micro análise, as amostras são de ordem de 1 ml quando
em solução ou de 10 a 100 mg no estado sólido.
3- Na Micro-Análise, muitas vezes, uma gota ou diminuta porção de
sólido é suficiente para a realização. O fato de empregar
microscópio a torna mais precisa que a macro-análise, mas também
delicada e de difícil utilização.
Evidentemente, não se pode traçar uma linha divisória definitiva entre
cada uma das técnicas, porém, em geral, a semi-micro se aproxima da
micro-análise quanto à manipulação, distinguindo-se da mesma por
utilizar soluções de concentração mais elevada e não utilizar
microscópico.
O principio geral dos esquemas de análise qualitativa consiste em:
1. Separar os iões em grupos formados por elementos que tenham
propriedades em comum.
2. Subdividir cada grupo em subgrupos com a finalidade de facilitar a
separação e a identificação de cada ião.
3. Separar e identificar cada íon na amostra usando-se reagentes
gerais e específicos.
Em geral, os iões são reunidos em grupos analíticos, em função da
sua classificação periódica dos elementos, e suas separações
baseiam-se nos diferentes graus de solubilidade dos seus sais e
hidróxidos.
Como a maioria dos esquemas de análise qualitativa é levada a efeito por
via húmida, convém destacar a necessidade de se dissolver,
adequadamente e com segurança, a amostra quando a mesma se
encontre em estado sólido.
A observação cuidadosa das várias etapas do processo de dissolução com
água, ácidos, bases ou desagregantes em altas temperaturas pode
contribuir para orientar o procedimento a ser adoptado na análise.
Além disso, a química analítica qualitativa, é um rol de assuntos a serem
tratados com delicadeza, uma vez que as análises realizadas em prol da
melhoria de seu ensino, baseia-se em uma temerosa abordagem do ponto
de vista química que diz respeito às formas encontradas para melhoria
das análises de soluções diversas.
4- A ANÁLISE QUÍMICA QUALITATIVA
A análise química qualitativa determina as identidades das substâncias
numa dada amostra, isto é, pretende dar resposta à questão "o que é?".
Esta resposta implica o reconhecimento da presença ou ausência de uma
ou mais espécies na amostra a analisar, na maior parte das vezes, com
base em informações prévias da sua potencial existência.
A amostra é normalmente submetida a tratamentos prévios, em função
do seu estado físico, até se apresentar na forma em que a sua análise se
torne mais simples.
O tipo de análise a realizar depende do facto da amostra a ser constituída
por matéria de origem orgânica ou por materiais inorgânicos.
Se é constituída por matéria orgânica- realiza-se uma análise
elemental que consiste na identificação dos principais elementos químicos
que entram na composição dessa matéria orgânica (carbono, hidrogénio,
oxigénio, azoto, enxofre, halogéneos, etc.) ou efectua-se uma
identificação de compostos simples numa amostra complexa.
Se a matéria é constituída por materiais inorgânicos, os
tratamentos prévios a que se sujeita a amostra podem conduzir à
formação de iões em solução, procedendo-se em seguida à sua
identificação.
Os métodos de análise qualitativa podem ser físicos ou químicos:
1- Métodos Físicos: são aqueles que se baseiam na relação entre a
composição química de uma substância e algumas propriedades
físicas.
2- Métodos Químicos: são aqueles em que o elemento ou ião a
identificar é transformado num composto que deve possuir
determinadas características, tornando inequívoca a identificação da
partícula em análise.
Os métodos de análise qualitativa podem ser realizados através de
ensaios por "via seca", em que tanto o material em estudo como os
reagentes encontram-se no estado sólido e a reacção é realizada por
aquecimento a alta temperatura, ou por ensaios por "via húmida", que se
baseiam em reacções entre ácidos, bases e sais, em solução aquosa,
permitindo identificar directamente os seus iões e não os elementos.
5- TÉCNICAS EXPERIMENTAIS DA ANÁLISE QUALITATIVA
INORGÂNICA.
Introdução:
Em Química Analítica Qualitativa, o elemento ou íon a ser determinado é
tratado de maneira a se transformar num composto que possua certas
propriedades que lhe são características.
A transformação que se processa é denominada: REAÇÃO
ANALÍTICA.
A substância que provoca a transformação é denominada:
REAGENTE.
A substância a ser analisada é denominada: SUBSTÂNCIA
PROBLEMA (SP) ou AMOSTRA.
Análise Química Qualitativa:
A análise qualitativa pode ser conduzida em várias escalas: 3
Macroanálise: A quantidade de substância empregada é de 0,5 a 1
g e o volume de solução tomado para análise é cerca de 20 ml.
Semi-microanálise: a quantidade usada para análise é reduzida
por um factor de 0,1 a 0,05, isto é cerca de 0,05 g e o volume de
solução para cerca de 1 ml.
Microanálise: o factor de ordem de 0,01 ou menos.
Para análise de rotina por estudantes, a escolha se situa entre semi-micro
e macro-análise.
Ultramicro-análise: usam-se quantidades de substâncias
inferiores a 1 mg. Todas as operações analíticas efectuam-se as
observando ao microscópio.
Método micro-cristaloscópico: as reacções devem realizar-se
sobre uma lâmina de vidro, identificando-se o íon ou o elemento
pela forma dos cristais que se formam, observadas ao microscópio.
Método da gota: (reacções gota a gota): usam-se reacções que
são acompanhadas de uma viragem da coloração da solução ou da
formação de precipitados corados. As reacções realizam-se numa
tira de papel de filtro onde se depositam sucessivamente e numa
ordem bem definida, gota a gota, a solução em estudo e os
reagentes. Como resultado da reacção, no papel de filtro aparece
uma mancha corada, cuja cor permite comprovar a presença na
solução do íon a identificar.
Técnica semimicro – Vantagens:
Consumo reduzido de substâncias químicas;
Maior velocidade da análise, devido o trabalho com menores
quantidades de materiais, e a economia de tempo na execução das
várias operações padronizadas de filtração, lavagem, evaporação,
saturação com sulfeto de hidrogênio etc.;
Eficiência de separação aumentada, por exemplo, com a lavagem
de precipitados, que pode ser conduzida rápida e eficazmente
quanto uma centrifuga substitui o filtro;
Quantidade de sulfeto de hidrogênio consideravelmente reduzida;
Mais espaço no laboratório;
A análise qualitativa utiliza dois tipos de ensaios:
Reações por via seca (substâncias sólidas);
Reações por via úmida (substâncias em solução).
Separação do precipitado por diversos métodos de análise:
Reações por via seca:
Estes ensaios podem ser realizados em tubos fechados numa das
extremidades (contendo ou não reagente) e em tubos abertos nas
duas extremidades. O ensaio, utilizando o segundo tubo, é realizado
quando se necessita de forte oxidação para a identificação da
espécie desejada.
O aquecimento da amostra (com ou sem reagente) presente em
ambos, pode ocorrer uma sublimação ou o material pode fundir-se
ou decompor-se, acompanhado de modificação na cor, ou
desprender um gás que pode ser reconhecido por certas
propriedades características:
a) Formação de gases ou vapores incolores:
Introduzem-se duas tiras de papel de tornassol (azul e vermelho)
previamente humedecidas próximo à abertura do tubo de ensaio que
contém a amostra:
1- Papel de tornassol vermelho passa para azul: amoníacos dos sais
amoniacais (sulfato, cloreto, acetato).
2- Papel de tornassol azul passa para vermelho: ácidos voláteis
(acético, cianídricos e sulfídricos), ácido fluorídrico (corrosão do vidro) e
gás carbônico (turvação da água de cal).
3- Descoram o tornassol: gás sulfúrico de sulfitos (não alcalinos),
alguns sulfatos, sulfetos, tiossulfatos (com sublimação do enxofre).
4- Não agem sobre um tornassol: oxigénios dos peróxidos, cloratos,
bromatos, iodatos, nitratos e outros (intensificam a combustão),
condensam nas paredes dos tubos, água (gotas incolores) e mercúrio
(gotas cinzentas).
b) Formação de gases ou vapores coloridos:
1- Cloro: amarelo-esverdeado colora em violeta a água alcalina de
anilina.
2- Bromo: vermelho colora em azul a água de anilina.
3- Nitrosos: vermelhos colora em azul a solução sulfúrica de
difenilamina.
4- Iodo: roxo característico.
Ensaios do maçarico de sopro:
Utiliza-se para estes ensaios uma chama de um bico de Bunsen. Ele
é efectuado numa cavidade na superfície do bloco de carvão, sendo
a amostra em exame misturada com carbonato de sódio e
humedecida para formar uma pasta queimada na chama redutora
(interna, azul), sobre a superfície de carvão vegetal. O carvão além
de servir como suporte, participa da reacção exercendo a acção
redutora ao queimar-se. As reacções que se passam podem ser
exemplificadas com a análise do Acetato de Chumbo II:
Pb(Ac)2 + Na2CO3 + 4 O2 → PbCO3 + Na2O + 4 CO2 + 3 H2O
A água e o gás carbônico formados evoluem pelo aquecimento; o óxido
de sódio (Na2O) infiltra-se no carvão e o carbonato de chumbo (PbCO 3) é
transformado em óxido:
PbCO3 + C → PbO + 2 CO↑
Parte deste óxido chumbo (PbO) fica na superfície do carvão, nas
vizinhanças do ensaio; a porção restante é reduzida ao metal (Pb):
2 PbO + C → 2 Pb +CO↑
Ensaios da chama:
Os compostos de certos metais são volatilizados na chama de Bunsen,
comunicando-lhe cores características. Os cloretos estão entre os
compostos mais voláteis. O ensaio é conduzido com a imersão de um fio
de platina em ácido clorídrico concentrado e numa porção da amostra em
exame, ou seja, os cloretos são preparados in situ, em seguida esse
mesmo fio umedecido é levado à chama. A tabela abaixo mostra as cores
de diferentes metais:
Observação Inferência
Chama amarelo-dourada persistente Na
Chama violeta ou lilás (cor carmesim através do vidro de
K
azul de cobalto)
Chama vermelho - tijolo (vermelha amarelada) Ca
Chama carmesim Sr
Chama verde amarelada Ba
Pb, As, Sb, Bi,
Chama azul-pálida (fio lentamente corroído)
Cu
Para compreender as operações implicadas nos ensaios de coloração de
chama e de diversos ensaios por via seca, é necessário possuir certo
conhecimento na chama luminosa de Bunsen, a qual é composta por 3
partes:
1. Cone azul interno ADB, constituído em sua maior parte de gás não
queimado;
2. Uma ponta luminosa D (que somente é visível quando as aberturas
para o ar estão ligeiramente fechadas);
3. Uma capa externa ACBDA, onde se produz a combustão completa
do gás.
Bico de Bunsen:
1. Chama oxidante superior (ZOS) 1540°C
1. Chama oxidante inferior (ZOI) 1540 °C
1. Chama redutora superior (ZRS) 520°C
1. Chama redutora inferior (ZRI) 350 °C
1. Zona fria (menor temperatura) 300°C
1. Zona de fusão (maior temperatura) 1560°C
1. ZOS: corresponde ao
extremo não luminoso da
chama, apresenta um
grande excesso de
oxigênio e a chama não é
tão quente como na zona
de fusão.
2. ZOI: é empregada para
oxidação de substâncias
dissolvidas nas pérolas
de bórax semelhantes.
3. ZRS: está no extremo da
zona azul interna e é rica
em carbono
incandescente, sendo
especialmente útil para reduzir incrustações de óxidos a metal.
4. ZRI: situada no limite inferior da zona próxima ao cone azul e é
onde os gases redutores se misturam com o oxigênio do ar; é uma
zona de menor poder redutor que a 3 e se emprega para redução
de pérolas fundidas de bórax e semelhantes.
5. Zona fria: é a base da chama, onde a temperatura é mais baixa,
que é empregada para testar substâncias voláteis, a fim de
determinar se elas comunicam alguma cor à chama.
6. Zona de fusão: é a parte mais quente da chama; é empregada
para ensaiar a volatilidade relativa de substâncias ou misturas
destas.
Reações por via húmida:
São as reações mais usuais, são aquelas onde o REAGENTE e a SP estão
(no estado líquido) ou em solução aquosa.
No caso de amostras sólidas, o primeiro passo é dissolvê-las. O solvente
usual é a água, ou um ácido se ela for insolúvel em água, por exemplo:
BaCl2 → Ba2+ + 2 Cl-
CuO ↔ INSOLÚVEL
CuO + H2SO4(aq) → Cu2+ + SO42- + H2O
Fe(OH)3 ↔ INSOLÚVEL
Fe(OH)3 + 6 HCl(aq) → Fe3+ + 3 Cl- + 3 H2O
Para os testes de análise qualitativa, somente, emprega-se as reacções
que se processam acompanhadas de variação das suas propriedades
físicas ou químicas facilmente detectáveis. Por exemplo, na mistura de
soluções, para identificação de um dado íon deve ocorrer:
Mudança de coloração (formação de complexos).
Formação de substância sólida (formação de precipitados).
Desprendimento gasoso (formação de gases facilmente
identificáveis através da cor e odor).
Nas análises químicas de substâncias inorgânicas, em geral, empregam-
se soluções aquosas de sais, ácidos e bases. Estas substâncias são
electrólitos fortes ou fracos, dependendo do seu grau de ionização ou
dissociação. Por exemplo:
SAL:
BaCl2 → Ba2+ + Cl- (eletrólito forte)
ÁCIDO:
H3C-COOH → H+ + H3C-COO- (eletrólito fraco)
BASE:
(Parte 2 de 2)
NH4OH → NH4+ + OH- (eletrólito fraco)
ÁCIDO:
HCl → H+ + Cl- (eletrólito forte)
BASE:
NaOH → Na+ + OH- (eletrólito forte)
Como nas reações analíticas por via úmida não se detecta o sal, mas sim
o(s) íon(s) deste sal, representa-se estas de uma forma simplificada e
denominada equação da reação. Escrevem-se, apenas, as fórmulas
daquelas espécies que, efetivamente, participam da reação, ou seja,
estão envolvidas no processo:
H+Cl - + Ag+NO3-→ AgCl + H+NO3-
Ca2+(Cl-)2 + 2 Ag+NO3- → 2 AgCl + Ca2+(NO3-)2
Em ambos os casos ocorrem a formação de precipitado branco de cloreto
de prata. Pelas equações observa-se que apenas ele não está na forma de
íon, logo, concluí-se que os íons H+ , NO3-, Ca2+ e NO3-, não participam da
reação. Então ambos os processos podem, simplesmente, ser
representados pela equação iônica.
Ag+ + Cl - → AgCl
A equação iônica mostra que a reação ocorre essencialmente entre
determinados íons que são responsáveis pela ocorrência da reação (ppt,
gás, etc.).Se um elemento forma íons de diferentes valências, cada um
deles terá as reações que lhe são características. Por exemplo:
Fe3+ + 3 OH- → Fe(OH)3 [vermelho-acastanhado]
Fe2+ + 2 OH- → Fe(OH)2 [verde-musgo]
6- ANÁLISE FRACIONADA E ANÁLISE SISTEMÁTICA:
Utilizando as reacções específicas, os iões correspondentes podem
ser identificados pelo chamado método fraccionado, isto é
directamente em porções retiradas da solução em estudo, sem ter
em conta os outros iões nela existentes. Também não tem
importância nenhuma a ordem de identificação dos iões isolados.
Quando não há reacções selectivas muito seguras, nem se pode
aumentar sua selectividade por meio de um processo qualquer, a
identificação dos correspondentes iões pelo método fraccionado é
impossível.
Nestes casos, convém elaborar uma sucessão de reacções de
identificação dos iões, isto é, estabelecer uma marcha sistemática
de análise.
Esta consiste no seguinte: a identificação de cada íon só deve
iniciar-se depois de ter sido identificado e eliminado da solução
todos os outros íões que impedem sua identificação (ou seja, que
reagem com o reagente usado).
Sendo assim, deduz-se que, durante a análise sistemática,
juntamente com as reacções de identificação dos diferentes iões,
deve-se recorrer também às reacções de separação dos mesmos.
Nas reacções de separação aproveita-se, geralmente, a diferença
entre as solubilidades dos compostos análogos dos iões a separar.
Por vezes, também se recorre à diferença entre as volatilidades dos
correspondentes compostos. Para que a separação seja completa, é
necessário utilizar quantidades suficientes de reagente, criar condições
óptimas para a precipitação, garantir uma calcinação com duração e
temperatura suficientes, etc. Deve-se obrigatoriamente verificar-se que a
separação é total por meio de um ensaio, sem o qual os resultados de
análise podem ser falsos.
As técnicas das verificações da separação completa dos iões serão vistas
posteriormente.
Condição para a Realização das Reacções Químicas:
Sensibilidade e Especificidade:
A sensibilidade de uma reacção pode ser aumentada, dentre outros
meios, por:
Uma variação na concentração dos reagentes;
Uma mudança no valor do pH do meio;
Pela adição de solventes orgânicos miscíveis com a água;
Através de uma extracção por um solvente imiscível com a água.
Definições:
Sensibilidade de uma Reacção: expressa a menor quantidade do
analito em uma gota da solução que pode ser detectado por um
dado reagente. Termos usados para expressar a sensibilidade de
uma reacção:
Mínimo Detectável: expressa a menor quantidade do analito (em
μg) presente em uma gota (0,05 mL ou 0,02 mL) da solução em
análise que pode ser detectada por um dado reagente. (μg = 10-
6g).
Concentração Mínima ou Concentração Limite: é a
concentração do analito na solução que fornece o mínimo detectável
(g/mL). (1 gota = 0,05ml).
Diluição Limite: expressa o volume da solução aquosa em
mililitros que contém 1 g do analito e que em 1 gota contém a
massa mínima detectável. Em outras palavras, é o inverso da
concentração mínima ou limite.
MÍNIMO DETECTÁVEL
Sensibilidade ↑
↓
CONCENTRAÇÃO MÍNIMA
↓
DILUIÇÃO LIMITE
↑
TEMPO NECESSÁRIO PARA A REAÇÃO OCORRER
Reacções Selectivas e Reacções Específicas:
Reacções selectivas são aquelas que sob certas condições tornam
possível detectar alguns iões na presença de outros. A quelação do Ni 2+
com dimetilglioxima (DMG) em meio amoniacal (pH=8) é uma reacção
selectiva amplamente empregada na análise química.
Outros iões também reagem com a DMG, porém em outras condições de
reação. Havendo condições selectivas, iões Ni2+ podem ser detectados na
presença de outros iões. Portanto, diz-se que uma reacção é selectiva
quando ocorre somente com um número restrito de iões em determinadas
condições. A selectividade de uma reacção é tanto maior quanto menor
for o número de iões que dá teste positivo.
Reacções ou reagentes específicos são aqueles que dão produtos com
propriedades características com somente um íon. Tais reacções são
bastante reduzidas. Exemplo: reacção qualitativa específica para iodo;
uma intensa cor azul escura aparece quando moléculas de iodo reagem
com amido (a especificidade é um caso especial de selectividade).
Reacções de Identificação de aniões:
A classificação dos aniões é geralmente baseada nas diferenças de
solubilidade dos sais de bário e de prata dos ácidos
correspondentes. Esta classificação não está rigorosamente
estabelecida. Segundo os autores, os aniões podem ser repartidos em
diferentes números de grupos. Aqui, nós vamos subdividir os aniões pela
classificação de ALEXÈEV e estudar os três grupos como é mostrado na
tabela a seguir:
CARACTERÍSTICA ÂNIONS QUE FORMAM O REAGENTE
GRUPO
DO GRUPO GRUPO GERAL
2- 2-
SO4 (íon sulfato), SO3 (íon
sulfito), S2O32- (íon
tiossulfato), CO32- (íon
BaCl2 em
carbonato), PO43- (íon
solução
Sais de Bário pouco fosfato), AsO43- (íon
I neutra ou
solúveis na água. arseniato), AsO33- (íon
fracamente
arsenito), BO2- ou B4O72- (íon
alcalina.
borato), CrO42- (íon cromato),
F- (íon fluoreto), SiO32- (íon
silicato), C2O42- (íon oxalato).
Cl- (íon cloreto), Br- (íon
brometo), I- (íon iodeto), S2-
Sais de prata pouco AgNO3 em
(íon sulfeto), SCN- (íon
II solúveis na água e solução ácida
tiocianato), [Fe(CN)6]4-
HNO3 diluído. (HNO3).
(ferrocianeto), [Fe(CN)6]3-
(ferricianeto).
NO3- (íon nitrato), NO2- (íon
Sais de bário e de nitrito), CH3COO- (íon
III Não tem.
prata hidrossolúveis. acetato), MnO4-
(permanganato).
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Texto de AP Quimica Inorgânica IDocument202 pagesTexto de AP Quimica Inorgânica IFrancisco silva cossaNo ratings yet
- 2 PDFDocument22 pages2 PDFFrancisco silva cossaNo ratings yet
- Biodiesel Como Alternativa Energetica PDFDocument72 pagesBiodiesel Como Alternativa Energetica PDFFrancisco silva cossaNo ratings yet
- CoqueificaçãoDocument42 pagesCoqueificaçãoFrancisco silva cossaNo ratings yet
- G. S. Araujo - Resumo Exp PDFDocument10 pagesG. S. Araujo - Resumo Exp PDFFrancisco silva cossaNo ratings yet
- Módulo IDocument51 pagesMódulo IFrancisco silva cossaNo ratings yet
- Ficha NR 1-Fisica BAsicaDocument7 pagesFicha NR 1-Fisica BAsicaFrancisco silva cossaNo ratings yet