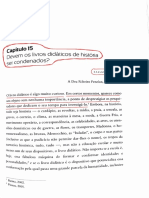Professional Documents
Culture Documents
Cap 12. A Ditádura Militar Nas Narrativas Didáticas (Helenice Rocha) Cópia
Cap 12. A Ditádura Militar Nas Narrativas Didáticas (Helenice Rocha) Cópia
Uploaded by
Tiago Melo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views23 pagesOriginal Title
cap 12. A ditádura militar nas narrativas didáticas [Helenice Rocha] cópia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views23 pagesCap 12. A Ditádura Militar Nas Narrativas Didáticas (Helenice Rocha) Cópia
Cap 12. A Ditádura Militar Nas Narrativas Didáticas (Helenice Rocha) Cópia
Uploaded by
Tiago MeloCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 23
Capitulo 12 )}
ar nas narrativas didaticas ) |
|
..somos fundamentalmente uma historia que vamos com-
pondo a partir do que acontece, mas também a partir das va-
rias histérias com as quais cruzamos ao longo da nossa vida:
as contadas por outros, as que lemos ou as quais assistimos €
que constituem um imenso patriménio das historias possiveis.
Contardo Calligaris’
Qs livros didaticos sao portadores de um discurse peculiar, a marra-
fiva histérica escolar, que é uma sintese resultante das apropriagGes
realizadas pelos seus autores diante de demandas sociais. Para elabora-
“los, so consultadas obras que apresentam conhecimentos histéricos
produzidos por historiadores ¢ outros profissionais que fazem usos do
passado, sao levadas em conta constricdes da tradicdo escolar, entre
elas a distribuicdo e o tratamento dos contetidos curriculares nos tem-
pos da escola, as demandas do pablico leitor — professores © alunos, €
por extensdo seus familiares — com finalidades sociais que extrapolam
as do conhecimento académico (Chervel, 1990).
© curriculo da disciplina escolar histéria, base para a selegdo e orga-
nizagao desses contetidos, responde as finalidades sociais de transmissao
A pesquisa a que se refere o capitulo teve apoio da bolsa Jovem Cientista de Nosso
Estalo Faperj e do Prociéncia Ueri/Faperj. Este capitulo é uma versio modificada do
artigo publicado em Rocha (2015:97-120).
1 Een entrevista concedida ao site Mundoliveo: . Acesso em: 30 jul. 2014.
245
de um legado vinculado ao passado, pactuado socialmente como
te dos conhecimentos e valores necessdrios 4 formagao de identid
(Amezola, 2007:150-151; Carretero, 2010:47). Apesar de criticada
ser uma pretensdo um tanto anacr6nica no que se refere 4 formagia.
mana a partir de grandes narrativas,’ essa finalidade segue orientan
constituigao do curriculo escolar e a formagao de professores de hist
Atendendo a essa finalidade, a meméria ocupa lugar relevante
definigdo curricular dos contetidos de historia, presente em difere!
espagos e produgGes sociais, como na escola, na midia e seus produt
eno trabalho sobre o passado dos historiadores. No curriculo escol,
a narrativa se constitui em uma composigao da histéria e da mi
inclusive escolar, que define o cénone a ser ensinado e aprendido =
curriculo de histéria —, segundo as finalidades sociais almejadas.
referéncia tanto para os professores, em sua explicagao sobre os
dos na aula, como para os livros didaticos no seu processo de produg)
rc A partir dessas consideragdes, pretendemos apresentar algumi
tendéncias observadas na andlise comparativa entre as narrativas
sentes em textos principais dos livros didaticos de histéria vol
ao Ensino Fundamental do Brasil, pertencentes a colegdes aprovad;
na avaliacao feita pelo Programa Nacional do Livro Didatico de 2011
(PNLD 2011). Ao tratar dessas grandes rendéncias, visamos a poten=
cialidade das narrativas na constituigaéo de sentidos sobre o processo
da ditadura militar no Brasil (1964-85). Para isso, nos valeremos de
elementos de analise selecionados nos estudos do campo da linguagem,
{_ além da prépria historiografia sobre o periodo.
Até o presente momento, no Brasil, a grande maioria dos livros di-
daticos de histéria apresenta um texto principal ou texto base que ini-
cia as unidades ou capitulos, seguido ou paralelamente a textos ¢ docu-
2. Um exemplo de critica esta na resposta do pensador e psicanalista italiano Gon=
tardo Calligaris, sobre o papel das narrativas na constituigao subjetiva: “No fundo,
traduzido nos termos do que estou tentando dizer, existem cada vez menos, aparen=
temente, grandes narrativas coletivas das quais a nossa faria parte. (...] E uma outra
maneira de dizer que os grandes ideais do século XX estdo no minimo sonolentos,
se nao feridos, senaio ainda mortos. Mas acho que a gente nao para de inventar, ape=
sar de tudo, narrativas coletivas. Talvez elas nado tenham o mesmo carater universal,
aquele sentido de que a narrativa de cada um poderia encontrar seu lugar em uma ¢5-
pécie de Histéria do Mundo, 0 que é um sonho do fim do século XVIII que prossegue
pelo século XIX inteiro ¢ um bom pedago do XX. Isso provavelmente acabou", Em
entrevista concedida ao site Mundolivro: . Acesso em: 30 jul. 2014.
246
mentos complementares € exercicios. A narrativa presente nesse texto
principal da inicio a realizagao de um conjunto de procedimentos esua
leitura é a base principal, juntamente com a explicagao do professor,
para a realizagao das atividades que visam © ensino € a aprendizagem.
Gada um desses elementos interage com os demais, porém, tal como em.
outras disciplinas, o texto principal concentra a massa de informagées
relativas aos conteudos: curriculares, em forma narrativa.
Apesar de reconhecer 0 importante papel dos demais elementos
presentes no livro didatico, nossa escolha metodolégica nesta pesquisa
foi a de analisar a linguagem. verbal do texto principal. Nao caberia no
seu escopo a analise de todos esses elementos componentes de cada li-
veo, j4 que nosso proposito era comparar objetos da mesma natureza: 0
texto principal de um livro com o do outro. Efetivamente, esses textos
podem ser lidos em relagdio com cada elemento paratextual como ima-
gens, yocabulario e infograficos, além de mapas ¢ boxes informativos;
assim, a analise comparativa seria infindavel. Sabendo da importincia
potencial desses elementos, trabalhamos com a ideia de que o professor
e o aluno recorrem principalmente ao texto principal para acessar a
narrativa sobre a historia ¢ para sanar dividas. Bem como sabemos
que, aqui e ali, os professores destacam uma imagem ou um boxe para
leitura ou andlise. Mas, como uma pesquisa comparativa, seria neces-
sario restringir 0 escopo de analise.
Trata-se de uma andlise das narrativas sobre a ditadura militar,endo ~)
de como cada autor individual, em cada livro, aborda o tema. Assim, nos
propomos a apresentar algumas tendéncias potencialmente presentes no
conjunto de narrativas € relativas 4 produgao de sentidos ¢ nao, necessa-
tu riamente, o que diz cada uma delas sobre o tema analisado.* J
Entre a semethanca ea diferenga: 3 narrativa historica € 8
narrativa ficcional
Quando nos referimos aos potenciais de sentido de uma narrativa, ¢s-
tamos dialogando eletivamente com referenciais de campos de estuda
ane
J Aqui nos aproximamos da proposta tearica de formagdo discursiva, que responde
pelo “sistema de regeas que funda a ‘inidade de um conjunto de enunciados s6cio-
Mee onicamente circunscrito”. Ver Maingueneau (1998).
2AT
relacionados com a linguagem: filosofia, linguistica, analise do di
so e teoria da leitura, além da prépria historia. No caso da nari
com finalidades didaticas, ha ainda a considerar a mediacao reall
pelo professor, que surge como um leitor especifico, estabelecenda |
limites pretendidos da leitura dos alunos.
A partir de Ricoeur, entendemos que todo texto se estrutura a
tir de aspectos internos ¢ externos. E também é uma proposta de
do a ser compartilhada. Em uma narrativa histérica, o leitor eneont
um texto expositivo de cardter factual e, ao mesmo tempo, um tral
mento ao material factual, o que envolve uma perspectiva analitica,
propostas de sentido da narrativa sobre a ditadura militar no Brasil
volvem essas duas dimensGes que atuam potencialmente na forma:
histérica dos alunos.
Segundo Nicolazzi, a partir de Ricoeur, o tempo configurado em
texto institui ainda a ponte que vai do autor para o leitor, rornando
apto para “seguir a histéria”. Completamos, as formas linguisticas
lhidas para sua composigo contribuem para essa aptiddo. A comy
sao de uma histéria narrada depende, assim, de sua competéncia dise
va para ser compreendida. “Compreender a historia é compreender ©
© por que os episédios sucessivos conduziram a essa conclusao, a qui
longe de ser previsivel, deve finalmente ser aceitavel, como cong
com 0s episédios reunidos” (Ricoeur, 1994:105),
No caso da narrativa histérica, o investimento em sua escrita é fur
to do compromisso em ampliar o conhecimento sobre os homens e1
sua relagdo com o tempo, especialmente o tempo passado, a partir da
critica documental. As caracteristicas da constituigo de seu enredo
— como a apresentagao de sujeitos especificos, datas, locais e acontes
cimentos — produzem um efeito de realidade, propiciando a crenca de
que se refere a coisas que aconteceram de certa forma e se tornaram
importantes para coletividades.
cr Uma diferenga importante entre a narrativa hist6rica escolar e aquela
produzida por historiadores é que a narrativa historica escolar ¢ uma
sintese didatica, visando contribuir para o ensinar e o aprender, Ou sejay
mantém 0 compromisso de narrar o que aconteceu a partir de textos jal
produzidos — textos da area de conhecimento sobre o tema ¢ fontes jor
nalisticas (especialmente quando o tema esta vinculado a temas recentes)
(_ — Para o ensino de histéria, realizado por alunos e professores.
248
Situando o problema; os sentidos sobre a ditadura militar no Brasil
Visando situar a produgao didatica atual no percurso das narrativas so- ee
bre a diradura militar no Brasil, realizamos breve pesquisa exploratéria |
com livros publicados no periodo entre 1969 e 1978. Em um conjunta
aleatério, selecionamos trés livros do periodo. Neles, nao ha a mengaio. i|
4 palavra ditadura ou é feita a referéncia ao golpe de Estado como tal. |
Os titulos ¢ mengées ao acontecimento tratam o periodo como inte-
grando a “Republica Nova”, iniciada em 1930 ou a partir de 1945, no \
livro de Ilmar Rohloff de Mattos e colaboradores, e no de Sérgio Buar-
que de Hollanda ¢ colaboradores, respectivamente. A mengio ao golpe
é feita como “Deposigio de Joao Goulart pelas Forgas Armadas” pelo
primeiro e *O Movimento de 31 de margo de 1964” pelo segundo livro.
‘A obra de Armando Souto Maior apresenta o periodo militar no capi-
tulo “A redemocratizacio do pais” e denomina o golpe de “Revolugdo i
Gloriosa”. Vemos que a proximidade dos acontecimentos ¢ as interdi- |
des postas pelo proprio regime de excegio desafiaram os autores quan-
L to ao que e como falar (Orlandi, 1994:59).
‘A denominagao de ditadura militar para o proceso histérico trans- nt |
corrido entre 1964 e 1985 passou a ser utilizada nos titulos e mengdes
presentes nos livros didaticos de histéria a partir do reconhecimento
tacito do periodo como ditadura e da possibilidade de sua enunciagao
como tal’ As narrativas sobre a ditadura foram se transformando ao
longo da década de 1980, & nesse momento que os livros didaticos co-
megam a afirmar a existéncia de um periodo ditatorial e a mencionar 0
golpe militar, alguns deles de forma ainda timida. J
Percebe-se, nessa breve pincelada em livros do proprio periodo, o
movimento de estabelecer uma linha diviséria entre o presente e 0 pas-
sado, deslocando para o passado a dolorosa ou ao menos desconfor-
tavel experiéncia social da ditadura. Temos assim, em 2014, passados
50 anos do inicio e quase 30 de seu fim, um contexto instigante para
a andlise do tratamento do tema da ditadura militar nos livros dida-
ticos de historia. A partir da abertura politica, ocuparam o cargo de
4. As referencias dos livros citados, na ordem, sia: Mattos, Dottori e Silva (1975);
Hollanda et al. (1972); Suto Maior (1969).
5, Entendemos enunciacao como Ducrot (1987:179}, como “o acontecimento consti-
tuido pela aparigao de um enunciado”,
249
presidente da Republica pessoas que foram participantes ativas da vi
politica naquele periodo, em posigdes diversas, do lado do poder con
tituido e de sua oposigao. Processos atuais como o da abertura
arquivos da ditadura e o funcionamento das comissées da verdade, qi
trazem a piiblico o depoimento de participantes do acontecimento €
Processo subsequente a ele e de suas repercussdes, mobilizam lembr:
gas de outros tantos da mesma geragao dos depoentes, tendo vivide
ditadura de formas semelhantes ou contrdrias (Fico, 2004).
© tratamento desse tema se configura como um exemplo da hit
téria recente, também denominada como histéria do tempo pres
te (Dosse, 2012). Essa histéria apresenta implicagoes que funciona
‘como mecanismos externos na producao da narrativa sobre a ditadura
militar. Os livros didaticos necessitam constituir uma_narrativa
sintetize a histéria e inclua tal processo em sua narrativa maior sol
a nagao. Nos parametros colocados para a produgao dessa histéria, ai
narrativas tratam de um tema traumiatico e recente, construidas a pare
tir de elementos da memoria social e da histéria. Tratam da experiéncia
dos sujeitos, contada pela meméria, ¢ da reflexdo histérica sobre essa.
experiéncia. Considerando esse contexto, na sequéncia apresentamos:
algumas conclusées sobre sentidos oferecidos como propostas, a partir
das narrativas dos livros didaticos de histéria do PNLD 2011.
Anarrativa sobre a ditadura militar nos livros didaticos: o todo e
suas partes
A coeréncia, um dos mecanismos internos ao texto, diz respeito aos
aspectos da organizagao e estabilizagio da experiéncia humana no tex
to, conforme afirma Marcuschi (1986:28), Sua base é a continuidade
de sentidos em meio ao conhecimento ativado pelas ideias do texto,
Comegamos nossa analise com o reconhecimento da estrutura com-
posicional da narrativa em cada um dos livros examinados, Em todos
eles existe uma sequéncia que se inicia nos seus antecedentes, na Crise
do governo Jodo Goulart, que teria provocado o golpe de Estado, se
desenvolve com os diferentes momentos do periodo ditatorial e destaca
os presidentes da Republica do periodo. A narrativa sobre a ditadura
militar no Brasil também apresenta aspectos da economia e da politica
250
do periodo e termina com a posse de Tancredo Neves em 1985, eleito
de forma indireta apés o movimento popular das “Diretas Ja”. Este €
o resumo da histéria que ecoa em todos os 15 livros de histéria que
apresentam a narrativa analisada.
Em todas as colegées o tema é tratado no volume relativo ao nono
ano do Ensino Fundamental, distribuido em sua progressao em capitu-
los de forma diversa. A narrativa se desenvolve em apenas um capitulo
ou em capitulos separados que encadeiam o seu desenvolvimento, ou
alternados, com capitulos sobre a histéria mundial. Dos 15 volumes
analisados, seis apresentam a ditadura em apenas um capitulo, cinco
em capitulos encadeados e quatro integrados ou intercalados com a
histéria mundial.
Nos volumes em que essa narrativa ocorre em um capitulo, é enfati-
zada uma abordagem especialmente politica ¢ aglutinadora da historia:
periodo democratico que antecede a ditadura, ditadura e redemocrati-
zagao. Nos cinco volumes que apresentam a narrativa encadeada, mas
distribuida em mais de um capitulo, alguns subdividem o periodo da
ditadura em seu momento inicial, os “Anos de Chumbo” e do “Milagre
Econémico”, ¢ finalmente a abertura democratica, que algumas vezes
é deslocada para o capitulo relativo 4 redemocratizagao ou Nova Re-
publica. Essa distribuigdo contribui para a apresentagdo de subtemas,
como a resisténcia, habitualmente tratada na forma de produgao cultu-
ral e da luta armada.
Em um grupo menor de livros a histéria mundial se intercala ou se
integra com a hist6ria do Brasil em uma tendéncia atual das publicagdes
de historia: a organiza¢ao integrada de temas da historia nacional com
temas da historia mundial, ou ao menos intercalada, em capitulos diver-
sos.* Nesses temas, apresentam a descolonizacao da Asia e da Africa e
aspectos relacionados com a Guerra Fria como momento especifico do
socialismo e do capitalismo mundial. Algumas coleges estabelecem ne-
xo mais claros entre esses tépicos ¢ a ditadura militar e outras, nao. Um
&. As colegdes de livros didaticos de histéria no Brasil durante algumas décadas ti-
veram sua organizacio separada em histéria nacional (historia do Brasil) ¢ hist6-
ria geral, com dois volumes para cada histéria. Desa maneira, quando o tema da
ditadura militar no Brasil era tratado, sua narrativa possuia certa continuidade na
historia nacional. Para mais detalhes sobre a arganizagio das colegdes de historia
do PNLD 2011, ver Guia dos livros diddticos de historia: .
251
|
GINTG) CINE. UG Stare. SS PUIG & herauves
bom exemplo dessa alterndncia nos é oferecido pelo volume do % ano da
colegio 1, que distribui o tema em sua relagdo com a histéria mundial;?
Capitulo 11: O Golpe de 1964
Capitulo 12: A descolonizagao da Asia e da Africa
Capitulo 13: A expansao ea crise do socialismo
Capitulo 14: A reorganizagao e o apogeu do capitalismo
Capitulo 15: Brasil: os anos repressivos do regime militar
Capitulo 16: O final do governo militar no Brasil
Capitulo 17: A Nova Republica no Brasil*
Nesse livro observa-se que 0 desencadeador ou estopim do golpe ¢
0 préprio golpe de Estado sdo apresentados no capitulo 11 e somente
sao recuperados apés trés capitulos que tratam de temas com maior ou
menor relagdo com a ditadura militar. No que se refere ao_potencial
de produgao de sentidos, tal caracteristica desse e de outros livros —a
separacdo em capitulos diversos, bem como algumas vezes a forma al-
ternada entre a historia nacional e a histéria mundial — pode dificultar
a compreensao do enredo, exigindo recapitulagées ¢ repetigdes, 0 que
€ realizado em parte nas narrativas das colegGes, especialmente nas.
introdugées dos capitulos.
O trabalho de leitura é um dos aspectos externos ao texto, envol-
vendo a bagagem experiencial dos alunos — inclusive de leitura — para
o estabelecimento de nexos entre os capitulos dedicados a histéria do
Brasil e 4 mundial, bem como exige que o aluno recupere os nexos da
narrativa interrompida sobre a ditadura. Quando essa exigéncia nao
realiza, o leitor se vé diante de uma ditadura no Brasil que se inicia sem
motivo algum, ¢ termina sem explicagées, além da vontade dos mil "
res. Lembremos da adverténcia de Ricoeur sobre a necessdria apti
do texto para ser compreendido. Assim, se a historia integrada res
de a algumas necessidades de Ambito diditico e histérico, por out!
7. Seguindo a proposta apresentada, ndo denominaremos cada colegao a0
exemplos. Elas sio tratadas pelo nimero de identificacao. Para ver a relagao
pleta das colegées mencionadas, ver Guia dos livros diddticos de histéria: .
8. Nesse capitulo é apresentado o final do periodo ditatorial.
pode comprometer a compreensao na leitura da narrativa, o que exige
\_ cuidados adicionais em sua producio.
Na continuidade do artigo, trataremos as narrativas em sua unida-
de composicional, abstraindo as separagGes ¢ alternancia entre essas
segdes € os sentidos que propiciam, ou nao.
O estopim da narrativa: a crise no governo Jango
(7A situagdo que antecede o golpe de Estado que inicia a ditadura é de
crise generalizada. E é a essa crise que as narrativas arribuem o de-
sencadeamento do golpe de Estado. A forma de apresentar esse fator
desencadeador é que difere um pouco entre as colegdes, especialmente
no que se refere ao tratamento discursivo conferido 4s forgas sociais
que agiram naquele momento. Essa forma diversa também constitui
L_ Potenciais de sentidos diversos na construgdo do enredo.
As narrativas constroem um percurso em que Jango é empossado
apés a renincia de Jinio Quadros em um quadro de crise institucional,
Mencionam que o presidente estava entre forgas antagonicas — algumas
vezes denominadas claramente e outras ndo — e que, sem ajuda do par-
lamento, buscou o apoio popular diretamente por meio da aproximagao
com as camadas populares, em agdes como o muitas vezes citado comi-
cio da Central do Brasil, semanas antes do Golpe. Arrolam algumas das
agGes do governante que vieram a aprofundar a crise em suas dimensGes
politica e econémica. Algumas mencionam reagées de grupos sociais que
vieram em apoio, ou contra as agdes de Jango. Em algumas outras sdo
mencionados nomes dos sujeitos individuais que atuaram mais fortemen-
te no desenrolar dos acontecimentos. Em outras, ainda, ha referéncia a
tendéncias ideolégicas expressas por correntes politicas ou econémicas,
sem denominacio clara dos grupos ou personagens que fariam parte
dessas correntes. Entre esses sujeitos ¢ suas agées, elementos macroestru-
turais, como a inflacao e as relages internacionais.
Como esses diferentes atores representam graus diversos de abstra-
cao e generalizacao, e os alunos da escola basica, em principio, ainda
nao conhecem as relagdes possiveis entre eles, percebe-se ai uma difi-
culdade potencial para o trabalho de conferir sentido aos fatores que
353
Livros diddticos de historia: entre politicas e narrativas
propiciaram o estabelecimento da ditadura, Em uma ponta, temos 6
sujeitos individuais, com Jodo Goulart, Carlos Lacerda e outros,
outra, grupos de sujeitos coletivos, conformando uma corrente de p
samento ou classe, como conservadores, direita, classes populares.
profusao possivelmente se configura em mais uma dificuldade para
estabelecimento de sentido na compreensao dos alunos.
As narrativas presentes na maior parte dos livros apresentam um
associacdo mais ou menos direta dos setores mais conservadores ou de
direita da sociedade a um grupo de politicos ou de partidos, 4 Igreja
Carélica, ao grande empresariado, aos militares e 4s camadas médi,
da sociedade. E dos setores de vanguarda, ou de esquerda, apresent
dos em algumas colegdes como os preocupados com a melhoria d
condigdes de vida dos segmentos populares, outro grupo de politica
ou de partidos, os estudantes, intelectuais, lideres sindicais e de trabar
Thadores rurais.’ Em algumas narrativas, apenas esses segmentos pop
lares sio mencionados como povo.
As lacunas nessas articulagdes sdo preenchidas de forma heterogi
nea pelas diferentes colegées, Parece estar claro para seus autores quet
era quem e suas relagdes com grupos ou correntes. Para os remanescel
tes do periodo, existe alguma clareza sobre quem foi Carlos Lacerda ou
Leonel Brizola, sobre o papel do Partido Trabalhista Brasileiro (P
ou do Partido Comunista Brasileiro (PCB) no jogo politico ¢ na histé
brasileira. Mas, para estudantes da faixa etdria de 14 anos, nascido
em torno do ano 2000, muitas vezes esse movimento aparent
te aleatério entre sujeitos individuais, coletivos ¢ correntes ideolégi
que participaram daquela crise, em polos iguais ou opostos, mostra
um possivel obstaculo para a compreensio dessa histéria. O po
Um exemple esta na narrativa da colecao 9 (v .8, p. 185), que ass
cia no segundo trecho “os mais diversos setores da sociedade” a b
politica do presidente Jodo Goulart. Entretanto, os segmentos social
mencionados nao sugerem explicitamente essa mobilizagdo generali
da de toda a sociedade:
9, Fiorin (1997) apresenta uma critica a0 ensino escolar de substantivos con
e abstratos, por ocorrer desarticulado da compreensao de textos. Sua observagaio
pertinente ao ensino de historia, pais os sujeitas histéricas possuem diferentes g
de concretude, o que é muitas vezes desconsiderado na construgao dessas narrativas,
Fortalecido pelo apoio popular, Goulart articulou um plano econémi-
co que previa o combate a inflagao [...] e a implementagao das chama-
das reformas de base. A mais polémica delas era a reforma agraria, [...].
Essas propostas foram debatidas pelos mais diversos setores da sociedade.
No campo, a campanha em defesa da reforma agraria era liderada pelos
sindicatos e confederagées. Nos grandes centros urbanos, sindicalistas,
intelectuais ¢ estudantes promoviam manifestagdes de apoio as reformas.
Poucas obras apresentam uma denominagao para as forgas sociais €
sua relacdo com os sujeitos individuais ou coletivos nessa polarizagao.
Mencionam oposigio, mas nao fica claro quem faz parte da oposigao.
Dessa maneira, existem lacunas de sentido a serem preenchidas pelo
leitor, que nao discerne os movimentos realizados pelos protagonistas e
antagonistas desse enredo e suas relagdes com 0 golpe. Como exemplo,
0 trecho: “|... A oposigao organizou em Sao Paulo a ‘Marcha da fami-
lia com Deus pela Liberdade’, que mobilizou as camadas médias da po-
pulago. A ala conservadora da Igreja Catélica apoiou essa marcha”...
Ha divergéncias sobre esses antecedentes no Ambito da propria pro-
dugao histérica. Hé explicagdes que passam pelos eventos politicos
outras que remetem a fatores macroestruturais. Fico sintetiza a difi-
culdade no 4mbito da historiografia: “A caréncia de andlises politico-
-institucionais talvez se explique pela grande dificuldade tedrica de
bem correlacionar os eventos da pequena politica aos condicionantes
estruturais” (Fico, 2004:19).
A narrativa escolar tenta sintetizar essas explicacdes divergentes de
forma inteligivel para os alunos. Algumas colegdes investem em transi-
tar entre o evento e a estrutura, se destacando por seu esforgo de expli-
cagao ¢ correlagao entre os diferentes niveis, mais ou menos concretos
ou abstratos de sujeitos.
Um exemplo esta em uma das narrativas em que se fala sobre “forgas
antagénicas”, so realizados com mais clareza 0s movimentos que pas-
sam pela definicao do antagonismo entre elas e é claramente evidenciada
a associagdo com sujeitos coletivos ou individuais que representam tais
forcas. Vejamos essa construgao de sentidos na colegio 10 (v. 8, p. 197):
12 movimento: caracterizagao da existéncia de grupos: “A partir de
1963, as lutas politicas intensificaram-se no pais. Os diversos grupos
mobilizaram-se para defender seus interesses”.
255
ee eS ee ee ee en ee eee ese ae
2° movimento: caracterizagio de um dos grupos: “Desde 1962,
operdrios estavam organizados no Comando Geral dos Trabal
(CGT). Quanto aos trabalhadores rurais, na década de 1950 haviam
do as Ligas Camponesas [...]. Nas universidades, atuava a Uniao N:
dos Estudantes, entidade bastante atuante na vida politica da época”,
3* movimento: Caracterizagao do grupo antagénico: “Contra
posicionavam-se jornais da grande imprensa [...], um grande ni
de empresdrios e fazendeiros, bem como setores importantes da cla
média e da Igreja Catélica”.
4° movimento; Denominagdo de esquerda e direita para as
antagénicas ¢ a posicao delicada de Joao Goulart: “Jodo Goulart
-se numa situagao dificil, tendo de manobrar entre forgas antagénic:
A esquerda queria mudangas imediatas e radicais [...]. A direita,
sua vez, acusava Jango de estar conduzindo o pais para o comunismo
Afora algumas colegdes que realizam um investimento discursivo pai
a articulagao mencionada, vemos que, apesar de todas as narrativas aj
sentarem a crise do governo Jango como o estopim da ditadura militar,
forma de construgao do enredo ¢ seu desdobramento em muitas delas no
contribui efetivamente para o estabelecimento de sentido para as partes
em disputa, repercutindo na compreensao da sequéncia causal do golpe,
Se nos voltarmos estritamente para os aspectos linguisticos, Fiorini
(2004) propée a caracterizagao de palavras com sentidos concretos ou
abstratos articuladas ao funcionamento dos textos. Considerando que
essa oposi¢do constitui uma categoria da linguagem e nao da realida-
de, define que concreto é 0 termo que remete a algo presente no mun-
do natural, entendido como “os universos produzidos pelo discurso”,
E abstrato é a palavra ou expressdo que nao se refere a algo efetivamen-
te presente no mundo natural, mas exprime categorias que organizam
os elementos ai existentes.
Sua defini¢do contribui para que consideremos o desafio de ensinar
histéria a alunos que ainda estao constituindo sua compreensao sobre
o mundo social em sua discursividade e historicidade. O “politico”,
por exemplo, que muitas vezes é traduzido como corrupto a partir da
bagagem experiencial dos alunos, precisa ser problematizado e histori-
cizado, para que se perceba sua filiacdo a ideias e correntes ideolégicas,
Esquerda, direita, comunistas, comunismo, conservadores, Forgas Ar-
256
madas sao categorias que organizam os elementos presentes no mundo
Jocial ou natural. Nao esto dados nesse mundo.
Sua observacao é pertinente ao tema da nomeagao dos sujeitos
histéricos que atuam como personagens na narrativa. Eles possuem
diferentes graus de concretude, ou de insergio no mundo social, con-
forme vimos no quadro anterior, o que é muitas vezes desconsiderado
na construgdo de narrativas histéricas escolares. Tal desconsideragao
pode propiciar uma compreensdo diversa da pretendida pela obra. Ou
pior, a nao compreensao.
Formas de contar a ditadura: os sujeitos e suas agoes
O conjunto de narrativas trata do periodo que se inicia com golpe
de Estado como agenciado principalmente pelas Forgas Armadas bra-
sileiras. Poucas colegSes mencionam explicitamente a participagao da
sociedade civil durante a ditadura, atribuindo a determinados repre-
sentantes da elite uma alianga com os militares para o Golpe, como no
trecho seguinte da colegao 2, volume do 9 ano (p. 208):
Em 1964, setores civis e militares arquitetaram um golpe de Estado que
derrubou 0 governe do presidente Joao Goulart e deu inicio ao periodo
da ditadura militar no Brasil. As forgas que apoiaram o golpe de 1964
— formada pelos grupos mais conservadores da sociedade brasileira,
incluindo partidos p
icos, representantes das elites econdémicas na-
cionais e internacionais — acreditavam que a implantagio de um go-
verno forte, com base militar, seria capaz de promover [...].
Qs sujeitos elencados na confusa crise do governo Jodo Goulart sao
sintetizados em uma “elite” econdmica e politica conservadora que se
associa aos militares. Em muitas dessas narrativas, ocorre a apropria-
cio do termo proposto por uma nova historiografia do periodo como
“golpe civil-militar”.”
Entretanto, apés esse Momento, Mesmo esscs apoiadores desapare-
cem da narrativa, que passa a sé desenvolver em torno das ages dos
To Eo caro do artigo de Daniel Aatio Reis, publicado no Jornal O Globo em 31
mar. 2012.
257
militares, representados na figura dos presidentes militares do
do. Dessa maneira, se no momento da crise do governo Jodo
ha uma profusio de setores, grupos ¢ individuos em luta, a pil
implantagao da ditadura mencionam-se passeatas pontuais até
apesar de ocorrerem com grande afluéncia de sujeitos especii
tudantes, intelectuais e classe artistica, quando é baixado o mal
lento ato institucional, o AI-5. De certa maneira, a narrativa ele
manifestantes como representantes da presenga e participagio
oposicao da sociedade civil durante a vigéncia da ditadura.
Essa lacuna encontra correspondéncia nas referéncias utili
ena producao historiografica. Muitos historiadores sustentam qi
participacao civil ocorreu no momento do golpe e depois os mill
ocuparam o Estado. Mas isso também nao esta dito nas narratl
A esse apagamento dos outros sujeitos sociais e ao foco quase exel
sivo nos militares na implantagao da ditadura segue-se, em po
colegGes, uma justificativa para a tolerdncia social ao golpe milili
“A expectativa era que ele apenas completasse o mandato de Jol
Goulart [...] por isso, inicialmente, muitos setores nao se opuseram o
novo governo. Porém, o governo militar se prolongou” (colegao 1
v. 92 ano, p. 196).
A maioria das colegdes desenvolve sua narrativa sobre a ditadura
partir da sucessao de presidentes, conforme a tradigao da histéria ese
lar sobre o periodo republicano brasileiro. Seguindo o mesmo mode
9 conjunto de generais do periodo é apresentado com suas reali:
especialmente no que se refere aos atos institucionais que contribui
para a manutengio do regime de excegao, explicados em maior ou m
nor detalhe nas diferentes colegdes,
Algumas colegdes se valem de uma categorizacao criada na produ
cao historiografica nacional e baseada na ciéncia politica, que relacio
os militares e, por conseguinte, os presidentes a duas tendéncias dente
do pensamento militar 4 época: a linha moderada, mais intelectualiz
da, e a linha dura, que seria a principal responsdvel pela face violenta
da ditadura."' Em algumas obras sdo apresentadas épocas dentro do.
regime militar: “Anos de Chumbo”, “Milagre econémico”, “transigao”
11, Como exemplo dessa proposigio no Aambito da historiografia, ver Fausto (2012)
Essa é uma das obras arroladas nas bibliografias de diversos livras didaticos analisados,
258
ou “abertura”, relacionadas com determinadas caractert
to politico (repressdo, censura, mobilizagao social, resisténcia), econd-
mico (desenvolvimento, empréstimos, obras monumentais, inflagao) ou
ainda cultural (vitéria na Copa do Mundo, produgao artistica de resis-
téncia, alienagao). Essas denominagées se combinam, caracterizando 0
periodo de governo de cada presidente militar.
‘Ao teferir-se 4 face mais sombria da ditadura, sintetizada na de-
nominagao “Anos de Chumbo”, as colegées silenciam sobre o possivel
consentimento social 4s agdes atribuidas a linha dura dos militares: pri-
sdes, torturas, assassinatos, desaparecimentos inexplicados. A denomi
nagao “poroes da ditadura”, utilizada por vezes, distancia tais atos da
vida cotidiana ¢ da responsabilidade social pela sua ocorréncia. Uma
das narrativas justifica que “as agdes dos militares dentro desses orgaos
eram totalmente omitidas da populago, que, em razdo da censura, se
mantinha desinformada das atrocidades cometidas pelo regime” (cole-
cio 1, v. 9° ano, p. 197).
Dessa maneira, é possivel perceber alguns movimentos da narrativa
na incorporacdo da sociedade ¢ de seus segmentos ao longo do periodo.
No primeiro momento, ja registrado, a sociedade civil é representada
por artistas, intelectuais e estudantes que participam de passeatas con-
tra o regime nos primeiros momentos da ditadura. Algumas liderangas
politicas se interpGem e sio neutralizadas com o exilio. A seguir, diante
do endurecimento do regime, cria-se e desaparece o movimento da luta
armada, justificado por esse endurecimento. E uma parte da produgdo
artistica € qualificada, da mesma forma que o movimento da luta ar-
mada, como representante da resisténcia ao regime.'?
Percebe-se assim que um mecanismo externo ao texto, sua Compo-
sigo a partir da intertextualidade com a produgao historiografica, ela
propria afetada pela vivéncia e necessidade de posicionamento diante
dos acontecimentos, afeta diretamente o potencial de sentidos da nar-
rativa sobre a ditadura.
12. Tal posicionamento, encontrado na maioria das narrativas analisadas, sc constitui
em releitura de obras que clamam pela atuagio social de resisténcia durante a dita-
dura, 0 que comeca a ser problematizado por historiadores do periodo (Rollemberg,
2006:81).
259
eal
O desfecho da ditadura militar no Brasil
© desfecho da ditadura transcorre com o gradual fortalecimento da
sociedade civil como protagonista da histéria, no conjunto das narra-
tivas analisadas. Mesmo nas obras cujos capitulos se organizam tendo
como referéncia cada presidente e suas realizagdes, o nome do ultimo
presidente, Joao Baptista Figueiredo, é pouco citado, sendo atribul-
do protagonismo a segmentos sociais: sindicatos, Igreja, artistas, Con-
Bresso, diversos politicos — muitos retornados do exilio € alguns ou-
tros presentes na vida politica, como Dante de Oliveira, Ulisses Guima-
raes e Tancredo Neves. No conjunto das narrativas, especialmente nas
dimensées politica ¢ institucional, e no plano da expressao dos direitos
civis, incluindo a liberdade de expressao, os militares foram recuando
em suas medidas de excegdo e, a0 mesmo tempo, possibilitando a rea-
bertura, como no caso da anistia, que trouxe de volta ao pais persona-
gens exilados no inicio da ditadura.
© momento mais marcante registrado pelas diferentes narrati-
vas antes do desfecho, demonstrativo do fortalecimento da sociedade
como sujeito histérico, é 0 movimento das “Diretas Ja”, quando mi-
Ihares de pessoas foram as ruas em diferentes cidades para declarar o
desejo de acabar com a ditadura por intermédio do fim das eleigdes
indiretas para presidente. Afinal, o cargo de presidente da Repiiblica
era ocupado por meio da eleicao em um colégio eleitoral que durante a
ditadura propiciara a continuidade dos militares 4 frente do mais alto
cargo do Executivo federal.
O projeto de lei sobre as eleigées diretas foi derrotado, mas surgiu
uma candidatura de consenso entre os partidos Para concorrer ao colé-
gio cleitoral. Com um toque ti igico, houve a morte do presidente eleito
na véspera de sua posse, dando-se prosseguimento ao rito de transmis~
sdo do poder ao vice-presidente, José Sarney. A partir desse governo re-
sultante de um processo planejado de retirada do poder pelos militares,
a democracia se restabeleceu no Brasil.
Entretanto, mais uma vez, se por um lado todas as narrativas rela-
tam esses acontecimentos, com os nomes dos personagens envolvidos,
as datas ¢ os locais, uma parte dos livros ndo explicita esse momento
de passagem claramente. Muitas narrativas nao deixam suficientemen-
260
A GRACUIS MIIKSr Nas Narrativds Gigdtite>
te claro que a elei¢ao indireta dos primeiros civis, comprometida com
uma carta de intengdes democratica que se consubstanciaria na consti-
tuicao cidada, concretizou a retirada dos militares do poder, acabando
com a ditadura que durara 21 anos.
Vejamos um exemplo de desfecho pouco elucidativo na conclusdo
da narrativa presente na colecdo 8, volume do 9° ano (p. 207-208):
Passada a decepgao pela derrota da emenda Dante de Oliveira, orga-
nizaram-se duas chapas que concorreram 4s eleigdes indiretas para a
presidéncia da republica. Pelo PDS candidatou-se Paulo Maluf; da co-
ligagio PMDB/PFL (Partido da Frente Liberal, criado por um grupo
que se desmembrou do PDS), candidatou-se Tancredo Neves, que saiu
vencedor no colégio eleitoral em janeiro de 1985.
Leal
José Sarney assumiu a presidéncia da Repiblica no mesmo dia da
morte de Tancredo Neves, herdando dos governos anteriores uma
grave crise caracterizada por divida externa, desemprego e arrocho
salarial.
Uma apreciagao comparativa entre José Sarney, o vice-presidente
que acaba por ocupar a presidéncia, e os militares se constitui em uma
Gltima e vaga referéncia aos militares no paragrafo seguinte: “Embora
pertencendo a um partido conservador, o PFL, José Sarney [...] repre-
sentou um consenso — melhor ele que os militares”.
Dessa maneira, no momento da abertura os militares se retiram
de cena do mesmo modo que desaparece a sociedade brasileira como
sujeito historico durante boa parte da ditadura militar. Essa retirada
silenciosa e silenciada concretiza o desejo do presidente Figueiredo, ci-
tado em apenas uma das narrativas: “Que me esquegam!”.
Conclui-se que existe descontinuidade no estabelecimento dos
personagens sociedade civil e militares na narrativa sobre a ditadura
civil-militar brasileira. Como visto no segmento anterior, existe uma
tendéncia no conjunto das colegdes de apresentar a sociedade a época
de Jango dividida entre concepgées ideoldgicas acerca de seu projeto.
Durante a ditadura, os setores de vanguarda, ou de esquerda, perma-
necem existindo ¢ agindo de diversas formas e os conservadores, ou de
261
direita, desaparecem da cena publica, nao sendo mais mencionados, On
“militares” ¢ cada presidente em seu periodo passam a personalizar
Pensamento € a agao conservadora. Em grande parte das colecées, no
fim da década de 1970 e inicio da de 1980, no momento da abertura,
toda a sociedade como que ressuscita — de forma coesa — participan: —
do de passeatas e manifestagées puiblicas, fortalecendo movimentos so-
ciais diversos, como sindicatos ¢ associagées, propondo e endossando
agGes pelo fim da ditadura.
cr Assim, as narrativas analisadas atribuem a sociedade brasileira
como um todo a responsabilidade pelo enfraquecimento da ditadura,
mesmo quando silencia ou se ausenta. Tal tendéncia sugere existir uma
questéo — que sabemos extrapolar os livros didaticos — em torno de
l quem é a sociedade brasileira, em sua diversidade e historicidade.
A partir dos sujeitos coletivos apresentados no quadro anterior,
uma parte das coleges sugere uma associa¢ao subliminar entre a so-
ciedade, 0 povo e segmentos populares, estabelecendo uma dicotomia
entre povo e elite, tal como se essa elite nao fizesse parte da sociedade
em sua historicidade.
lie Se, por um lado, uma narrativa de sintese como a do livro didatico
possivelmente tera dificuldades para expor e trabalhar com a comple-
xidade constitutiva dessas categorias organizadoras do mundo social,
Por outro, a assungao de dicotomias que simplifiquem tais categorias
pode nao habilitar o leitor a compreender de forma mais adequada tais
narrativas. Afinal, se a narrativa é uma proposta de sentido ¢ entre esses
sentidos esta o de sua perspectiva analitica, dessa forma podem se per-
tL Ppetuar visGes simplificadas sobre as relacdes sociais nas novas Beragées.
0
senso historiografico e o consenso da narrativa escolar
Beatriz Sarlo, em sua obra Tempo passado, diferencia historia e memé-
ria, considerando o lugar social da meméria, mas, a0 mesmo tempo,
defendendo a especificidade da histéria no enfrentamento do passado
(Sarlo, 2007). Ela também diferencia, a partir dessas duas nogdes, os
usos sociais da meméria ¢ da histéria, discernindo os compromissos
de oficio na produgao do conhecimento histérico, a mobilizacao da
262
historia/memoria pelos meios de comunicagao segundo as regras do
mercado cultural e as expectativas sociais quanto histéria escolar.
A autora sustenta que, diferentemente da exigéncia critica da hist6- al
ria de matiz académico, existe uma expectativa social de que a histéria
escolar apresente aos alunos uma narrativa com principio, meio e fim,
em que a sequéncia causal esteja clara para seu publico e os pontos de
dissenso sejam superados em favor das finalidades sociais do seu ensino.
Messe sentido, a historia e a memoria seriam mobilizadas diferentemen-
te na instancia didatica ¢ a produgao de uma narrativa compreensivel
pelo piiblico estudantil estaria no horizonte dos usos do passado pela
escola. 4
‘Ao analisar o tratamento do tema da ditadura militar no Brasil nas
narrativas de livros didaticos de histéria do Ensino Fundamental, é possi-
vel concluir que elas atendem A finalidade social de apresentacdo de uma
histéria compreensivel 4s novas geragdes, porém com algumas lacunas €
incongruéncias relativas a mecanismos internos € externos ao texto.
Em relacdo aos aspectos internos ao texto, diversas narrativas pa-
decem de poucos mecanismos coesivos, que conferem coeréncia, entre
diferentes denominagdes relativas aos sujeitos historicos que atuaram
no momento, necessitando atribuir maior clareza quanto as relagdes de
pertencimento ou antagonismo entre correntes de pensamento a que se
filiavam os segmentos sociais, bem como os individuos. Ainda como
elementos internos, a narrativa nao contribui, seja pela separagao ¢
alternancia em capitulos sem remissao aos capitulos anteriores, seja
por nao estabelecer nexos causais claros, entre os fatores propiciadores,
desenvolvimento da ditadura e seu desfecho.
A histéria tem principio, meio e fim, mas as relagGes entre essas
partes no estdo suficientemente claras para o jovem leitor. Com isso,
a proposta de sentidos da narrativa perde seu potencial de compreen-
so, Passeia-se algumas vezes pelos acontecimentos em seus detalhes
jornalisticos, lugar de existéncia plena dos sujeitos individuais, mais ou
menos inseridos em grupos e correntes que atuam como sujeitos cole-
tivos, sem explicitar suficientemente as relagdes existentes entre esses
elementos para leitores de novas geragGes.
Em relagdo aos mecanismos externos de constituicao do texto, con-
siderando que qualquer texto dialoga com outros textos ¢ com a rea-
263
lidade social, destaca-se a apropriacao didatica de um conjunto hete-
réclito de registros sobre acontecimentos recentes. A andlise realizada
permite concluir que a narrativa escolar padece dos constrangimentos
préprios da temporalidade em que ela ¢ escrita, a partir de outras escri-
tas também constrangidas. Sao fontes produzidas no calor da hora, sob
o impacto da meméria e dos deveres que se constréi em relagio a ela.
Segundo Fico, a abordagem propriamente histérica sobre o golpe de
64 € o regime que o sucedeu é recente, em um movimento de incorpo-
racao, pelos historiadores, de tematicas tratadas quase exclusivamente
por cientistas politicos ¢ sociélogos e narradas pelos préprios participes
até entio. O autor acrescenta que a literatura ficou marcada, em uma
primeira fase, por dois importantes géneros. O primeiro, pela busca de
caracteriza¢ao das crises militares de paises como o Brasil, amparados
em especial pela ciéncia politica. O segundo género se caracteriza pela
memorialistica, tendo surgido e crescido durante a abertura politica no
governo Geisel. O autor afirma: “Foi essa memorialistica que consti-
tuiu o primeiro conjunto de versdes sobre a ditadura militar, algumas
das quais se revelariam mitos ou estereétipos” (Fico, 2004).
Dessa maneira, os problemas da escrita da narrativa histérica es-
colar se referem em parte a suas fontes, pois ela mobiliza a produgdo
hist6rica sobre o periodo publicada entre 1986 e 2007, intensamente
marcada pela historiografia do tempo presente em sua problematica,
Em principio, a histéria acontecida recentemente repercute sobre a es-
crita histérica e¢ jornalistica, a seguir, ou até quase simultaneamente,
sobre a escrita diddtica e, depois, sobre a leirura escolar da narrativa
sobre os acontecimentos narrados nessas histérias.
Ao serem demandados a escrever sobre acontecimentos recentes, 08
autores de livros didaticos necessitam produzir uma sintese que, com-
preendida pelo leitor, institua uma ponte no tempo para 0 leitor, tor~
nando este apto para “seguir a histéria”, conforme nos diz Nicolazzi.
Completamos, as formas linguisticas escolhidas para sua composi¢ao
contribuem para essa aptidao. Outro desafio para os autores de livros
didaticos ao tratar com temas recentes é a auséncia de fontes; outro, é
a abundancia de fontes jornalisticas ou memorialisticas.
Diversas obras voltadas ao grande publico pretenderam contar-lhes
“a historia que aconteceu”, como indica o livro cujo titulo é Brasil:
264
a histévia contada por quem vis, ou mobilizar a opiniao publica em
um momento de inicio da democracia, na busca de resgate de aconte-
cimentos velados. O livro Brasil, munca mais, citado em cinco obras
das 15 analisadas como recomendagao de leitura complementar ou na
bibliografia, é um dos que indicam o tamanho do desafio posto aos au-
tores de livros didaticos para a produgdo dessa narrativa por sua carga
necessdria de dentncia no final da ditadura."*®
Se a produgao histérica sobre o periodo é recente, polémica e ainda
impactada pela experiéncia da propria ditadura, o repertério de fontes
utilizadas ¢ os mecanismos de producio da sintese narrativa escolar
parecem repercutir os problemas encontrados na historiografia sobre
© periodo. Com isso, se produz certo embagamento nos potenciais de
sentido dessas narrativas, em suas escolhas sobre o que vale a pena ser
contado e de que maneira. Os leitores poderao nao entender bem nem
a narrativa em sua dimensao factual nem sua proposta analitica, fragi-
lizada em uma sintese histérica pouco clara.
Outro aspecto externo remete aos compromissos com as represen-
tages sobre os sujeitos. A maioria delas alivia discursivamente a repre-
sentagio da sociedade civil brasileira de seu papel nem sempre heroico
durante a ditadura. A polarizacdo no momento da crise que antecede
4 implantagio da ditadura e durante a ditadura é sintomatica. Ela €
retirada da cena da narrativa no momento em que se iniciam as acdes
mais truculentas sobre os sujeitos, especialmente os filiados as corren-
tes denominadas de esquerda, no momento de polarizagao ideolégica
durante o governo Jango.
13. Organizamos 0s titulos citados nos 15 livros, em bibliografias finais, dirigidas ao
professor, ou no final do capitulo, dirigidas aos alunos, apresentando aqui os que fo-
ram mais citados, em trés, quatro, ou cinco colegdes. Citado em cinco obras: ARQUI-
DIOCESE DE SAO PAULO. Brasil nunca mais. Petropolis; Vozes, 1985. Citadas em
quatro obras: SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getsilio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 2000; GASPARI, Elio, A Ditadura derrotada, $30 Paulo: Companhia das Le-
tras, 2003; BARROS, Edgard Luiz. Os governos militares. Sio Paulo: Contexto, s.d.
Citados em trés obras: DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Agao
Politica, Poder e Golpe de Classe. Petropolis: Vozes, 1981; SKIDMORE, Thomas. Bra-
sil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; FAUSTO, Boris. Histéria
do Brasil. 8. ed. Sao Paulo: Edusp, 2007; GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. Sia
Paulo: Companhia das Letras, 2002; GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada,
$40 Paulo: Companhia das letras, 2002; REIS, Daniel Aaro. Ditadtra militar, es-
querda e sociedade, Rio de Janeiro: Zahar, 2000; CHIAVENATTO, Julio José. O
Golpe de 64 e a ditadura militar. S40 Paulo: Moderna, 2004.
265
r
A atribuigdo quase exclusiva de protagonismo aos militares dura
15 anos da ditadura silencia o lugar de seus antagonistas. O regi
de resisténcia por parte de alguns grupos, tais como a luta armada
uma parte da classe artistica, com sua produgao musical ou teatral,
preenche 0 vazio deixado pela sociedade civil, mas propicia certo
forto 4 leitura. O grande destaque para o ressurgimento dos movi
tos sociais no momento em que a ditadura ja nao se sustentava mal
ofuscando os militares que ainda estavam no poder, sugere um enredo
ficcional em que essa sociedade estava em sono profundo € acordava,
apés 15 anos, de um pesadelo.
Dessa maneira, nas lacunas que deixam, seja sobre a sequéncia nar-
rativa com suas relagGes causais, seja sobre o papel de determinados
sujeitos, em especial sobre a sociedade brasileira como sujeito, as nar
rativas que predominam nos livros didaticos enfraquecem sua proposta
de sentidos sobre o periodo da ditadura militar no Brasil, podendo ter
diminuida sua contribuigdo 4 formagao histérica de novas geragdes.
Daniel Aarao Reis é um dos historiadores brasileiros que questionam
a histéria-meméria que ainda prevalece sobre a ditadura civil-militar no
Brasil. Ele menciona uma “interessada meméria” que contribui para o
desconhecimento social sobre o passado recente. Trazemos para a esfera
dos livros didaticos o que ele afirma em relacdo a produgao historiografi-
¢a sobre o periodo: “Enquanto tudo isso prevalecer, a Historia sera uma
simples refém da meméria, e serao escassas as possibilidades de compre
ensao das complexas relagdes entre sociedade e ditadura” (Reis, 2012).
A inclusao de contetidos como a ditadura militar no Brasil nos livros
didaticos, ou sua reformulagao através do tempo, ocorre a partir do reco-
nhecimento de sua relevancia para a transmissdo de legados que, quando
ganham sentido para os alunos, conformam potencialmente identidades,
mais conscientes dos perigos da omissao que consente, bem como dos
apoios velados que contribuem para 0 exercicio da violéncia.
Ao final deste texto desejamos demonstrar que a tarefa dos livros
didaticos na elaboragdo de sua narrativa sobre a histéria a ser conheci-
da por novas geracées é complexa e nem sempre exitosa. Nao pela ab-
soluta responsabilidade dos seus autores. Mas por fatores que incluem
0s Movimentos entre o que acontece como histéria € sua escrita para
diferentes piblicos, nem sempre considerados.
266
[ Se, como afirmam Guyon ¢ € colaboradores, a meméria oculta os
eventos que prejudicaram a coesao do grupo e legitima o presente,
constituindo uma visdo ideal da sociedade, a historia recente, deman-
dada a ser escrita com fins escolares, se mostra um terreno ainda mais
delicado para os autores de livros didaticos por conta de diferentes
expectativas sociais ¢, por vezes, contraditérias, em torno da narrativa
(Me da historia (Guyon et al., 1994).
Referéncias
AMEZOLA, Gonzalo de. £ possivel necessdrio ensinar histria do tempo pre-
sente na escola? Algumas reflexdes sobre o caso argentino. In: PORTO, Gil-
son (Org.) Histéria do tempo presente. Bauru: EDUSC, 2007, p. 150-151.
BAKTHIN, Mikhail. Os géneros do discurso. In__. Estética da criagao verbal.
‘Tradugao de Paulo Bezerra. Sao Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 261-269.
BRASIL. Guia dos livros diddticos PNLD 2011: historia. Brasilia: Ministério
da Educacao, Secretaria de Educacio Infantil e Fundamental, 2011.
CARRETERO, Mario. Documentos de identidade: a construgao da memoria
histérica em um mundo globalizado. Porto Alegre: Artmed, 2010.
CERTEAU, Michel de. A eserita da historia. Tradugao de Maria de Lourdes
Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitdria, 1982.
CHERVEL, André. Historia das disciplinas escolares: reflexdes sobre um cam-
po de pesquisa. Teoria e Educagio, v. 2, p. 177-229, 1990.
CHOPPIN, Alain. Histéria dos livros e das edigdes didaticas: sobre o estado
da arte. Tradugao de Maria Adriana C. Cappello. Educagio e Pesquisa,
v. 30, n. 3, p. 549-566, 2004.
COSTA LIMA, Luiz. Perguntar-se sobre a escrita da histéria. Varia Historia,
Belo Horizonte, y. 22, n. 36, p. 395-423, 2006.
DOSSE, Francois. Histéria do tempo presente € historiografia. Tempo e Argu-
mento, ¥. 4, n. 1, p. 5-22, 2012.
DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987.
FAUSTO, Boris, Histéria do Brasil. 12. ed. Sao Paulo: Edusp, 2012.
FICO, Carlos. Histéria do tempo presente, eventos traumaticos e documentos
sensiveis: o caso brasileiro. Varia Historia, v. 28, n. 47, p. 43-59, 2012.
_Versées e controvérsias sobre 1964 ¢ a ditadura militar. Revista Bra-
sileira de Historia, S40 Paulo, v. 24, n. 47, p- 29-60, 2004.
267
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Jovens Negros, Representações Das Culturas JuvenisDocument11 pagesJovens Negros, Representações Das Culturas JuvenisTiago MeloNo ratings yet
- Estatuto Da UFRJDocument89 pagesEstatuto Da UFRJTiago MeloNo ratings yet
- Conhecimento de InformáticaDocument1 pageConhecimento de InformáticaTiago MeloNo ratings yet
- LegislaçãoDocument1 pageLegislaçãoTiago MeloNo ratings yet
- Primo Levi e Os Limites Da Representação (Cleber Felipe)Document21 pagesPrimo Levi e Os Limites Da Representação (Cleber Felipe)Tiago MeloNo ratings yet
- Existe Fascismo de Esquerda (Raymundo de Lima)Document13 pagesExiste Fascismo de Esquerda (Raymundo de Lima)Tiago MeloNo ratings yet
- A Reforma Urbana e o Seu Avesso (Pechman e Fritsch)Document57 pagesA Reforma Urbana e o Seu Avesso (Pechman e Fritsch)Tiago MeloNo ratings yet
- Páginas de Aprovados Petropolis 2012Document2 pagesPáginas de Aprovados Petropolis 2012Tiago MeloNo ratings yet
- Acre, A Patria Dos Proscritos (Francisco Bento Da Silva)Document363 pagesAcre, A Patria Dos Proscritos (Francisco Bento Da Silva)Tiago MeloNo ratings yet
- Cidade Porosa (Bruno Carvalho)Document22 pagesCidade Porosa (Bruno Carvalho)Tiago MeloNo ratings yet
- Guia Do PNLD 2008Document47 pagesGuia Do PNLD 2008Tiago MeloNo ratings yet
- Cap 15. Devem Os Livros de História Ser Condenados (Munakata)Document12 pagesCap 15. Devem Os Livros de História Ser Condenados (Munakata)Tiago MeloNo ratings yet
- A Decolonialidade Do Corpo Negro Nas TelasDocument9 pagesA Decolonialidade Do Corpo Negro Nas TelasTiago MeloNo ratings yet