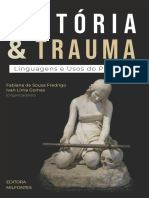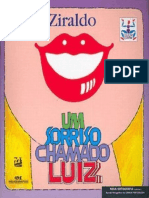Professional Documents
Culture Documents
Franco, Marina. Do Terrorismo de Estado À Violencia Estatal.
Franco, Marina. Do Terrorismo de Estado À Violencia Estatal.
Uploaded by
Daiane0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views23 pagesOriginal Title
Franco, Marina. Do Terrorismo de Estado à Violencia Estatal.
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views23 pagesFranco, Marina. Do Terrorismo de Estado À Violencia Estatal.
Franco, Marina. Do Terrorismo de Estado À Violencia Estatal.
Uploaded by
DaianeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 23
Roprico Parro SA Motta
| Organizador
DITADURAS MILITARES
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai
Belo Horizonte
Editora UFMG
| 2015
© 2015, Os autores
© 2015, Editora UFMG
Este livro ou parte dele nao pode ser reproduzido por qualquer meio sem autorizagio
escrita do Editor.
Deis Ditaduras militares: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai/ Rodrigo Patto
S4 Motta, organizador. ~ Belo Horizonte : Editora UFMG, 2015,
338 p. :il. (Humanitas)
Textos apresentados no Semindrio Internacional Ditaduras
Militares em Enfoque Comparado.
Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-423-0069-7
1. Ditaduras e ditadores — América do Sul. 2. Governo militar.
3. América do Sul ~ Politica e governo I. Motta, Rodrigo Patto Sa
IL Semindrio Internacional Ditaduras Militares em Enfoque
Comparado (2012 : Belo Horizonte). IIL, Série.
CDD: 321.98
CDU: 32 (8=6)
Elaborada pela Biblioteca Professor Antonio Luiz Paixdo - FAFICH/UFMG.
Este livro recebeu apoio financeiro da CAPES e do Programa de P6s-Graduagdo em
Historia da UFMG.
DIRETORA DA COLECAO Heloisa Maria Murgel Starling
COORDENAGAO EDITORIAL Michel Gannam
ASSISTENCIA EDITORIAL Eliane Sousa
DIREITOS AUTORAIS Maria Margareth de Lima e Renato Fernandes
COORDENAGAO DE TEXTOS Maria do Carmo Leite Ribeiro
PREPARACAO DE TEXTOS Ana Maria de Moraes
REVISAO DE PROVAS Talita Corréa ¢ Flaviana Correia
PROJETO GRAFICO Cassio Ribeiro, a partir de Gléria Campos - Manga
FORMATAGAO Victoria Arenque
MONTAGEM DE CAPA Cassio Ribeiro
PRODUGAO GRAFICA Warren Marilac
EDITORA UFMG
Ay, Ant6nio Carlos, 6.627 | CAD II | Bloco IIL
Campus Pampulha | 31270-901 | Belo Horizonte-MG | Brasil
Tel.: +55 31 3409-4650 | Fax: +55 031 3409-4768
www.editoraufmg.com.br | editora@ufmg,br
MARINA FRANCO
DO TERRORISMO DE ESTADO A
VIOLENCIA ESTATAL
Problemas histéricos e historiogrdficos
no caso argentino
Nos primeiros anos p6s-autoritdrios na Argentina, foi
tomando forma um relato que definiu a ultima ditadura mili-
tar (1976-1983) como um momento de ruptura na histéria
nacional, devido ao exercicio da repressao estatal clandestina
realizada pelas Forgas Armadas sobre amplos setores politicos
e sobre uma sociedade concebida como vitima alheia em seu
conjunto. Por sua vez, essa violéncia militar foi considerada
uma consequéncia de outra violéncia, anterior Aquela que
havia tentado combater: a das organizag6es insurrecionais de
esquerda. Contrastando com isso, a democracia — ainda com
seus problemas — emergia como ordem politica desejavel, base-
ada na tolerancia e na paz, capaz de refundar, apenas com sua
presenga, o laco social destruido, bem como de virar a pagina
da violéncia autoritaéria e militar do passado. Esse relato,
apresentado aqui de maneira muito simplificada, foi cunhado
fundamentalmente em torno das politicas do primeiro governo
radical, liderado por Rail Alfonsin, da pesquisa da Comissao
Nacional sobre 0 Desaparecimento de Pessoas (CONADEP),
da publicagdo de seu informe Nunca Mais, em 1984, e do
Julgamento das Juntas Militares em 1985.!
Essa narrativa basica, propria dos anos de 1980, foi se
modificando parcialmente em alguns aspectos como resultado
da ago incansavel dos organismos de direitos humanos e das
politicas estatais de meméria e justiga dos dltimos anos, além
ter sido resultado do desencantamento com a democracia, das
crises econémicas permanentes e da crise social e de legitimi-
dade politica de 2001. Nesse sentido, pode-se dizer que, dos
anos de 1980 até o presente (2012), os limites do pensavel
foram sendo transpostos e foram-se abrindo novas discussées
sobre o terrorismo de Estado no espaco ptiblico. Nao obstante,
acho que varios dos tracos essenciais do relato original cunhado
na transigéo mantiveram sua vigéncia e moldaram as agendas
de pesquisa sobre o passado do terrorismo estatal.
Em relacio A producio profissional sobre 0 passado
recente, diferentemente de outros paises como a Alemanha, na
Argentina nao houve realmente — ou houve muitas nuances —
um hiato ou “perfodo de laténcia”, durante o qual o passado
nao fosse objeto de pesquisa ou reflexao das Ciéncias Sociais.
Isso se deve, em boa medida, ao fato de que o processo de
transigao para a democracia nao se apoiou em uma politica de
siléncio sobre os crimes do passado, tampouco em um olhar
complacente sobre 0 ocorrido; pelo contrario, as intengdes
refundacionais do novo governo civil se assentaram sobre atos
de justiga fundamentais. Nesse sentido, temos que reconhecer
que, diferentemente do fascismo ou do nazismo, no caso da
Argentina, os organismos de direitos humanos e o Estado
argentino — em meio a tens6es e alternancias de diversas poli-
ticas — foram os atores principais na constituicao de um relato
memorial de ruptura com 0 passado. Por essa razio, a pesquisa
profissional nao se encontrou diante da tarefa de romper um
siléncio social e politico, e sim diante de um terreno propicio
para se pensar e se pesquisar sobre o tema, ainda que dentro
de certos marcos e limites.’ Isso fez com que o problema do
terrorismo de Estado, entendido em sua faceta fundamental-
mente repressiva, estivesse presente no trabalho das Ciéncias
Sociais dos anos de 1980 em diante e que se baseasse em
algumas pesquisas j4 classicas e essenciais, tais como as de
Eduardo L. Duhalde, Prudencio Garcia, Pilar Calveiro e José
Luis D’Andrea Mohr além de, sem diivida, no proprio Nunca
Mas.‘ Essas obras e, sobretudo,'a profusao de testemunhos
ptiblicos e politicas oficiais durante a ultima década instalaram
a sensacao de que a repressdo é uma questao muito revisitada
e conhecida. Porém, visibilidade e meméria nao equivalem a
conhecimento histérico. Pelo contrario, contamos com pouco
conhecimento regular e acumulado sobre as caracteristicas da
violéncia estatal nesses anos. Como destacou Gabriela Aguila,
nao ha linhas de pesquisa consolidadas e nutridas de estudos
sistematicos sobre as caracteristicas, contetidos e alcances da
aco repressiva nos distintos ambitos.* Poder-se-ia dizer, ainda,
que a maior parte da produgao profissional sobre o tema se
ssentou NOs Mesmos pressupostos que constitufram os relatos
memoriais da transi¢ao.
Considerando, entéo, somente a faceta repressiva, quais
sao esses pressupostos?
O primeiro deles € a ideia da ditadura de 1976 como divi-
sao histérica. Ainda que o tema tenha cada vez mais nuances,
em termos gerais 0 “24 de margo” - data do golpe de Estado
- funciona como uma referéncia automatica de uma experién-
cia hist6rica substancialmente distinta e isolavel do conjunto
temporal, tanto em relag&o aos anos anteriores, quanto com
respeito 4 etapa pés-autoritaria posterior. Mas, ainda que seja
assim quanto 4 pratica sistematica do desaparecimento forgado
de pessoas, isso nao pode ser entendido sem uma histéria das
légicas e processos repressivos anteriores, construidos cumu-
lativamente no tempo.
Um segundo pressuposto, derivado do anterior, se apoia
na oposicao binaria ditadura/democracia como organizadora
da perspectiva histérica sobre o passado, de maneira que a
63
associacao entre os regimes de fato repressivos e as Forgas
Armadas é um dado tornado natural e que se opde as demo-
cracias civis dissociadas de suas dimensoes autoritarias.
Por tiltimo, esse mesmo relato centrado na demoniza¢4o do
ator militar como Gnico responsavel pela violéncia repressiva
do Estado supés uma énfase quase absoluta na principal forma
de violéncia estatal e em suas vitimas: a repressao clandestina,
o desaparecimento forgado de pessoas e¢ a luta pelos direitos
humanos como seu legado histérico.
Sem diivida, a centralidade desses pressupostos — aqui muito
esquematizados ~ nao obedece a autonomia da producao inte-
lectual, muito pelo contrario. Ela é indissociavel de elementos
politicos, hist6ricos e memoriais, tais como a abundancia de
relatos testemunhais e enfoques memoriais centrados na expe-
riéncia das vitimas da violéncia clandestina e de seus familiares,
a presenga do tema no espago piiblico e as politicas publicas
de memGria e justiga centradas nesses recortes.®
NOVAS PERSPECTIVAS
Pois bem, nos debates no espago ptblico, em algumas poli-
ticas das associagGes de direitos humanos, no espaco judicial e
na prépria pesquisa profissional, comecaram a se abrir outras
linhas de interpretag4o e indagag4o que indicam a passagem a
novas perguntas, e, talvez, a longo prazo, elas deem espaco a
outro regime de memoria sobre a violéncia estatal. Dentro da
pesquisa profissional, na qual me concentrarei aqui, essas novas
perspectivas questionam as linhas motrizes do relato hege-
ménico sobre a repressdo exclusivamente centrado na tltima
ditadura militar, no ator Forcas Armadas e em seu funciona-
mento clandestino. De outra maneira, elas comecam a focar
sua atengao em aspectos menos espetaculares, em processos
com prazo maior, além de em um olhar mais atento a faceta
produtiva da violéncia estatal, sem reduzir 0 terrorismo de
Estado a sua faceta destrutiva - tal como se costuma entender
64
a repressao. Dentre essas perspectivas, eu gostaria de destacar
algumas linhas que me parecem importantes pela renovacado
de seus objetivos e perguntas de indagacai
+ Novos atores vitimas da violéncia: os estudos que se cen-
tram em grupos especificos, e muito particularmente nos
trabalhadores industriais e rurais, comecaram a mostrar
um continuo de violéncia estatal ascendente no qual se
articulam e se sobrepdem a repressao legal e a clandestina,
estatal e paraestatal, conivente com as violéncias privadas
exercidas por empregadores e patrdes, pelo menos desde 0
comego dos anos de 1970.”
Novos atores executores de violéncia: embora essa 4rea
seja muito mais incipiente como perspectiva e haja poucas
pesquisas sistematicas, emergiu outra linha de indagagao
que explora as responsabilidades e participagées efetivas
de atores civis no exercicio da violéncia estatal. Isso inclui
estudos sobre empresérios industriais que, em acordo com as
forcas de seguranga, denunciaram ¢ facilitaram a repressio
de seus trabalhadores ~ é 0 caso, por exemplo, das empresas
Mercedes Benz, Ford, Ledesma ou Astarsa, pesquisadas por
Victoria Basualdo -, até o funcionamento do necrotério ju-
dicial de Buenos Aires, onde seus funciondrios encobriram
burocratica ¢ legalmente o aparelho repressivo.*
Ampliagao de espacgos: 0 trabalho sobre historias locais
esté revelando cronologias, légicas e percepcdes sociais da
violéncia diferentes do grande relato nacional - escrito, alias,
sobre a hist6ria portenha e do estado de Buenos Aires —,
que adquiriu carater hegeménico. Essas pesquisas, ao
contarem outros processos e experiéncias, vistos, além do
mais, com uma lente menor e com mais detalhe, mostram
distintas quest6es:
1 - que a repressdo se iniciou varios anos antes de 1976 e
que teve um carater sistematico ¢ progressivo, pelo menos
a partir do inicio dos anos de 1970. Assim, alguns desses
65
66
trabalhos permitem inscrever a violéncia estatal em praticas
gerais e locais de longa e média data, nas quais se confun-
dem diversos tipos de violéncia estatal e privada, politica e
social. E esse, por exemplo, o caso dos trabalhadores rurais
no noroeste argentino, para quem 1976 nao significou uma
ruptura conclusiva em sua condicao de vitimas de diversas
violéncias sobrepostas.”
2 - que as estritas logicas do Estado-na¢ao nao sao suficien-
tes para explicar 0 crescimento da violéncia estatal. E 0 caso
do estado de Mendoza, na zona de Cuyo, na fronteira com
o Chile, onde o desenvolvimento da violéncia paraestatal
muito antes de 1976 esta intimamente ligado a chegada de
exilados da ditadura de Pinochet, a partir de 1973.!°
3 - que as légicas e formas da repressao foram muito
diferentes conforme as regides, zonas, forgas implicadas e
grupos principais de vitimas. Como indica Gabriela Aguila,
se a acdo repressiva foi articulada em um plano sistematico
implementado pelo Estado militar em nivel nacional, com
um marco juridico e legal desenhado e aplicado a partir
do golpe de Estado, a verdade é que as praticas repressivas
foram implementadas por individuos e grupos concretos,
com forcas de seguranca distintas em cada caso e com moda-
lidades, tradigdes anteriores e dispositivos especificos em
cada espago local e/ou estadual."! Isso supde que houve, na
realidade, “programas localizados” de exterminio, com um
processo fragmentado de tomada de decisdes e implemen-
tagao da repressao, além de uma multiplicidade de poderes
e légicas locais que contribuiram, em seu conjunto, com o
objetivo central de aniquilar o “inimigo subversivo”. Essa
ideia da descentralizagao operativa é um aspecto essencial,
porque permite ver as nuances de outra nogao constitutiva
das vis6es sobre o terrorismo de Estado: a imagem de seu
carter vertical, uni
terror."
‘ado e monolitico como estrutura de
+ Novos objetos: os trabalhos provenientes da Antropologia
—eem menor medida da Histéria — sobre 0 funcionamento
das burocracias policiais, penitencidrias e judiciais esto
mostrando longas duracées e permanéncias que sao relativa-
mente independentes da existéncia de governos democrati-
cos ou autoritarios. Como ja se destacou, tradicionalmente,
a atencao sobre as vitimas esteve focada nos desaparecidos,
seus entornos e as ldgicas clandestinas que os produziram.
Entretanto, as novas pesquisas sobre prisioneiros e prisdes
mostram fendmenos nao tao dissocidveis do que acontecia
nos centros de detengao de desaparecidos, além de fendme-
nos de continuidade no tempo. Essas continuidades nao sé
se estendem para tras, buscando mostrar funcionamentos
carcerarios que comegaram muito antes de 1976 — e que, em
todo caso, se intensificam depois do golpe sem mudangas
substanciais —, mas também os que sobreviveram no periodo
posterior a ditadura.”
Conjuntamente podem ser mencionados, de novo, os traba-
lhos sobre o sistema judicidrio ou as burocracias vinculadas 4
apropriacao ilegal de criangas.'* Nesse sentido, a contribuicao
fundamental, que permite descobrir esses novos objetos para
se pensar sobre a violéncia estatal, é uma atencgao dada ao
aparelho do Estado, em suas légicas burocraticas e em suas
inércias. Mas um aparelho estatal concebido nado como um
todo univoco, homogéneo e transcendente, mas sim em seu
funcionamento poroso e complexo feito de uma multiplicidade
de agéncias, orientagées, atores e praticas.
+ Novos processos: alguns trabalhos estao mostrando fen6-
menos de circulagao de ideias e representagdes que rompem
a fronteira entre civis e militares. E 0 caso de Esteban Pon-
que coloca em evidéncia a circulagao da teoria da
guerra revolucionaria e da Doutrina da Seguranca Nacional
(DSN), ou de seus pressupostos ideolégicos de base (a ideia
de guerra interna, a obsessao pelo inimigo comunista, a mi-
toriero,
litarizagao da ordem interna) entre setores militares e civis,
67
68
do fim dos anos de 1950 a 1976. Essas linhas de indagacao
permitem um avango no rompimento da ideia de uma base
ideol6gica fechada que seria patriménio das Forgas Armadas
e que explicaria exclusivamente a conduta dessa corporacao,
bem como, portanto, de boa parte do terrorismo de Estado
— tal como se estabeleceu no relato da pés-ditadura. Com
efeito, a DSN costuma funcionar como pressuposto omni
e autoexplicativo dos funcionamentos repressivos, como
um conjunto homogéneo de ideias e doutrinas militares
que, instalado por influéncias foraneas — norte-americanas
e francesas —, apenas por sua presenga jd explicaria a con-
duta repressiva de diversos atores estatais, particularmente
os castrenses. Entretanto, é necessdrio comegar a mergulhar
na circulagdo desses elementos na cultura e na tradig4o po-
litica argentinas, do ambito militar ao civil, e ndo somente
nas direitas nacionalistas e catélicas, como se fez em geral.
+ Novas periodizag6es: por ultimo, dialogando com tudo o
que se disse anteriormente, outra série de trabalhos esta
avangando no sentido de repensar as periodizag6es em tor-
no da violéncia estatal extrema, para pensar em processos,
com continuidades e descontinuidades, que nao se organi-
zam em torno dos recortes institucionais e que atravessam
transversalmente regimes democraticos e militares. Assim,
por exemplo, o tiltimo ciclo de violéncia repressiva prota-
gonizado pela ditadura militar s6 poderia ser entendido
como parte de um continuo ascendente de acées estatais
legais e clandestinas que teriam comegado por volta do fim
de 1973, durante os governos peronistas anteriores ao golpe
de Estado (1973-1976). Nessa légica, a repressao estatal
nao s6 foi um processo iniciado com governos eleitos de-
mocraticamente, como também foi preparada pelos atores
civis no poder, que geraram o espaco para o crescimento
da autonomia militar e sua agao criminosa (e nao o contra-
rio). Dessa forma, trata-se de parar de pensar sobre certas
praticas repressivas estatais como “antecedentes” a 1976,
devolvendo a elas seu significado hist6rico proprio e sua
capacidade de mostrar fendmenos autoritarios articulados,
nao episddicos ou isolados, e com peso proprio. E 0 caso
dos olhares habituais sobre a aco dos grupos parapoliciais
da Triple A, a partir de 1973, ou sobre a “Operacao Inde-
pendéncia”, realizada pelas Forgas Armadas argentinas no
estado de Tucumén, em 1975, com autorizacgao do Poder
Executivo peronista. Esses episdios costumam serem vistos
justamente como “antecedentes” e “antincios” do que viria
e nao como parte de um processo institucional e repressivo
com sua propria identidade.'6
Os elementos enumerados até aqui abrem um panorama de
novas exploragées ainda incipientes. Em alguns casos, inclu-
sive, trata-se de trabalhos breves que nado permitem falar de
linhas de pesquisa consolidadas, mas sua existéncia j4 mostra
a renovagao de perspectivas dos tiltimos anos.
Entretanto, esses mesmos avangos também nos permitem
pensar em outras linhas ainda inexploradas para entender a
violéncia repressiva da Ultima ditadura em toda a sua comple-
xidade. Sem diivida, trata-se de uma enumeraciio daquilo que
hoje, a partir do presente da enunciacao, pode ser percebido
como vazio; sem diivida, os avangos na pesquisa ampliario
essa lista e nos mostrarao novos temas e questdes que ainda
nao percebemos como tais. Dentre esses temas em aberto,
achamos que falta indagar sobre:
- 0 desenvolvimento das burocracias repressivas especificas
no médio e longo prazo de maneira transversal as rupturas
institucionais, estudando agéncias e aparelhos estatais par-
ticulares;
- anatureza ea articulagao das politicas autoritarias nacionais
com os poderes politicos locais - em particular autoridades
municipais civis e policiais locais;
69
© funcionamento repressivo concreto e diferenciado em
distintas zonas, bem como a ago das distintas forcas de
seguranga;
- adimensao e caracteristicas dos delitos econédmicos come-
tidos durante os atos repressivos;
- os perpetradores fora dos estamentos superiores que ocu-
pavam os cargos mdximos. Conhecemos pouco sobre os
atores militares, sua enorme diversidade, subjetividades,
experiéncias, relagGes pessoais ¢ institucionais, diferencas
internas e memérias;
- a aco de atores civis em espagos privados e ptiblicos em
suas diversas manifestacdes de cumplicidade, colaboragao,
deniincia efetiva, negacdo, siléncio, indiferenga moral ou
rejeigdo da ago repressiva.!”
Por tiltimo, j4 a partir de um ponto de vista conceitual e meto-
dologico, é necessdrio:
- construir novas fontes orais, em particular, atores civis nao
considerados anteriormente (agentes de diferentes burocra-
cias do Estado e membros das forgas de seguranga, cujas
posigGes e perspectivas frente ao passado mudaram com o
tempo);
- consultar novas fontes documentais; 0 progressivo “acha-
do” e a abertura de arquivos e alguns instrumentos legais
preparados pelas politicas estatais'* permitem 0 acesso a
conjuntos documentais desconhecidos ou insuspeitos em
seus potenciais, tais como arquivos policiais, administrati-
vos, militares etc.;
- rediscutir os conceitos utilizados: assim como no caso ar-
gentino a nogao de genocidio foi muito discutida no Aambito
académico e judiciario, outras nogdes como “terrorismo de
Estado” continuam sendo usadas por seu valor politico e
histérico, sem a reflexao suficiente sobre seus potenciais e
limites para definir o fenémeno estudado;!*
70
renovar nossas perspectivas com aproximagées e perguntas
que nao coloquem no centro da pesquisa as apreciagGes
morais como principal filtro de aproximagao com 0 objeto.
De maneira mais geral, a renovacao das perspectivas sobre
a ditadura e a repressao em particular requer uma norma-
lizagao que, sem perder de vista a dimensao ético-politica,
possa historiar e dessacralizar “o horror”.”°
O PROBLEMA DA PERIODIZAGAO DA
VIOLENCIA ESTATAL
A seguir, gostaria de desenvolver com mais detalhes a tiltima
questdo mencionada ao se falar da renovagao das perspecti-
vas analiticas: as novas periodizagées da violéncia estatal na
Argentina. Se focarmos a atencdo em um dos pressupostos da
matriz memorial mencionada - 0 problema das temporalida-
des da repressao —, tal como foi dito, 0 perfodo de 1976-1983
aparece como uma ruptura e excessivamente recortado do
resto do processo histérico. Por um lado, isso nao significa
que, como acontece no Chile ou no Uruguai, ou inclusive na
Alemanha, a ultima ditadura argentina tenha sido vista como
um paréntese histérico. A instabilidade institucional e a suces-
sao de golpes militares ao longo da maior parte do século 20
argentino impedem uma visdo desse tipo! Por outro lado,
também é verdade que, pela natureza do projeto ditatorial e
pela dimensao do dano social produzido, esse periodo signifi-
cou uma ruptura com praticas repressivas e modos de gestao
autoritaria anteriores. Entretanto, essa ruptura € apenas rela-
tiva, uma vez que nao pode ser entendida se nao for inserida na
histéria politica anterior. Sendo assim, € necessdrio recuperar
a “normalidade” da ditadura para poder pensar nela como
parte de um processo de médio prazo de exercicio crescente da
violéncia estatal extrema. Essa normalidade implica aceitar 0
cardter excepcional do sistema repressivo ligado ao desapare-
cimento de pessoas e 4 apropriacao de bebés, mas, ao mesmo
tempo, inscrevé-lo em uma complexa trama histérica na qual
seja continuidade e ruptura simultaneamente.
Uma das dificuldades é que a andlise da dimensio repressiva
continua relativamente presa a uma logica tradicional centrada
nos autoritarismos militares e, portanto, nos recortes institu-
cionais. A partir de uma perspectiva mais complexa, é neces-
sario pensar nos processos histéricos e nos funcionamentos
estatais repressivos de médio prazo de maneira historicamente
situada e transversal aos atores civis e militares a cargo do
poder politico. Isso nao significa que a alternancia civico-
-militar concebida como trago central da historia argentina
do século 20 deva ser deixada de lado como variavel explica-
tiva relevante — em absoluto -, e sim que é importante, mas
insuficiente para entender o desenvolvimento de certas formas
da violéncia estatal. E insuficiente porque a légica repressiva
extrema como forma de interpretagao e resolugao dos conflitos
foi adquirindo um peso cada vez maior, tendo se ampliado
como marco explicativo da agitacao social fora da corporacdo
castrense. Inclusive, se aceitassemos a ideia de que essas logicas
eliminatérias apresentaram, sobretudo, uma origem militar e
tiveram de ser explicadas pela mudanga das doutrinas militares
a partir da guerra fria - por exemplo, a ideia de um inimigo
externo de origem marxista que gerava uma ameaca de uma
gravidade tal que convocava a agdo das Forgas Armadas em
favor da defesa nacional dentro do territério e contra sua
propria populacao -, esse imagindrio poderia ser rastreado
em algumas vozes e momentos dos governos democraticos
das décadas de 1950, 1960 e 1970 na Argentina.2? Do mesmo
modo, a oposi¢ao democracia/ditadura é insuficiente, porque
0 exercicio militar do poder através de golpes de Estado por
vezes permitiu que, nesses periodos, normativas fossem impos-
tas e/ou que fossem criados instrumentos e agéncias estatais
que haviam sido propostos e sofrido resisténcia antes, durante
governos democraticos anteriores, ou que, uma vez impostas,
nao se desarticulassem depois e fossem usadas igualmente nos
perfodos democraticos e ditatoriais subsequentes. E 0 caso,
72
por exemplo, da Lei de Seguranca (Lei n° 28/840, de 28 de
setembro de 1974), implementada durante o governo de Maria
Estela Martinez de Perén e plenamente utilizada pela ultima
ditadura militar.
Dessa maneira, recuperar a “normalidade” e a insergdo
historica da ultima ditadura militar permitiria inclui-la como
parte de um processo com elementos comuns para 0 periodo
que vai, pelo menos, de 1955 a 1983. O desafio é explicar esse
periodo em sua tendéncia cumulativa e crescente, colocando
em foco sua densidade histérica especifica, e nao como mero
caminho de acumulagao repressiva em diregao a seu “climax”:
1976. A partir dessa ética, especificamente com relacao ao
problema da violéncia estatal, varios periodos distintos pode-
riam ser recortados:%
- Ciclo 1955-1983: uma série de elementos comuns parece
caracterizar esse periodo quanto 4s praticas e légica esta-
tais repressivas. Como rapida e provisdria tentativa esses
elementos incluem 0 us0 sistemdtico de medidas de excegéo
para responder a conflitos politicos e sociais, a militarizagao
da ordem interna, a assimilacdo entre seguranga interior
e defesa nacional e a construcdo de inimigos internos a
eliminar. A diferenca ou novidade nao esta na presenga de
cada um deles - que podem ser encontrados em outros pe-
rfodos e momentos da histéria argentina —, mas sim em sua
presenca como conjunto articulado que conformou novas
maneiras de entender a resolugao de conflitos internos ¢ 0
disciplinamento social nas décadas mencionadas.
Se for possivel pensar em um ciclo repressivo especifico que
vai de 1955 a 1983, esse periodo se constitui por continuida-
des e descontinuidades que impedem qualquer leitura linear.
Dentro desse periodo amplo podem ser identificados, por sua
vez, alguns ciclos especificos:
- Ciclo 1966-1983: h4 aqui uma subunidade complexa que
une a ditadura iniciada em 1966, por Juan Carlos Ongania,
© governo peronista subsequente, de 1973 a 1976 e, depois,
73
a tiltima ditadura. Nessa diversidade de regimes e condugdes
politicas, existe, entretanto, uma légica repressiva em au-
mento com caracteristicas bastante similares. Para citar um
exemplo, o decreto-lei de Defesa de 1966 (Lei n° 16.970),
que imprimiu a légica da seguranga nacional na legislacao,
esteve vigente até 1988, nao tendo sido revogado nem sequer
durante o governo democratico anterior a ultima ditadura.
Essa légica repressiva crescente do periodo implicou o
desenvolvimento de agéncias estatais, normas e praticas
repressivas especificas que articulavam formas legais e clan-
destinas de violéncia estatal. A grande transformacdo interna
dentro desse ciclo consistiu no crescente peso que as légicas
clandestinas adquiriram sobre as formas repressivas oficiais e
visiveis — considerando sempre que umas e outras se articula-
ram solidariamente e fizeram parte de um mesmo fendmeno.
- Ciclo 1973-1976: pois bem, se o momento 1966-1983 cons-
titui uma unidade descontinua de crescente disciplinamento
autoritario, dentro dele se desenha outro momento ainda
mais especifico, que foram os anos imediatamente anterio-
res a ultima ditadura, os governos peronistas entre 1973 e
1976. Esse constitui um momento especifico porque nele os
governos foram democraticamente eleitos e, portanto, nao
se pode omitir a natureza particular desse processo politico
em favor de se pensar em uma suposta identidade autori-
tdria para todo o perfodo de 1966-1976. Ou seja, os anos
de 1973-1976 sao, na realidade, o dado mais eloquente do
processo que tentamos mostrar: foi um governo democré-
tico que revogou a legislagao repressiva anterior e, poucos
meses depois, comegou a restabelecé-la progressivamente.”*
Portanto, considerar a particularidade desse recorte poli-
tico-institucional permite dimensionar um fator especifico
que é o funcionamento das ldgicas repressivas em regimes
democraticos; permite entender a especificidade da agitacao
politica extraordindria desses anos chave e, sem duvida,
74
permite discutir o peso e a responsabilidade particular do
peronismo e dos atores civis nele.
E aqui tocamos em um ponto sensivel: uma boa parte da
pesquisa e da reflexao pendente deve desentranhar o lugar infi-
nitamente complexo do peronismo na construcao da violéncia
estatal extrema. Embora como forga politica ele tenha mode-
lado formas arbitrérias e autoritérias do exercicio do poder que
Ihe sao constitutivas desde seu primeiro periodo de governo,
entre 1946 e 1955, elas nao explicam nem esgotam em absoluto
a violéncia estatal que o mesmo peronismo desencadeou entre
1973 e 1976. Em outros termos, as continuidades de estilo
no explicam os resultados; pelo contrario, nés advogamos,
novamente, pelo resgate da especificidade dos elementos que
estiveram presentes nos primeiros anos da década de 1970
e o processo particular que eles desencadearam em sua inte-
racdo: uma sociedade fortemente mobilizada, organizagdes
insurrecionais armadas, forgas de seguranga radicalizadas, um
partido de governo incapaz de gerir sua agitaco interna, crise
econdmica e conflito distributivo. Assim, novamente, se existe
um “continuo repressivo” entre 1955 e 1983, nada conduzia
linearmente a 1976.
Outro aspecto diferente que o estudo revela desses anos
anteriores A ditadura é que, no clima generalizado de violéncia
e de crise politica e econémica, foi sendo gerada uma tendén-
cia ao apoio explicito 4 agéo repressiva do Estado contra
os grupos insurrecionais, entendida como agao legitima das
Forgas Armadas para restabelecer a “ordem”. Sem divida,
esse clima foi resultado da construgao, acumulada no tempo,
de uma série de representagdes em torno do inimigo “subver-
sivo” como responsavel pelos conflitos nacionais e das Forcas
Armadas como unica possibilidade de superagao da violéncia
generalizada. Esse ponto é importante porque nao se refere
ao erroneamente chamado “consenso ditatorial” ou ao golpe
de Estado, e sim ao consenso especifico sobre a agéo repres-
siva do Estado para impor “ordem”. A legitimidade da “luta
75
antissubversiva” por parte de amplos setores politicos e sociais
foi anterior ao golpe de Estado, se manteve de pé durante toda
a ditadura e, inclusive, ha sinais claros de que a legitimidade
dessa aco perdurou também no processo de transi¢do 4 demo-
cracia. Provavelmente, s6 0 impacto do informe Nunca Mas
sobre o desaparecimento sistematico de pessoas (1984) e do
Julgamento das Juntas Militares (1985) conseguiram por em
questo a legitimidade da “luta antissubversiva”.?>
REFLEXOES FINAIS
Para concluir, pensar sobre a violéncia estatal na Argentina
é um exercicio complexo, que remete a certos lugares comuns
histéricos: por um lado, evoca diretamente a tiltima ditadura
militar e a nocao de terrorismo de Estado e, por outro, remete
a ideia genérica de que a repressao estatal foi uma constante
em nossa hist6ria do século 19 em diante. A questdo é: como
pensar na ultima ditadura como parte de determinadas formas
de gestao estatal do conflito politico e de manutenc4o da ordem
social de médio e longo prazo? Por sua vez, como pensar nas
complexidades dessa violéncia estatal sem construir genealogias
que terminem nessa ditadura como a maxima manifestagao de
uma violéncia linear e ascendente? Como pensar na violéncia
estatal sem tornd-la natural, como uma esséncia da politica
argentina? Como encontrar especificidades nas generalidades
e constantes histéricas nos eventos particulares?
Na atualidade, as novas linhas de pesquisa sobre a repressao
estatal so o resultado de varias décadas de acumulacao nos
estudos sobre a ditadura e, eu me animaria a dizer, de uma
certa saturagdo que a super-representagdo das memorias e
imagens classicas sobre as vitimas clandestinas produziu — no
espaco publico e também dentro do campo profissional. Nao
obstante, o fato de que a renovacdo possa acontecer tem a
ver com um contexto mais geral de ampliagao do socialmente
dizivel em torno do terrorismo de Estado e da percepgao do
76
rompimento progressivo desses relatos candnicos e manique-
fstas consagrados nos anos de transigao.
Trata-se de renovar o olhar e avancar na compreensio da
violéncia estatal em geral, e da ultima ditadura em particular, a
partir de novos pressupostos analiticos de base. Recapitulando
© que foi dito até aqui, parece-me que esses pressupostos
poderiam ser:
- superar a dicotomia ditadura/democracia como organiza-
dora tinica da experiéncia e do relato hist6ricos;
- superar a dicotomia Forcas Armadas/atores politicos civis;
- superar a visio do carter isolado ou erratico das praticas
repressivas Civis;
- superar a visdo da sociedade civil como alheia as légicas e
praticas repressivas;
- dar uma andlise mais complexa ao sistema repressivo, quase
que exclusivamente associado a dimensao clandestina e aos
desaparecidos;
- superar a ideia do “terrorismo de Estado” como sistema
centralizado, uniforme e monolitico de dominagao pelo
terror;
- superar a perspectiva de curto prazo da ditadura como
recorte, ou seja, inscrevé-la em uma histéria de praticas
estatais crescentes a partir de meados do século 20 e com
certas continuidades até o presente.
Sem dhivida, essas questdes nao sao todas uma novidade,
mas trata-se de tird-las do plano do enunciado de principios,
ou da declamacio ideoldgica, e dota-las de robustez histérica e
historiografica. Tudo isso, em seu conjunto, permitiria pensar
de maneira fundamentada sobre a ultima ditadura militar,
bem como sobre a violéncia estatal extrema, como resultados
e produtos da sociedade argentina.
Liian ALMEIDA
Tradugio
77
AGRADECIMENTOS
Agradeco ao Rodrigo Patto $4 Motta e 4 UFMG pelo
convite para participar do Seminario Internacional Ditaduras
Militares em Enfoque Comparado. Este texto foi preparado
para exposigao oral em dito evento, de maneira que sua versio
escrita conserva algumas marcas retoricas e de organizagao
proprias desse registro.
NOTAS
1 Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras de la democracia argentina. La re~
definicién de las identidades politicas de Alfonsin a Menem, Rosario, Homo
Sapiens, 2001; Emilio Crenzel, La historia politica del Nunca Mas, Buenos
Aires, Siglo XI, 2008; Marina Franco, Encnentros y desencuentros entre
memoria ¢ historiograffa en el caso argentino, em Eugenia Allier e Emilio
Crenzel (ed.), Memoria, historia, violencia y politica en América Latina,
México, UNAM, no prelo.
Daniel Lyovich, Historia reciente de pasados traumaticos. De los fascismos
y colaboracionismos europeos a Ia historia de la diltima dictadura argentina,
em Marina Franco e Florencia Levin (ed.), Historia reciente, Buenos Aires,
Paidés, 2007.
Ibidem. Nao obstante, também se deve reconhecer que, quando a pesquisa
emergiu como campo académico legitimado, no inicio dos anos de 2000, ela
também estava reagindo as politicas de impunidade e negagao do passado da
década de 1990.
Luis E. Duhalde, El Estado terrorista argentino. Quince aiios después, una
mirada critica, Buenos Aires, Eudeba, 1999 [1984]; Prudencio Garcia, El
drama de la autonomia militar, Madrid, Alianza, 1995; Pilar Calveiro, Poder
y desaparicién, Buenos Aires, Colihue, 2008; e José Luis d’Andrea Mohr,
‘Memoria debida, Buenos Aires, Colihue, 1999.
Gabriela Aguila, El ejercicio de la represi6n en la Argentina, em Marina Franco
Hernan Ramirez (ed.), Las dictaduras del Cono Sur, no prelo.
Para uma sintese dessas politicas e das vicissitudes publicas da meméria entre
1983 e 2010, Daniel Lvovich e Jacquelina Bisquert, La cambiante memoria de
la dictadura, Buenos Aires, Biblioteca Nacional/UNGS, 2008. Para algumas
referéncias sobre os contextos memoriais e a elaboragio do conhecimento
académico sobre o processo repressivo, ver Franco, Encuentros y desencuentros
entre memoria ¢ historiografia en el caso argentino.
Nesse grupo se destacan Pablo Pozzi e Alejandro Schneider, Los setentistas:
izquierda y clase obrera: 1969-1976, Buenos Aires, Eudeba, 2000; Agustin
Santella, La confrontacion de Villa Constitucidn (Argentina, 1975), [online],
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FSOC-UBA, 2003.
78
(Jl, n° 2), disponivel em ; Ruth
Werner e Facundo Aguirre, Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-1976,
Buenos Aires, IPS, 2007; Héctor Lobbe, La guerrilla fabril. Clase obrera e
iaquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-
1976), Buenos Aires, RyR, 2007; James Brennan e Ménica Gordillo, Cordoba
rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movilizacién social, Buenos Aires,
de la Campana, 2008; Federico Lorenz, Algo parecido a la felicidad. Una
historia de la lucha y represién de la clase trabajadora durante la década del
setenta (1973-1978). Tese de Doutorado em Ciéncias Sociais, IDES-UNGS,
2010. Sobre habitantes rurais, ver Ludmila Catela, Pasados en conflictos. De
memorias dominantes, subterraneas y denegadas, em Ernesto Bohoslavsky et
al, (ed.), Problemas de historia reciente del Cono Sur, Buenos Aires, INSAN/
UNGS, 2010, p. 99-115.
Algumas dessas novas perspectivas exigem um esclarecimento metodolégico:
© fato de que a repressao ditatorial tenha uma temporalidade maior e mais,
complexa que a habitualmente recordada nao significa que “tudo seja igual”,
nem que todo Estado, civil ou militar, democratic ou ditatorial, funcione
segundo logicas repressivas assimilaveis (para além do ponto em que toda
forma estatal implica exercicio da forga repressiva e manutengdo da ordem
interna). Embora haja um emaranhado de problemas hist6ricos a se resolver
€ questdes a discernir, a homogeneizagao em nome de invariaveis historicas
ou essencialistas obstrui a reflexdo historica, nao a esclarece.
Victoria Basualdo, Complicidad patronal-militar en la dltima dictadura ar-
gentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dalmine, Siderca, Ford, Ledesma y
Mercedes Benz, Revista Engranajes, Federaci6n de Trabajadores de la Industria
y Afines (FETIA), n. 5 (edig&o especial), mar. 2006 (consultado online em
, 5/8/2010); sobre o necrotério judicidrio, Maria José
Sarrabayrouse Oliveira, Poder judicial y dictadura. El caso de la morgue,
Buenos Aires, Editores del Puerto, 2011.
Catela, Pasados en conflicts. De memorias dominantes, subterréneas y de-
negadas.
Laura Rodriguez Agiiero, Mendoza 1972-1976. Un escenario de conflictos
y represién. Clase y género en el terreno de la protesta. Tese de Doutorado,
Faculdade de Humanidades e Ciéncias da Educacao. Universidade Nacional
de La Plata, 2013.
Aguila, El ejercicio de la represion en la Argentina.
12 Dentre os estudos locais sobre a repressio, ver Gabriela Aguila, Dictadura,
represion y sociedad en Rosario, 1976-1983, Buenos Aires, Prometeo, 2008;
Catela, Pasados en conflictos. De memorias dominantes, subterrdneas y de-
negadas; Alicia Servetto, 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias
montoneras”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010; Rodriguez Agiiero, Mendonza
1972-1976; Ana Belén Zapata, Violencia parapolicial en Bahia Blanca, 1974-
1976. Delgados limites entre lo institucional y lo ilegal en la lucha contra la
“subversion apatrida”, Revista Anos 90, Porto Alegre, v. 19, n. 35, p. 107-136,
jul. 2012 e muitas outras pesquisas em curso sobre distintas localidades.
8 Sobre o sistema carcerdrio, ver os trabalhos de Santiago Garafio e Werner
Pertot, Detenidos-aparecidos. Presas y presos politicos de Trelew a la dictadura,
79
RINT
Buenos Aires, Biblos, 2007; Santiago Garafio, El tratamiento penitenciario y
su dimension productiva de identidades (1974-1983), Revista Iberoamericana,
Dossier “La prisién politica en la Argentina, entre la historia y la memoria”,
Instituto Iberoamericano de Berlin, n, 40, 20105 e Débora d’Antonio, Trans-
formaciones y experiencias carcelarias. Prisién politica y sistema penitenciario
en la Argentina entre 1974 y 1983. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia
e Letras, Universidade de Buenos Aires, 2011. Sem igualar um periodo e outro,
até o dia de hoje o funcionamento penitenciario é uma das grandes dividas do
Estado argentino quanto a vigéncia e ao respeito aos direitos humanos.
Sarrabayrouse Oliveira, Poder judicial y dictadura; e Carla Vilalta, Entregas
y secuestros: la apropiacién de “menores” por parte del Estado. Tese de Dou-
torado em Ciéncias Antropolégicas, Buenos Aires, Universidade de Buenos
Aires, 2006.
Esteban Pontoriero, De la conmocién interior a la guerra revolucionari.
legislacién de defensa, pensamiento militar y caracterizacién de la amena
la seguridad interna en la Argentina (1958-1970). Monografia de Graduacao,
Universidade de Tres de Febrero, Buenos Aires, 2012.
a
Marina Franco, Un enemigo para la nacién. Orden interno, subversion y
guerra 1973-1976, Buenos Aires, FCE, 2012(a). Dentre outros, também Vic~
toria Itzcovitz, Estilo de gobierno y crisis politica, 1973-1976, Buenos Aires,
CEAL, 1983; Inés Izaguirre et al., Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la
Argentina. 1973-1983. Antecedentes, desarrollo, complicidades, Buenos Aires,
Eudeba, 2009; Roberto Pittaluga, El pasado reciente argentino: interrogaciones
en torno a dos problematicas, em Ernesto Bohoslavsky et al. (ed.) Problemas
de historia reciente del Cono Sur, Buenos Aires, INSAN/UNGS, 2010.
Sem diivida, h4 algumas pesquisas concretas sobre esses fendmenos, mas
continuam sendo escassas e/ou de carter nao sistematico. Dentre elas podem
ser mencionadas algumas das jé citadas, Basualdo, Revista Engranajes, n. S
(edigao especial), mar. 2006 (consultado online em ,
5/8/2010), sobre cumplicidade patronal e repressao antes de 1976; Oliveira
Sarrabayrouse, Poder judicial y dictadura, sobre 0 funcionamento do necro-
tério judicidrio durante a ditadura; sobre a apropriaco de menores, a tese
de Villalta, Entregas y secuestros. As atuais causas judiciais, muitas das quais
envolvendo acusados civis, deveriam ser fontes novas e ricas para se conhecer
esses temas,
Decreto presidencial 4/2010 (de 5 de janeiro de 2010), que estabelece a des-
classificacao de “toda aquela informacio e documentagao vinculada a agio
das Forgas Armadas durante 0 periodo compreendido entre os anos de 1976
21563",
Em particular, “terrorismo de Estado” apresenta dificuldades para definir a
cronologia da repressio, também por sua conotagio de dominacio absoluta
€ monolitica pelo “terror” que comporta. Isso nao implica sua inutilidade, e
sim, a necessidade de um uso reflexivo. Sobre os distintos conceitos ¢ usos,
ver, por exemplo, Hugo Vezzetti, Pasado y presente, Buenos Aires, Siglo XXI,
2002; Daniel Feierstein, 6! genocidio como prictica social, Buenos Aires, FCE,
2007; Daniel Rafecas, La reapertura de los procesos judiciales por crimenes
contra la humanidad, em Gabriele Andreozzi (ed.), Juicios por crimenes de
80
a
lesa humanidad en Argentina, Buenos
Pittaluga, El pasado reciente argentino
blematicas
ires, Cara y Ceca, 2011, p. 155-176;
interrogaciones en torno a dos pro-
Sobre essa questa fundamental, remetemos o leitor discussao em Ian Ker-
shaw, La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretacién, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2004, p. 287-308.
Recordemos que entre 1930 e 1983 s6 um governo democratico eleito em
cleigdes transparentes terminou seu mandato; foi o caso da primeira presidéncia
de J. D. Perén, 1946-1952.
Referimo-nos aos governos de Arturo Frondizi (1952-1958); Arturo Illia
(1963-1966) e Juan Domingo Perén e Isabel Pern (1973-1976). Nao podemos
oferecer aqui as evidéncias empiricas sobre isso; remetemos 0 leitor a Marina
Franco, Rompecabezas para armar: la seguridad interior como politica de
Estado en la historia argentina reciente (1958-1976), Revista Contempordnea,
n, 3, p. 77-96, 2012(b); € Pontoriero, De la conmocién interior a la guerra
revolucionaria,
Para uma melhor e mais detalhada caracterizagao histérica dos distintos mo-
mentos considerados nessa periodizacao, ver Franco, Revista Contempordneas
Marina Franco, La seguridad interna como politica de Estado em la Argentina
del siglo XX, em Luciano Aronne de Abreu ¢ Rodrigo Patto $4 Motta (ed.),
Autoritarismo e cultura politica, Rio de Janeiro, Fundagao Gétulio Vargas!
EDIPUCRS, 2013. Fica ainda por refletir o como incluir o ciclo que se abre
nos anos de 1930, mas acreditamos que, em 1955, via exclusao do peronismo,
logicas e praticas eliminatérias novas sdo desenhadas. Abrir 0 ciclo em 1930
talvez pusesse 0 foco excessivamente sobre a alternancia civico-militar, e no
sobre determinadas formas de gestao da violéncia de Estado.
Vale a pena esclarecer que o primeiro presidente eleito em 1973, Héctor Cam-
pora, revogou quase toda a legislagio repressiva da ditadura anterior, salvo a
mencionada lei da Defesa. Entretanto, poucos meses mais tarde, J. D. Perén e
depois sua vitiva e sucessora na presidéncia foram restabelecendo quase toda
a legislagao revogada e introduzindo outras normas similares.
Durante a transigao (1983-1984), para a maioria dos atores civis, o problema
nao era a “luta antissubversiva” ou sua legitimidade, mas sim os “abusos”
e “excessos” cometidos durante seu desenvolvimento. Essas consideracdes
sobre o perfodo de transicao fazem parte de uma pesquisa em curso sobre a
qual ainda nao tenho resultados publicados.
81
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Moorhouse - O Pacto Do DiaboDocument21 pagesMoorhouse - O Pacto Do DiaboDaianeNo ratings yet
- Friedlander - Os Anos de Extermínio 1939-1945Document10 pagesFriedlander - Os Anos de Extermínio 1939-1945DaianeNo ratings yet
- ROUSSO, Henry. "A Memória Traumática Da Europa".Document27 pagesROUSSO, Henry. "A Memória Traumática Da Europa".DaianeNo ratings yet
- Lowe Continente SelvagemDocument24 pagesLowe Continente SelvagemDaianeNo ratings yet
- Uma Facada Pelas Costas Paranoia e Teoria Da Conspiração Entre Conservadores No Refluxo Das Greves de 1917Document27 pagesUma Facada Pelas Costas Paranoia e Teoria Da Conspiração Entre Conservadores No Refluxo Das Greves de 1917DaianeNo ratings yet
- Resumo Alem Da Escravidao Rebecca J Scott Thomas C Holt Frederick CooperDocument2 pagesResumo Alem Da Escravidao Rebecca J Scott Thomas C Holt Frederick CooperDaianeNo ratings yet
- Dualidade EducacionalDocument7 pagesDualidade EducacionalJosé Carlos AleixoNo ratings yet
- La Reforma Agraria en La Araucanía Bajo El Gobierno de Salvador Allende.Document47 pagesLa Reforma Agraria en La Araucanía Bajo El Gobierno de Salvador Allende.DaianeNo ratings yet