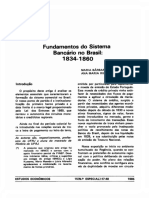Professional Documents
Culture Documents
Os Senhores Do Litoral
Os Senhores Do Litoral
Uploaded by
Fabian Domingues0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views27 pagesOriginal Title
OS SENHORES DO LITORAL
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views27 pagesOs Senhores Do Litoral
Os Senhores Do Litoral
Uploaded by
Fabian DominguesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 27
OS SENHORES DO LITORAL
Conquista Portuguesa e Agonia Tupinambé no Litoral Brasileiro
MARIO MAESTRI
Editora
da Universidade
em ede ot dB
© de Mario Maestri
If edigao: 1994
Direitos reservados desta edigdo:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Capa e planejamento grafico: Carla Luzzatto
Editorapdo : Geraldo F. Huff
‘Revisdo: Maria da Graca Storti Féres
‘Anajara Carbonell Closs
Marll de Jesus Rodrigues dos Santos
Administragdo: Silvia Maria Secrieru
Mézlo Macstrl doulorou-se pela Universit Cathoigue de Lourain, na Belgica, Letonow na
[Unlveraidade de Ro Grande eos curaoa de pos-graduaeao cm Matis da Onivercidade Federal do Rio
{de Janeiro e da Pontiicia Universidade Catollca do fo Grande do Sul- Dedlea-se a0 estudo da historia
ido Brasil e da escravidao colonial. Publicou, entre outros: O escravo dalicho: resistencia e trabalfia (2 ed,
Porto Alegre: ba. Unlversidade/UPRGS, 1953) Lo Schiavo eoloriale: lvoro# resistersa nel Hrasile
‘schiavista (Palermo: Sellerio, 1989); ‘au Brésil (Paris: Karthala, 1992); Storia del Bresile
iano: Kenia: TO0i}"# professor histhra do Bras na Uveratiace Federal do Rls Grades Sal
M1865 Maestri, Mario
Os senhores do Iitoral: conguista
RB a © agonia Tupinamba no litoral
aslo / Matio Maest = Porto alegre:
Editora da Universidade/UFRGS, 1994
1. Historia do Brasil - Conquista portu-
guesa. 2. Historia do Brasil - Eseravizagao
“Tupinambés. I. Titulo.
cDu 981.01
‘Catalogagao na publicagio: Méniea Ballejo Canto, CRB 10/1028
:
i
|
Capitulo 6
Tupinambas
Os senhores do litoral
ara tragarmos o perfil das sociedades que ha-
bitavam a costa no inicio do Quinhentos, possuimos
a documentagao escrita ¢ os registros arqueolégicos.
Sao abundantes ¢ ricas as descrigdes de europeus
que visitaram ou viveram no litoral naqueles recua-
dos tempos. Entretanto, tais relatos colocam alguns
problemas metodolégicos. Muitas vezes, eles sto
imprecisos e, jamais, ‘neutros’. Bom exemplo é 2
tendéncia a superestimagao dos dados quantitativos
quinhentistas - demograficos e outros -. Se aceita-
mos acriticamente estes mimeros, terfamos até
“doze mil” tupinambés, que podiam viver até 180
anos, caminhariam, “em fila por um”, 3.300 quil
metros “para atacar scus inimigos”"! O que sugeriria
uma fila indiana de uns 11 km! (FERNANDES, 1948: 89,
100.) Por outro lado, devido ao desenvolvimento ur-
bano e industrial de boa parte da faixa litordnea ¢
sobretudo aos poucos recursos alocados pelas autori-
dades culturais, si poucos os levantamentos ar-
quedlogicos sobre estas regides.
‘As primeira descrigdes das comunidades da
costa que chegaram até nés devem-se a Améri-
co Vespiicio, que ali esteve, em 1499-1500, € a
‘membros da frota cabralina. Como vimos, em 1°. de
maio de 1500, Pero Vaz de Caminha, escolhi-
do como escrivao da feitoria de Calecute, relata-
va adom Manuel I, em uma longa carta, entre outras
novidades, que os brasis eram gordos, saudaveis, de
fisionomia ¢ corpos bem-feitos. De cor avermelha-
da, andavam inocentemente nus ¢ enfeitavam-se
com penas. Furavam 0 lébio inferior onde introdu-
ziam pedras. O escrivao - que no retornaria a Portu-
gal - dedicou palavras elogiosas e algo sensuais as
americanas, que retratou como belas e jovens mulhe-
res de longas cabeleiras negras. (CAMINHA, 1983: 247,
250)
Com o passar dos anos, esta visio inocente €
superficial foi substituida por anilises e classifica-
es sistematicas e crescentemente preconceituosas
das comunidades do litoral. Uma curiosidade ‘etno-
grafica’ com claros objetivos pragmaticos. Em boa
parte, a sobrevivéncia dos colonos dependia da capa-
cidade de estabelecerem aliangas com os povos da
costa e inserirem-se nas disputas em curso entre eles.
Como assinalamos, em relagdo a pobreza docu-
mental geral do Quinhentos, so abundantes os rela-
tos sobre as populagdes litordneas. Nesta literatura,
& medida que cresciam os antagonismos entre colo-
4
fos e natives, os “*bem feitos” brasis ¢ as “bem
mogas” americanas metamorfoseavam-se em seres
“selvagens” e “antropéfagos”.
Sao dos séculos 16 e 17, entre outros escritos,
as cartas, de 1501 e 1504, de Américo Vesplicio
referentes ao Brasil; a carta de Pero Vaz de Caminha
(cerea 1450 - 1500), de 1500; as breves anotagdes
sobre o litoral da América do Sul, de 1519, de Ant6-
nio de Pigafetta (1491-1534), sobrevivente da ex,
digo de Fernéo de Magalhaes; as obras do francis-
cano, viajante ¢ gedgrafo francés André Thevet
(1502-1392), As singularidades da Franca Antérti-
ca, de 1558, ¢ Cosmografia universal, de 1575; as
‘obras de Pero de Magalhaes de Gandavo, Historia
da Provincia de Santa Cruz, editada em 1576, ©
Tratados da Terra do Brasil, editado em 1826.
Rica informagdo fornece o relato Duas Via-
gens ao Brasil, do mercenério alemao Hans Staden
(1526-2), editado em 1557; 0 belissimo livro do cal-
ta francés, Jean de Léry (1534-1611), Viagem &
Terra do Brasil, publicado em 1578; os tés traba-
thos do jesuita Femao Cardim (cerca 1540-1625) -
Tratados da terra e gente do Brasil -, escritos, &
crivel, em 1584, e editados, parcialmente, por pri-
meira vez, em inglés, em 1625. De grande importin-
cia sio o trabalho de Gabriel Soares de Sousa (cerca
1540-1591), Noticia do Brasil, escrito talvez em
1587 e publicado, por primeira vez, no inicio do
século 19; 0 livro Didlogos das grandezas do Brasil
presumivelmente de Ambrésio Fernandes Bran-
dao, composto em 1618 ¢ impresso em fins do sécu-
1019.
MIGRAGOES AMERICANAS,
Destacam-se também as obras dos capuchi-
hos franceses Claude d’ Abbeville (? - 1616/32) €
‘Yves d’ Evreux (cerca 1577-cerca 1620), que estive-
ram no Brasil quando da fundagao da colénia france-
sa do Maranhdo, em 1612-5; a abundante € minucio-
sa correspondéncia dos jesuitas, que comegaram a
a
chegar ao Brasil a partir de 1549; a Histéria do
Brasil, do Frei Vicente do Salvador (1564-1636/9),
escrita em 1627 e publicada nos iltimos anos do
século 19, e a Cronica da Companhia de Jesus, do
jesuita Simao de Vasconcelos (1597-1671), publica-
da, por primeira vez, em 1658. De grande ajuda na
compreensio ¢ interpretagiio da documentacao qui
nhentista sio os estudos etnograficos ¢ antropol6gi-
cos sobre comunidades nativas contemporéneas, so-
bretudo quando se referem a comunidades tupi-gua-
ranis.
Comunidades de lingua tupi-guarani, que se
teriam separado do tronco linguistico Macrotupi,
“talvez em algum lugar entre o Madeira e o Xingu”,
teriam conhecido uma verdadeira explosio expan-
sionista, hé 2 ou 3 mil anos, na Amaz6nia Central
Esta forte tendéncia expansionista esteve possivel-
mente ligada 20 dominio da agricultura. (URBAN,
1992:92,) A cultura tupi-guarani, como vimos, se as-
sentava em um complexo econdmico baseado na
caga, na pesca, na coleta, na cerémica e, sobretudo,
numa horticultura de floresta tropical e subtropical
‘que explorava a mandioca (Manihot utilissima), era
primeiro lugar, o milho (Zea mays), os feijées (Pha-
seolus e Canavalia) ¢ as batatas-doces (Ipomoea
batatas) secundariamente. (ABBEVILLE, 1975: 242:
GALVAO, 1963: 121; THEVET, 1978: 89, 95 1983; 1953: 76
43, 51) Os tupinambas cultivavam, também, entre
‘outros géneros vegetais, os carés (Dioscoréa sp), 0S
amendoins (Arachis hypogaea), as abdboras (Cur-
cubita), as bananas, 0s abacaxis, 0 tabaco, 0 algodao
¢¢ as pimentas. (METRAUX, 1928: 67; GALVAO, 1963:
121, A antropofagia e a agressividade militar eram
elementos constitutivos importantes desta tradi¢ao
cultural.
Organizados em coesas unidades produtivas €
militares - as malokas ¢ a taba -, os tupi-guaranis
partiram do bergo amazénico e evoluiram ao longo
das varzeas dos grandes rios, ocupando os quentes €
‘imidos vales fluviais. Este ecossistema - as galerias
florestais fluviais - permitia uma horticultura que
desconhecia a adubacdo sistematica ¢ os instrumen-
tos de ferro. Uma comunidade tupi-guarani de trés
ou quatro centenas de membros necessitaria de um
espago econémico de subsisténcia de aproximada-
mente 45 km. Em algumas Tegies ricas em recursos
naturais, apenas alguns quil6metros separavam uma
aldeia de outra. (FERNANDES, 1970: 55) Os jesuitas
registraram que os tupinambés, que viviam de 120 a
240 km distantes, permaneciam “em guerra, uns
com os outros”. (LEITE, 1956: 136, 227,
© braco guarani desta cultura avangou pelo
vale do Amazonas em dirego da cordilheira dos
‘Andes. Seguindo os curso dos rios Madeira, Guapo-
16, Purus e Paraguai, orientou-se para o sul, estabele-
ccendo-se ao longo deste trajeto e no Brasil meridio-
nal. O braco tupi/tupinamba chegou, mais tarde, na
foz do rio Amazonas e progrediu rapidamente para 0
sul, através do litoral, expulsando dali as comunida-
des de cagadores e coletores menos aparelhadas que
encontrou. Naquele entio, a Mata Atlantica cobria,
com pequenas interrupgSes, as planicies litordneas ¢
as encostas dos planaltos brasileiros. Esta faixa cos-
teira - de clima ameno, propria a agricultura e &
coleta (fungos, raizes, frutos, seivas, pequenos ani-
mais, larvas, etc), rica em caga e pesca (peixes, ma-
riscos, crustéiceos, etc.) - estende-se, a0 longo do
litoral, com uma largura média de 200 quilémetros.
Antes mesmo da chegada dos portugueses, o
litoral brasilico era ferreamente disputado pelas eo-
munidades nativas, de mesma ou de diferentes ori-
gens culturais. As comunidades tupinambés viviam
um processo de crescimento demografico e pratiea-
‘vam uma economia de ““ocupagao destrutiva” (FER-
ANDES. 1970:55,) As baixas temperaturas do Planal-
to Central ¢ a impropriedade das terras do interior a
uma horticultura que desconhecia a metalurgia do
ferro determinavam que, muitas vezes, a sobrevivén-
cia dos préprios grupos humanos involuerados nos
combates dependesse do resultado desta disputa ter-
ritorial. Perdendo 0 dominio de uma parcela do pi
Vilegiado habitat, estas comunidades podiam entrar
em acelerada decadéncia, Segundo 0 arqueélogo
LP.Brochado, cerea de quinhentos “anos antes da
chegada dos europeus, as duas mandibulas das fren-
tes de expansio Guarani e Tupinamba se chocaram
finalmente numa fronteira situada ao sul do curso do
Tieté". (BROCHADO, 1984.)
SENHORES DA COSTA
No inicio do Quinhentos, comunidades tupi
nambds ocupavam, com diversos nomes, a maior
parte da faixa litordnea que ia da foz do rio Amazo-
has a ilha de Cananéia, no litoral paulista. Em gran-
des trechos do litoral dos atuais estados do Mara-
nhio, Cearé, Rio Grande do Norte e Paraiba, habita-
vam os potiguaras, tradicionais aliados dos france-
ses. Do rio Paraiba até o rio Sao Francisco, viviam
08 caetés, em parte exterminados durante a fundagiio
da capitania de Pernambuco. No Pard, Maranhéo, e
do rio Séo Francisco as proximidades do rio das
Contas, no atual estado da Bahia, dominavam as
comunidades que passaram a histéria com o nome da
subcultura a que pertenciam - os “tupinambas”.
Das regides meridionais do rio das Contas a0
atual estado do Espirito Santo, viviam os tupini
quins, que sofriam forte pressio de povos do inte-
rior. O litoral do Espirito Santo - até 0 rio Paraiba do
Sul - era dominado pelos goitacases, povo nio tupi
que combateu duramente os colonos lusitanos. No
atual estado do Rio de Janeiro, do cabo de Sao Tomé
até a Angra dos Reis, viviam os tamoios / “tupinam-
bas”, que se aliaram aos franceses contra os lusita-
nos. De Angra dos Reis até a ilha de Cananéia,
dominavam 0s goianases, que ofereceram pouca re-
sisténcia aos europeus. A partir dos territérios meri-
dionais dos goianases, até a ilha de Santa Catarina, e
por amplas regides do interior, viviam os cari-
J6s/guaranis que, como vimos, haviam alcangado 0
Titoral apés uma ionga e milendria peregrinagao pelo
interior do continente.
Possuimos abundante informagao sobre os tu-
pinambés do litoral. Eles viviam em comunidades
aldeas no classistas que praticavam, como acaba-
a
mos de assinalar, a horticultura, a caga, a pesca € a
coleta. A produgao dos bens materiais realizava-se
no contexto de uma divisdo sexual e etéria do traba-
Tho. Os homens responsabilizavam-se pela caga €
pelo preparo dos campos para as plantagSes; as mu-
Theres, pelas restantes atividades horticultoras. Os
tupinambés produziam sobretudo tubérculos (man-
dioca-brava; mandioca-doce; batata-doce), legumi-
nosas (feijoes; vagens) e cereais (milho).
( produto de base da economia tupinambé era
‘a mandioca. Levantamento contempordneo em uma
comunidade nativa do rio Amazonas mostrou que @
‘mandioca ocupava 91% de toda a érea cultivada e
fomnecia de 85% a 91% do consumo diario de calo-
rias da comunidade. (SEB/1, 1987: 154.) O milho
cra utilizado mais na fabricagao de bebidas fermen-
tadas e como produto de consumacao imediata do
‘que como cereal. (THEVET, 1953: 55) A atividade
horticultora de plantago-enxertia assumia um papel
dominante na sociedade tupinamba, “ndo apenas
porque” mobilizava grande parte das energias “dos
produtores, mas sobretudo porque” determinava “a
organizagao social geral a qual as outras atividades
‘econémicas, sociais € politicas se” subordinavam.
(MEILLASSOUX, 1977: 64; GALVAO, 1963: 132.)
Em Mulheres, celeiros & capitais, o antropélo-
go francés Claude Meillassoux destacou as impor-
tantes tendéncias organizacionais determinadas as
comunidades domésticas pela “‘agricultura de plan-
tago-enxertia”. (MEILLASSOUX. 1977: 51-71.) Este
tipo de cultivo, realizando-se através da replantagio
de uma fraco do tubérculo ou do rebento, nao exige
sementes e possui um rendimento relativamente ele-
vado. Por outro lado, os produtos desta cultura so
conservados, até o momento do consumo, sobretudo
nas plantacdes, pois eles se degradam com facilidade
apés serem colhidos. A mandioca - que possui um
imenso nlimero de variedade - é um étimo exemplo.
Apés um crescimento de seis meses, ela resiste, ma-
dura, sob a terra, por pouco mais de um ano. (MAES-
TRI, 1978: §7,) Para serem consumidos, tais produtos
exigem complexas e trabalhosas manipulagdes. No
44
caso da cultura tupinambé, o esforgo beneficiador da
‘mandioca-brava, ou seja, a extrago do cido prissi-
co que a torna venenosa - era realizado pelas mulhe-
res,
DESENVOLVIMENTO LENTO
‘Ao contrério da agricultura cerealifera, a eco-
nomia doméstica de plantagdo-enxertia néo exige
amplas equipes de trabalhadores para a realizagfo de
obras coletivas (irrigagao, terraplanagem, adubagio,
etc.) ou de pesadas tarefas ciclicas (colheitas, bene-
ficiamento, transporte, armazenamento, etc.). (CHIL-
DE, 1964: 66. Ela no permite, também, como a agri-
cultura cerealifera, a formagdo de grandes estoques
Tais determinagdes da agricultura/horticultura de
plantagdio-enxertia néo contribuem & coesio dos gru-
pos sociais aldedes que a praticam.
‘As crises alimentares tupinambés, quando de
prolongados periodos de estio, deviam-se a incapa-
cidade material de formar-se reservas alimentares
reguladoras e ndo a imprevidéncia motivada por
crengas de que “a terra sempre fornece tudo para
todos”. (FERNANDES, 1948: 84) As priticas horticul-
toras brasilicas realizavam-se harmonicamente no
contexto da divisto familiar, etdria e sexual do trabs
tho e da associagao de algumas unidades produtivas
-residéncias coletivas e aldeia-.O acesso do grupo
familiar & terra, no contexto de uma aldeia, era livre
08 meios de produgdo, muito simples.
(Os grupos sociais aldedes organizados a partir
desta estrutura produtiva - modo de produgao do-
méstico - tendem a segmentagao na medida em que
se desenvolvem demograficamente. A inexisténcia
de grandes reservas alimentares ¢ a desnecessidade
de sementes e de obras sociais de vulto para o inicio
de uma nova comunidade viabilizam e facilitavam
iniciativas segmentérias. Segundo Hans Staden, 0
mercenério alemio aprisionado pelos tupinambés
em fins de 1553, inicios de 1554, um principal que
quisesse fundar uma residéncia coletiva - maloka
deveria reunir “cerca de 40 homens e mulheres”.
(STADEN, 1974: 185.)
Em geral, as aldeias - taba - se formavam com
mais de uma residéncia, Como lembra Claude Meil-
lassoux, a “segmentagdo, por ruptura com a comun
dade mae, & cada vez mais dificil 4 medida que a
agricultura se aperfeicoa”. Ela realiza-se com maior
dificuldade nas comunidades domésticas cerealife-
ras, tendencialmente mais estdveis do que nas que
praticam a agricultura de plantagao-enxertia. (MEIL-
LASSOUX. 1977: 72
Sobretudo nas comunidades domésticas assen-
tadas sobre uma agricultura de plantagdo-enxertia, 0
desenvolvimento das forgas produtivas materiais era
baixo ¢ lento, Elas possufam, igualmente, a tendén-
cia a um crescimento demogréfico que se realizava
sob forma de segmentagao da unidade-mae em co-
munidades estruturalmente similares. Tais realida-
des facilitaram as ilusdes fenomenolégicas que per-
mitiram que o desenvolvimento técnico-produtivo e
© devir historico destes grupos passassem pratica-
mente ignorados que eles fossem percebidos - so-
bretudo pelas escolas antropolégicas culturalistas,
funcionalistas e estruturalistas - como imersos per-
manentemente em uma espécie de equilibrio meca-
nico atemporal.
‘Nao temos dados precisos sobre o tamanho
médio das plantagdes tupinambas. Estimativas con-
temporiineas sugerem que hortas “‘indigenas” de
mandiocas de aproximadamente meio hectare sus-
tentariam um grupo familiar de trés a cinco pessoas.
(GALVAO, 1963: 126) A técnica de base das praticas
horticultoras - a coivara - originava-se da abundan-
cia de terras, da auséncia de ferramentas desenvolvi-
das, do desconhecimento da adubagao artificial uili-
zada em larga escala e da escassez relativa de bragos
humanos. As operagdes horticultoras no eram com-
plexas. Antes das chuvas, abria-se uma clareira na
‘mata virgem com ferramentas individuais simples
-machados de pedra polida.
TRABALHO RAPIDO.
Calcula-se que, com um machado de pedra de
500 gramas, empregue-se em torno de quatro horas
para derrubar uma drvore, de madeira resistente, de
aproximadamente 30cm. de diémetro, na altura do
corte. Com um machado de ferro, o mesmo trabalho
6 feito em meia hora, (HERING, 1908: 426- 33.) Segun-
do parece, a extenuante derrubada das matas e pre-
paro dos terrenos eram feitos, em forma associada,
pelos homens de uma residéncia coletiva ou da al-
deia, Apos, deixava-se tudo secar de duas semanas a
dois meses. A seguir, langava-se fogo. Os troncos ¢
98 ramos queimados libertavam quantidades de nu-
trientes minerais que aumentavam a fertilidade dos
terrenos. A madeira carbonizada abastecia em lenha
a aldeia durante meses. (STADEN. 1974: 162: ABBEVIL-
LE, 1975: 226; SEB\I: 47) O cosmégrafo André Thevet
escreveu que era comum que 0 fogo queimasse a
‘mata bem além do desejado pelos tupinambés. (THE-
VET, 1953: 211.) Tal método de limpeza dos terrenos
causava danos ao ecossistema da Mata Atlantica,
Portanto, um cultivo que se assentava sobre 0 uso
da energia humana, sobretudo, e do fogo, secunda-
riamente.
‘A derrubada das matas e a limpeza dos terrenos
cram tarefas exclusivamente dos homens. O macha-
do de pedra era, portanto, um instrumento essencial-
mente masculino. As mulheres ocupavam-se dos tra-
balhos agricolas restantes. Em 1627, o frei Vicente
Salvador referiu-se a esta divisio do trabalho: “Os
maridos na roga derrubam 0 mato, queimam-no ¢
dao a terra limpa as mulheres, ¢ elas plantam, mon-
dam (arrancam) a erva, colhem o fruto e 0 carregam
e levam para casa em uns cofos (cestos) mui grande
de palma, langados sobre as costas [...].” (SALVA-
DOR, 1982: 81.)
‘Apés um preparo superficial dos terrenos,
plantava-se. Os trogos de mandioca eram enterrados
na terra, Os gros de milho eram plantados com a
ajuda de um pau de cavar, ou seja, um basto pontu-
45
do de madeira, ferramenta feminina por exceléncia.
No século 20, na Amaz6nia, comunidades autécto-
nes serviam-se ainda de “‘um bastio de um metro ¢
meio de comprimento, com a ponta em bizel ou
afilada, endurecida a fogo”. (ABBEVILLE, 1975: 242;
GALVAO, 1963: 125, O estudo de comunidades nati-
‘vas contempordneas comprovam que muitas delas
cultivavam plantas titeis ao longo das trilhas. (SEB\t
173 ctpassim.) Em 1587, o senhor-de-engenho Gabriel
Soares de Sousa falou em termos muito elogiosos da
agricultura dos potiguaras: “Sao grandes lavradores
dos seus mantimentos, de que esto sempre mui
providos [...]-” (SOUSA, 1971: 55.)
As ferramentas européias - principalmente os
‘machados e cunhas de ferro - facilitavam muitissimo
0 trabalhos agricolas americanos, sobretudo a tra-
balhosa derrubada das drvores e limpeza dos terre-
nos. O que terminou determinando em forma pro-
funda, como veremos com vagar, no Capitulo XII, a
histéria dos povos da costa. As plantagies localiza-
vam-se nas imediagdes das aldeias ¢ o preparo dos
terrenos era feito, em forma individual ou associada,
sobretudo pela manha - “‘antes dos grandes calores €
do tempo da chuva’”. No Maranhao, devido ao calor,
trabalhava-se do “romper do dia” até as 10 horas ¢,
das 14, até 0 “anoitecer”. Os tupinambés ndo prati-
cavam a criago de gado com objetivo alimentar
nem possuiam animais de transporte ou de tragio -
de pequeno, médio ou grande porte. O que descarta-
va qualquer possibilidade de adubagao das terras
com o excremento animal. (ABBEVILLE, 1975: 226,
241; FERNANDES, 1948: 83, 111 THEVET, 1953: 210; FER
ANDES, 1948: 83: EVREUX, 1929: 96),
‘Até a chegada dos europeus, o gado vacum €
cavalar eram desconhecidos nas Américas. A bem
da verdade, o homem foi, de certo modo, o Unico ser
vvivo a ser criado e engordado para apés ser consumi
do, Entretanto, os tupinambs criavam em suas resi-
déncias ¢ aldeias, livres, sem objetivos alimentares,
diversas espécies de péssaros domesticados - papa-
gaios, araras, tucanos, etc. (THEVET, 1953: 167) As
46
dificuldades assinaladas da conservagao da mandio-
ca e o regime alimentar pouco'equilibrado por ela
propiciado determinavam que a caga, a pesca ea
coleta fossem indispensdveis a estas comunidades.
(MEILLASSOUX, 1977: 53)
DOMINANDO 0 HORIZONTE
As aldeias localizavam-se em um sitio alto,
arejado, perto de matas férteis, do mar, de um rio ou
de uma fonte de Agua. Préximo do litoral, caminhos
ligavam as aldeias ao mar. As aldeias permaneciam
no mesmo local de trés a seis anos e apés se desloca-
‘vam para outra paragem. Esta migragio dava-se den-
tro de um mesmo espaco geogrifico ¢ as rogas aban-
donadas eram reaproveitadas durante longos anos, ja
que continuavam fornecendo produtos cultivados e
atraindo a caga. As aldeias podiam fraccionar-se du-
rante as mudangas. Os tupinambés migravam mais
devido ao esgotamento dos recursos alimenticios da
regido - caga, pesca, coleta - do que devido a queda
da fertilidade dos terrenos.
Em realidade, as hortas - localizadas prximas
as aldeias, para facilitar o transporte da colheita até
as residéncias - ocupavam apenas uma parcela das
terras férteis. E crivel que a migragao fosse também
determinada pela degradagao crescente das condi-
0es sanitérias do meio ambiente em relagio direta
com as aldeias. Os atuais ianomis queimam suas
aldeias-residéncias cada um ou dois anos, pois as
folhas das coberturas comegam a romper-se € proli-
feram baratas, aracnideos e outros insetos nas mora-
dias, Por sua vez, 0s jivaros mudam 0 local das
aldeias cada trés ou quatro anos devido as baratas.
(SOARES, SD: 1, 246; METRAUX, 1928: 4; LEITE, 1957:
292; EVREUX, 1929: 72; KERN, 1991: 297, 306; SEB/2,
1987-43; 67; SEB/.254,)
Hans Staden deixou-nos um depoimento sobre
as aldeias tupinambés: ““Edificam suas habitagdes de
preferéncia em lugares em cuja proximidade tém
‘gua e lenha, assim como caga e peixe. Se uma
regidio se exaure, transferem seu lugar de moradia
para outro.” (STADEN, 1974: 155) Segundo Jean de
Léry e Claude d’Abbeville, a nova aldeia - com 0
mesmo nome - era erguida a uns trés a cinco quilé-
metros da anterior. (ABBEVILLE, 1975: 222: LERY, 1961:
208.) Conseqiientemente, a colonizagao/conquista de
novos territérios podia dar-se em forma quase im-
perceptivel aos agentes do préprio movimento ex-
pansionista,
O sacerdote francés Claude d’ Abbeville arro-
lou algumas das miiltiplas € pesadas tarefas femi
ninas. Além serem responsaveis por boa parte
dos trabalhos agricolas - plantar, limpar, colher-,
as mulheres cuidavam da casa e das’ criangas,
encarregavam-se do transporte de alimentos ¢
de outros objetos domésticos, buscavam agua,
Preparavam os alimentos © 0 cauim, faziam o
azeite de coco, colhiam e preparavam o algo
dio, fiavam e teciam redes e faixas, fabricavam
recipientes de barro. (ABBEVILLE, 1975: 242) Elas
participavam igualmente da coleta, apoiavam os
homens nas pescarias € nas construgées das resi-
déncias, preparavam 0 sal, etc. (HOLANDA, 1963:
175; THEVET, 1953 :216,)
Os homens derrubavam a mata ¢ prepara~
vam os terrenos agricolas; cagavam, pescavam,
cortavam lenha; fabricavam as canoas, as armas,
as moradias. Eles eram responsiveis pela defesa
© conquista dos territérios e pelas praticas guer-
reiras. Entretanto, as mulheres podiam acomy
nhar os maridos quando das expedigdes mi
tares. (LEITE, 1957: 109) As criangas colabora-
vam sistematicamente nas atividades produtivas
que requeriam pouco esforgo fisico - caga, pesca,
coleta, horticultura. (LEITE, 1957:381,)
47
Capitulo 7
—
Familia, residéncia, aldeia
A célula social, produtiva e de consumo de
base da sociedade tupinambé era a familia nuclear.
No relativo a reprodug&o das condig&es materiais
imediatas e cotidianas de existéncia, cada comunida-
de familiar alded era tendencialmente auto-suficien-
te, O mesmo no ocorria quanto & reprodugao das,
condig6es gerais ¢ da propria comunidade (reprodu-
Ho da espécie), Este tiltimo problema escapa aos,
objetivos do presente trabalho. A derrubada das ma-
tas, a defesa ¢ a conquista dos territérios, a irregular
produtividade da horticultura e das outras atividades
econdmicas ensejavam unidades produtivas que reu-
iam diversas familias em uma residéncia - maloka -
e diversas residéncias em uma aldeia - taba.
Varias familias solidarias viviam em uma
grande residéncia coletiva. As malokas formavam-
se com os parentes, com 0s aliados e com os agrega-
dos de um principal. Em espagos de cerca de 10m
viviam as familias nucleares - o marido, a mulher, os
filhos ¢ eventuais agregados (refugiados e cativos).
(LERY, 1961: 208: STADEN, 1974: 155; THEVET, 1953:
116, Os principais e alguns aldedes que se desta-
cavam podiam possuir mais de uma esposa.
Cada esposa possuia a sua propria horta e a sua area
habitacional. Nem todas as esposas de um principal
viviam na sua residéncia ou aldeia. Esta forma de
residéncia, a maloka, correspondia a0 desenvolvi
mento econémico e social da sociedade tupinambi
ela, imperavam, muito fortes, os vinculos consan-
gilineos e o poder gerontocritico masculino. (ABBE-
VILLE, 1975: 222; THEVET, 1953: 136)
Os casais monogamicos eram mais comuns.
Frei Vicente Salvador escreveu sobre os tupinam-
bas: “[...] dormem nus, marido e mulher, na mesma
rede, cada um com os pés para a cabeca do outro,
exceto 0s principais que, como tém muitas mulheres,
dormem s6s nas suas redes, ¢ dali, quando querem,
se vao deitar com a que Ihes parece.” (SALVADOR,
1982: 79; STADEN. 1974: 174.) Cada easal possua sua
grande rede de algodio, atada a troneos fincados no
solo das residéncias. De dia e de noite, as mulheres,
mantinham “‘acesas pequenas fogueiras de ambos
os lados da rede do chefe da familia”. (THEVET.
1953; 159; 1983: 100.) As redes e o fogo serviam como
Protegdo contra os insetos durante o sono, (SEB/I
253-4) O fogo era aceso com a fricgao de dois
aus. Segundo parece, & noite, além de esquentar 0
ambiente ¢ afastar pequenos animais, cle servia
igualmente para afugentar os “maus espiritos”. (CO-
REAL, 1722:239,)
Quatro a sete malokas retangulares formavam
uma aldeia. Cada comunidade aldea era auténoma.
Principalmente a luta pela manutengao / conquista
dos cobigados territérios litordneos criava as condi-
‘GOes para a formagao de aliangas inter-aldeds - “na-
40” ou “confederagao” - e ensejava um permanen-
49
te estado de beligerdncia, (ABBEVILLE, 1975: 131
222, Sete ow oto aldeias podiam confederar-se para
langar uma campanha militar. (THEVET. 1953: 178)
Devido as determinagdes estruturais das comunida-
des aldeds que analisamos, tais aliangas formavam-
se e rompiam-se com grande facilidade. A escassa
referéncia dos europeus & existéncia de “tribos” bra-
silicas ressalta o carter independente das diversas
aldeias. Este fenémeno facilitou sobremaneira a
cocupagio lusitana do litoral.
As aldeias eram circulares e as grandes resi-
déncias possuiam duas portas nas extremidades ¢
uma no centro. Esta altima dava para o terreiro.
Além destas residéncias permanentes, os tupinam-
bs construiam abrigos notumos quando de viagens
ou expedigdes guerreiras. (SEB, 1987: 31.) Nos apro-
ximadamente 300m de cada maloka, viviam de 50 a
100 moradores. (PIGAFETTA, 1986: 58; STADEN, 1974:
155; FERNANDES, 1948: 59-65.) Exagerava 0 cal
Jean de Léry ao afirmar que em uma residéncia
coletiva habitariam “de quinhentas a seiscentas pes-
soas e no raro mais”. (LERY, 1961:205,) Aldeias com
seis € oito mil membros, como sugerem Léry € 0
sociélogo Florestan Fernandes, no correspondem &
capacidade de sustentagdo material da economia tu-
pinamba. (FERNANDES, 1948: 63.) Tais concentragées
populacionais necessitariam, para o seu sustento, de
“hortas” com aproximadamente 700 hectares! Em
geral, é crivel que as aldeias mais populosas tives-
sem em tomo de 350 habitantes, devido aos abun
dantes recursos do litoral. No Rio de Janeiro, elas
chegavam a ter 500 metros de didmetro. (BELTRAO,
1972: 129.)
NUMEROS CONFUSOS
A primeira descrigao detalhada de uma maloka
da pena de um piloto anénimo da esquadra cabrali-
na: “As suas casas so de madeira, cobertas de fo-
thas e ramos de drvores, com muitas colunas de pau
pelo meio, ¢ entre elas eas paredes, pregam redes de
30
algodio, nas quais pode estar um homem, e debaixo
de cada uma destas redes, fazem um fogo, de modo
que numa s6 casa pode haver quarenta ou cingenta
leitos armados, a modo de teares.”” (SILVA, 1919: 119.)
Futuros levantamentos arqueolégicos sisteméticos
poderfo nos esclarecer sobre a real dimensio ¢ 0
rniimero de habitantes médios das residéncias coleti-
vas tupinambés. Sobre tal problema, a documenta-
do coeva diverge significativamente. Sem divisdes
internas, as residéncias distribuiam-se, em tomo de
‘um grande patio central quadrado, onde se realiza~
‘vam as reunides e festividades.
‘A distribuigao geogréfica simétrica expressava
© status igualitério das diversas residéncias na al-
deia. (KERN, 1991: 305.) Uma construgio comunitéria
= “casa grande” - era destinada as deliberagées al-
deds. Era o principal local onde os “velhos” trans-
mitiam aos “novos” as narragdes miticas e a tradi-
80 oral profana, (EVREUX, 1929: 122.) Nas zonas
conflagradas, fossos e duas paligadas de troncos de
palmeira, geralmente em forma pentagonal, cerca-
vam e protegiam as aldeias. (SALVADOR, 1982; 79.80:
ABBEVILLE, 1975: 79; STADEN, 1974: 156.)
Em frente do porto principal, assim como
diante e no interior das residéncias, plantavam-se
astes com as caveiras dos inimigos mortos. (STADEN,
1974: 97; THEVET, 1953: 92.) As diversas malokas, co-
bertas de palha até o solo, comandadas por um ou
dois principais, constituiam as unidades produtivas
guerreiras aldeds. A sociedade tupinamba formava-
se a partir da associagao livre de nticleos de produto-
res familiares independentes, Era muito limitada a
autoridade dos principais sobre os chefes de familia
de suas malokas. Em geral, os senhores das diversas
residéncias possuiam a mesma autoridade. (SALVA-
DOR, 1982: 78; STADEN, 1974: 168.)
‘A inexisténcia de aparatos sociais coativos su-
prafamiliares assentava a coesdo alde&i no consenso
dos chefes de familia. O poder de convencimento era
‘Go apreciado que aqueles que se distinguiam pela
capacidade de argumentagio eram chamados de “'se-
nnhor da fala”. (CARDIM, 1978: 186) As mulheres, os
ovens e as criangas no se pronunciavam durante as
reunides. Nelas, os “velhos” - principais e chefes de
familia - eram escutados com atengao e, em geral,
obedecidos. (ABBEVILLE, 1975: 234; FERNANDES, 1970:
149; STADEN, 1974: 164)
As decisées comunitérias eram tomadas na
“casa grande” ou “casa dos homens”, no centro da
aldeia, todas as noites. (ABBEVILLE, 1975: EVREUX.
1929; 87; 255; FERNANDES, 1970: 68-9) O cosmégrafo
francés André Thevet, que visitou o Brasil em 1555,
descreveu uma destas assembléias, “conduzidas”
pelos anciios, nas quais ndo tomavam “parte as mu-
Iheres ¢ criangas”. “Nelas, os indios procedem com
urbanidade e discrigdio. Sucedem-se os oradores uns
aps os outros: todos sao atentamente escutados.
Terminada a arenga, cada orador passa a palavra 20
seguinte, ¢ assim por diante. Os ouvintes ficam to-
dos sentados no chao, exceto alguns poucos [princi-
pais] [...] [que] se conservam sentados em suas re-
des.” (THEVET. 1978: 123; 1983: 79.)
Cada aldeia possuia um ou mais grandes prin-
is - morubi'xawa, Apenas durante as guerras
eles comandavam discricionariamente os guerreiros.
A ilha de So Luis, no Maranhao, possuia 27 aldeias.
Quatorze delas tinham um morubixaba; dez, tinham
dois; uma, tinha trés ¢, as duas mais populosas, ti-
rnham quatro € cinco. (ABBEVILLE, 1975: 139-145.) E,
crivel que as aldeias com mais de um morubixaba se
formassem pela reunido de dois ou mais grupos al-
deses.
GENTE TRANQUILA
Os tupinambés comiam, pouco, diversas ve~
zes ao dia. Em geral, 0s niicleos familiares realizam
estas refeigdes frugais em forma isolada, sem pressa
€ em siléncio. Todos se serviam em um recipiente
comum. Quando se comia, nao se bebia, ¢ vice-ver-
sa. Apenas acabavam de se alimentar, furiavam (CO-
REAL, 1722: 194; THEVET, 1953: 121, 149; SALVADOR,
1982: 80; EVREUX, 1929: 154.) Quando escasseavam ou
abundavam os alimentos, os produtos da caga, da
pesca, da coleta e da horticultura eram repartidos
entre os membros de uma mesma maloka e taba. Na
pesca ¢ na caga, quem apanhasse mais animais divi-
dia 0 conseguido com os companheiros menos afor-
tunados. (SALVADOR, 1982: 80; STADEN, 1974: 159),
O capuchinho Yves d’ Evreux :
'E muito grande a liberalidade entre eles e, desc
mhecida a avareza.” (EVREUX, 1929: 125.) Devido as,
raz0es jé vistas, no interior da aldeia reinava um alto
grau de “‘civilidade”, de “harmonia” € de respeito
“individual”. O roubo era uma “instituigao” desco-
nhecida. O cumprimento da palavra dada: 0 prestigio
do poder de convencimento: o valor do exemplo e
das relagdes interpessoais eram fen6menos sociais
de grande importincia, pois deles dependia, em
grande parte, a coesio aldea.
padre Cardim escreveu espantado sobre as
residéncias tupinambés: “Parece a casa um inferno
ou labirinto, uns cantam, outros choram, outros co-
mem. outros fazem farinha ¢ vinhos, etc. e (em) toda
casa arde [..] fogos; porém ¢ tanta a conformidade,
entre eles, que, em todo o ano, nao hé uma peleja, e,
com nfo terem nada fechado, no ha furtos [...).”
(CARDIM. 1978: 186,) Segundo Michel de Montaigne
que, segundo veremos, entrevistou um francés que
viveu longos anos nas costas brasilicas, na lingua
tupi nao existiria palavras que traduzissem conceitos
‘como wulagdo, avareza e inveja. (MONTAIGNE,
1965: 206) Em 1549, na capitania da Baia, Manoel da
Nébrega elogiava, igualmente, as relagdes interpes-
soais aldeds: ““Os que so amigos vivem em grande
concérdia entre sie amam-se muito, [..}. Se um
deles mata um peixe, todos comem dele [..].” (NO-
BREGA, 1955: 0.)
Em 1612, o sacerdote francés d’Abbeville re-
gistrou consideragées também elogiosas sobre a
“tranguilidade”, “civilidade” e “educagao” dos tu-
pinambas do Maranhfo: “Sao tio serenos ¢ calmos
que escutam atentamente tudo o que Ihes dizem, sem
jamais interromper os discursos. Nunca pertubam 0
discursador, nem procuram falar quando alguém
SL
esté com a palavra, Escutam-se uns a0s outros
jamais discorrem confusamente ou a0 mesmo tempo
[-]? (ABBEVILLE, 1975: 244.) De tal discrigao, como
veremos, abusaram sem remorsos os jesuitas. Eles
obrigavam os brasis a escutarem longas e comple-
xas prédicas religiosas. Estas seriam, nos primeiros
tempos, incompreensiveis, no relativo & forma ¢ a0
conteido, a disciplinada platéia americana.
De madrugada, o principal, deitado em sua
rede e, a seguir, passeando pela moradia e pela al-
deia, muito de vagar, falando em voz alto e batendo
no peito, “‘convencia”, por uma meia-hora, os mem-
bros da residéncia, de aprontarem-se para as praticas
produtivas didrias ou - se necessério ~ para a guerra,
como haviam feito “seus antepassados”. (CARDIM,
1978: 177; LEITE, 1986: 407) A participagao da comu-
nidade nas atividades bélicas era igualmente produto
da concordancia geral dos aldedes. As criangas e as
mulheres nao presenciavam as assembléias que deci-
diam sobre as expedigdes guerreiras. (THEVET, 1953:
178) Nada se fazia contra a vontade da coletividade.
Tal urbanidade e ordem social impressionaram mui
to 0s europeus mais observadores, provenientes de
sociedades divididas, em suas raizes, por antagonis-
mos classistas.
‘Nao devemos idealizar a vida brasilica, Bra
muito dura a luta destas comunidades pela existéncia
¢ a esperanga de vida média dos brasis seria baixa.
CAlculos contemporaneos sugerem que um produtor
‘tupinambé dedicaria mais de sessenta dias, anual-
mente, apenas aos duros trabalhos horticultores.
(GALVAO, 1963: 127.) O principal mito tupi-guarani -
a procura da terra sem mal - constituia a promessa de
uma vida rica em prazeres materiais e desconhece-
dora do trabalho e da velhice. Em 1549, o jesuita
‘Manoel da Nobrega relatava: “De certos em certos
anos vém uns feiticeiros [..] thes dizem que no
curem de trabalhar, no vao a roga, que o mantimen-
to por si crescerd, e que nunca lhes faltara que co-
mer, € que por si vird a casa; ¢ que as aguilhadas
[paus pontudos] iro a cavar, e as flechas iro 20
‘mato, por caga, para 0 seu senhor, e que hao-de
52
matar muitos dos seus contrérios € cativarao muitos
para os seus comeres.”” (NOBREGA, 1955: 63.)
MULHER EXPLORADA
Evidentes contradigdes sociais transpassavam
estas comunidades assentadas sobre a divisdo sexual
ce etiria do trabalho. A mulher dependia do pai, ou do
irmao, ou do tio, ou do marido. Ela era submetida e
explorada pelo homem. O controle familiar das mu-
theres assegurava a supremacia dos principais e dos
mais velhos. Dos 8 aos 25 anos, os filhos homens
trabalhavam para o pai. Para casarem-se ¢ constituir
familia, 0 que faziam relativamente tarde, compro-
metiam-se com a familia da esposa. © genro devia
obrigagdes produtivas e militares ao sogro e a fami-
lia da mulher. O filho, as devia ao pai. Se um genro
desconhecesse estes deveres, perdia a esposa, que
era reclamada por sua familia. Um tupinamba que
controlasse muitas mulheres (sobrinhas, filhas, es-
posas) era um homem poderoso. (NAVARRO, 1988:
136; LEITE, 1956: 119, 153, 316, 379: STADEN, 1974: 171;
THEVET. 1978: 137; 1983: 92; 1953: 132; FERNANDES,
1948: 113)
‘Um homem com muitos parentes ¢ agregados
fundava sua maloka, tornava-se um “principal”,
transferia para seus “subordinados” boa parte de
suas tarefas produtivas e guerreiras. Nao seria muito
dura a vida de um principal. Segundo o depoimento
de um jesuita, ele passaria boa parte do tempo deit
do na rede ... (LEITE, 1957: 295.) O sacerdote francés
Yves d’Evreux registrou que 0 “anciéo ou velbo””
“trabalha quando quer, € bem & sua vontade, mais
para exemplo da mocidade, respeitando as tradigdes
da sua Nagio, do que por necessidade”. (EVREUX,
1929: 133.)
marido poligamo recebia mais do que entre-
gava as suas esposas. Muitos jovens permaneciam.
por muito tempo, solteiros ou contraiam matriménio
com mulheres idosas. Alguns morreriam sem se ca-
sar. As esposas mais velhas de maridos poligamos
podiam perder o papel de “‘parceiras sexuais” mas
manter as obrigag6es econdmicas devidas aos espo-
80s. (FERNANDES, 1948: 132.) Era ilusGria a retérica
racionalizadora da “democracia familiar” aldea. En-
tretanto, tais padres de casamento conviviam com
uma relativamente ampla liberdade sexual feminina,
antes do casamento, e com a pouca preocupagio dos
tupinambas para com a virgindade das mulheres.
(LERY, 1961: 202-5: FERNANDES. 1948: 139)
So romanticas e idealizadoras as leituras con-
tempordineas sobre a exceléncia e sabedoria “univer-
sal” das instituig6es americanas. As comunidades
brasilicas no podiam construir relagdes sociais por
sobre os limites determinados pelo baixo desenvol-
vimento de suas culturas materiais. (LUKACS, 1982: 1.
70.) Vistos de uma outra ética, os tupinambas podiam,
ser terrivelmente “desumanos’. Eram extrema e ino-
centemente cruéis com os inimigos e nao conhece-
riam, nem mesmo, como lembrava Michel de Mon-
taigne, 0 conceito “perdo”.. Como veremos nos
Capitulos IX e X, as praticas antropofagicas chega-
vam a tal extremo que as mes comiam os filhos
tidos com os prisioneiros. Era igualmente comum,
que cativos fossem abatidos e devorados apés lon-
gos anos de convivéncia com os senhores. Vivendo
num estégio civilizatério pré-ético, a concepsao de
“solidariedade humana” nao ultrapassava os estrei-
tos limites geograficos ditados pela economia do-
méstico-alded.
Os tupinambas eram destros pescadores e hi-
beis nadadores e mergulhadores. (STADEN, 1974: 159:
THEVET, 1978: 95: 1983: 46: COREAL, 1722: 181) Nos
mares € nos rios, usavam jangadas e canoas leves &
pesadas. Estas iiltimas, eram cavadas em troncos
duros de certas drvores. Durante as viagens, nestas
embarcagdes, 0s homens remavam e as mulheres
serviam-se de cuias para langar fora a agua que
nelas entrassem. Em torno de 25 remadores por ca-
noa realizavam, ao longo do litoral, a uns trés ow
quatro quilémetros das praias. rapidas ¢ longas expe-
digdes guerreiras. Os europeus presenciaram comba-
tes fluviais e maritimos envolvendo dezenas de ca-
hnoas e centenas de combatentes. (THEVET, 1978: 128;
1982: 82: STADEN, 1974: 176; SOUSA, 1971: 313; LERY,
1961: 148, 149; FERNANDES, 1970: 99.) A cerdmica, a
cestaria, 0 trabalho do algodio, a fabricago de ar-
‘mas ¢ instrumentos domésticos e musicais eram pré-
ticas familiares aldeds nio-especializadas relativa-
mente refinadas,
‘Na caga e na guerra, 0s brasis manejavam suas
armas com grande mestria. Possufam pesados taca-
pes de madeira vermelha ou negra; grandes ar-
cos com diversos tipos de flechas; uma espécie de
clava com a extremidade cheia de pedras; escudos de
“cortiga de arvores”, de couro de animais e de pele
de peixes; machados de pedra polida. Tal era o poder
das flechas que elas podiam varar completamente
um homem. Nas batalhas, soavam tambores, flautas,
cometas e buzinas. Os tupinambas desenvolveram
refinadas titicas e estratégias guerreiras. Elas os tor-
naram a mais poderosa comunidade do litoral, até a
chegada dos europeus. (VARNHAGEN, 1978: I: FER-
NANDES, 1970: 36-9: STADEN, 1974: 178; THEVET. 1978
128; 1983: 79; COREAL, 1722: 214.)
MANIA DE LIMPEZA
Os tupinambés portavam os cabelos curtos, na
testa, e deixavam-nos crescer, na nuca, nas orelhas €
nas fontes. Pintavam o corpo com tinta negra de
Jenipapo (Genipa americana) e vermelha de uruct
(Bixa orellana) - dtimos repelentes de insetos. Os
tupinambés tatuavam as carnes; furavam o lébio in-
ferior para colocar objetos de pedra, osso ou madei-
ra, Usavam colares de biizios, de ossos de animais €
de dentes de inimigos. Nas grandes ceriménias, en-
feitavam os bracos, as pernas e os cabelos com penas
de variadas cores. A omamentagao e a tatuagem do
corpo constituiriam recursos magicos - felicidade na
caga, na guerra, etc. - € expressariam miiltiplas infor-
magées - idade, sexo, status, etc. Os vestimentos
europeus que portavam, sobretudo quando de festi-
vidades, teriam fungao exclusivamente ornamental.
3
Untavam a pele com éleos. Raspavam os pelos do
corpo, inclusive a barba, os cilios e as sobrancelhas,
medidas profiliticas contra a proliferagao de parasi-
tas e a contra atragdo de mosquitinhos e abelhas que
incomodam os olhos. (SEB/1, 1987: 253; SEB, 1987
119-48)
‘As mulheres dedicavam grande atengao & orna-
mentago corporal. Depilavam e pintavam as so-
brancelhas 0 corpo; usavam colares de contas nos
pescogos € nos bracos; ungiam os corpos. As tupi
nambés deixavam crescer os cabelos até a cintura €
prendiam-nos quando trabalhavam. Elas nao fura-
vam 0 lébio inferior - simbolo de masculinidade -,
‘mas apreciavam muito portar enfeites nas orelhas.
(Os brincos fornecidos pelos europeus eram singular-
mente apreciados pelas americanas. O mesmo ocor-
ria com os espelhos. Tanto homens como mulheres
depilavam o pélo pubiano o que - como vimos - evita
piolhos. (COREAL, 1722: 186; BRANDAO. 1977: 268;
SOUSA, 1971: 305; THEVET, 1978: 107; 1983: $8; 1953: 110,
126; LERY, 1961: 109, 213: SEBV1, 1987: 253.)
‘Apés parir € guardar repouso por um ou dois
dias, a mulher ia para a roga trabalhar. OQ homem
ficava na rede fazendo-se de parturiente e recebendo
as visitas. O que atrairia sobre ele, € nfo sobre @
mulher debilitada, os maus espititos, (LERY, 1961
203; BRANDAO, 1977: 250; EVREUX, 1929: 138.) © espo-
so suspendia 0 intercurso sexual com a mulher
quando da gravidez, apds 0 parto e durante o primei-
ro ano de vida do recém-nascido. (FERNANDES, 1948:
143) A mie aleitava o filho até uma nova gravidez.
Havia criangas que mamavam até os oito anos de
jade. (SALVADOR, 1982: 81.) Os recém-nascidos
eram também alimentados com “gros de milho as-
sados”, “mastigados”, pelas maes, “até ficarem re-
duzidos & farina”. (EVREUX, 1929: 128)
‘Na educagdo dos filhos, utilizava-se sobretudo
© exemplo e raramente a corregao fisica, Na colénia
do Maranhao, o capuchinho Yves d’Evreux presen-
ciou um exercicio desta pedagogia do exemplo e da
‘emulagao. Homens e mulheres tupinambas trabalha-
‘vam duro na construgao do forte francés ¢ “davam
34
pequenos cestos para carregar terra” aos “filhi-
hos”, conforme “suas forgas”. (EVREUX, 1929: 75.)
(Os tupinambés escandalizavam-se ao verem os je
suitas, ainda que em forma moderada, castigar fisi-
‘camente os jovens estudantes. Os pais dedicavam
grande atengao aos filhos. O franciscano Claude ’-
Abbeville afirmava serem as criangas brasilicas
muito obedientes e “‘dotadas de uma certa seriedade
e de uma modéstia natural muito agradaveis”. (AB-
BEVILLE, 1975:224)
Quando um tupinamba adoecia gravemente,
‘era atendido, em sua rede, pelos seus préximos, que
seguiam apreensivos 0 desenvolvimento da satide do
enfermo. Se falecia, familiares, parentes ¢ amigos
externavam a tristeza chorando ¢ lamentando-se,
Tongamente, em voz alta. A seguir, o morubixaba ou
o principal da maloka, batendo no peito e nas coxas,
proferia um elegante discurso fiinebre laudatério so-
bre o falecido. Ele terminaria com as seguintes fra-
ses: “- HA quem dele se queixe? - Nao fez em sua
vida 0 que faz. um homem forte € valente?” O corpo
era enterrado, em um “‘buraco fundo e redondo”.,
portando os melhores ornamentos do falecido e, se
ele possuisse, um capote, camisa, chapéu ou qual-
quer outra valorizada pega europs
Agua, farinha, carne, frutas € outros alimentos
cram depositadgs, na cova, proximos de sua mao
direita. As armas, machados, foices, ete. ao contré-
rio, eram acomodadas & sua esquerda. Ao lado, fa-
zia-se um outro buraco onde se acendia um “fogo
com lenha bem seca”. A sepultura era coberta, pou-
co a pouco, apés os familiares, parentes e amigos
despedirem-se do falecido. Nesta ocasido, enviava-
se recados e presentes para outros trespassados €,
entre outras recomendagdes, insistia-se para que 0
falecido nao se perdesse nem se esquecesse de suas
armas e ferramentas no caminho que levava as
“montanhas, alm dos Andes, onde” julgavam que
iam ‘todos os mortos”. Os parentes proximos costu-
mavam ir chorar nas sepulturas dos desaparecidos €
espalhar gros de milho e outros alimentos sobre os
‘timulos. (EVREUX, 1927: 167.)
Entre estes e outros hébitos americanos que
impressionaram profundamente os europeus, encon-
trava-se 0 estranho costume dos brasis de banharem-
se todas as manhas e, se possivel. diversas vezes a0
dia. (COREAL, 1722: 190) O que os lusitanos critica-
vam com severidade, pois acreditavam fazer mal &
satide, O padre Fernao Cardim, escrevia no tltimo
quartel do Quinhentos, espantado: “[...] os homens,
mulheres e meninos, em se levantando, se vao lavar
€ nadar aos rios, por mais frio que faca; as mulheres
nadam © remam como homens, e quando parem,
algumas se vao lavar aos rios.” (CARDIM, 1978: 188,)
Os recém-nascidos eram, também, imediatamente
lavados no mar, rios ou lagos. (THEVET, 1953: 49.)
55
Aum passo do fim
Em junho de 1556, ainda no contexto do movi-
mento tupinamba antilusitano da capitania da Baia,
© primeiro bispo do Brasil, dom Pero Femandes
Sardinha, ¢ uma centena de acompanhantes, foram
devorados por caetés do litoral, apés naufragarem, a
uns 360 quilémetros de Salvador, a norte da desem-
bocadura do rio Sao Francisco, quando retornavam a
Portugal. (WETZEL, 1972: 25) Desde sua chegada a0
Brasil, em 1551, 0 bispo Pero Fernandes Sardinha se
destacara por hostilizar os jesuitas ¢ apoiar os colo-
nos na escravizagao sem critérios dos brasis. O pré-
prio Manuel da Nébrega, ao relatar para Tomé de
Sousa a morte do bispo, lembrara que ele “‘nlio se
tinha por bispo” dos “gentis”. (NOBREGA, sd: 63.)
Em meados do Quinhentos, importantes comu-
nidades caetés (familia tupinamba) viviam nas re-
gides que iam do norte da cidade de Salvador ao rio
Sio Francisco, Na carta jé referida de 1558, dois
anos apés 0 naufragio do bispo Sardinha, o padre
Manoel da Nobrega pedira: “Os que mataram a gen-
te da nau do Bispo se podem logo castigar e sujeitar
[...” (NOBREGA, 1955:283 Em 1562, seis anos apés
© grande banquete antropofagico, sob a pressio dos
plantadores que ressentiam a falta de cativos, 0 go-
vernador Mem de Sé decretou uma guerra justa con-
‘ra as comunidades caetés determinando que “fos-
sem escravos, onde quer que fossem achados, sem
fazer excegio nenhuma”. (ANCHIETA, 1946: 12-3.)
Desnecessério dizer que apenas algumas aldeias cae-
tés haviam participado dos sucessos de 1556,
A ‘guerra justa’ anticaeté era a oportunidade
esperada pelos plantadores. Eles aproveitaram a oca-
sido para atacar até mesmo os caetés que viviam
reduzidos sob a protecao jesuitica e, na falta destes,
brasis aldeados de outras familias tupinambés. (NA-
‘VARRO, 1988: 384.) Em 26 de junho de 1562, 0 padre
Leonardo do Vaile escrevia que caetés “pagios” e
“cristios” eram cagados com tanta “‘diligéncia” que
melhor seria que se deixassem “morrer em casa, sem
buscar de comer nem fazerem suas rogas”, porque
mal saiam “das abas dos padres” eram “ferrados”
pelos cipidos escravizadores. (NAVARRO, 1988: 384.)
A expansio da economia agucareira niio permitia
que os colonos perdessem tempo selecionando os
“brutos” que escravizariam.
Tratava-se da legalizagdo da caga indiscrimi-
nada do americano: criangas, jovens, adultos, ho-
mens ¢ mulheres eram assaltados pelos caminhos,
has rogas, nas aldeias, nos povos jesuiticos, onde
fossem encontrados. Completamente desmoraliza-
dos € rendidos, os sobreviventes tentavam apenas
fugir dos ataques escravizadores. Segundo a Infor-
magdo dos primeiros aldeamentos, possivelmente
de José de Anchieta, antes dos acontecimentos, 0s
aldeamentos de Santo Ant6nio, Bom Jesus, Séo Pe-
dro e Santo André possuiriam uns 12mil habitantes.
143
‘Apés a retirada de cativos e as fugas dos brasis para
‘08 sertdes, teriam ficado uns escassos mil, com os
jjesusitas, (MARCHANT, 1980: 101; ANCHIETA, 1946: 14.)
‘A débacle era total.
RECOMECAR OUTRA VEZ
Mais uma vez, reiniciava a fuga maciga de
brasis para os sertdes agrestes. Mais uma vez, grande
parte do esforgo catequetico jesuitico se perdia com
© abandono e despovoamento das “aldeias de in-
dios". Tal foi a magnitude dos abusos perpetrados
pelos colonos que o governador-geral, pressionado
pelos jesuitas, viu-se obrigado a abolir 0 estado de
guerra com as comunidades tidas como responsiveis
pela sacrilega comilanga. Era a Gnica forma de inter-
romper a caca indiscriminada dos americanos da
regidio. Quando a administragao e os sacerdotes pu-
seram fim aos estragos causados pelos colonos du-
rante a guerra “anticaeté”, as comunidades aldeadas
haviam sido dura e irreparavelmente golpeadas.
‘Muitos historiadores afirmam terem sido natu-
rais e nfl sociais ¢ histéricas as causas da mortanda-
de e do decréscimo populacional das comunidades
brasilicas litordneas. Uma série de epidemias ¢ néo a
violéncia do colonizador europeu seria a grande res-
ponsével pelo acelerado desaparecimento das abun-
dantes populagdes da costa. Para tal interpretagdo, a
unificagao bacteriolégica mundial, conseqiiéncia
inevitavel da expansio maritima européia, deve ser
responsabilizada pela hecatombe populacional ame-
ricana. E no o sistema colonial. A desaparigao des-
tas populagdes deveria portanto ser analisada como
uma triste mas inevitivel seqiiela da necesséria ¢
progressista expansdo dos contatos entre os hhomens
dos cinco continentes. Um grande mal, devido a um
‘maior progresso.
Os povos brasilicos encontravam-se fragiliza-
dos diante de enfermidades - sobretudo virais - des-
conhecidas do Novo Mundo. Desde os primei
tempos, 0s contatos entre os povos do litoral e os
144
‘europeus causaram problemas de satide para os bra~
sis. André Thevet conta, em Cosmografia universal,
que, em meados do Quinhentos, os tamoios da ilha
de Villegaignon e das cercanias foram infectados
pelos franceses e que teria morrido “uma grande
parte do povo”. Tamanha seria a mortandade que
nfo se encontrariam americanos “para cortar o [pau]
brasil e o portar aos navios, que ficavam fundeados,
porque no podiam ser carregados”. Irritados com a
situago, os nativos teriam explicado a mortandade
como um castigo “por andarem com gente tio
ruim”. (THEVET, 1953: 19, 88. Temos informaglo de
uma epidemia, possivelmente de gripe, nas cercanias
de Salvador, em 1552. Portanto, alguns anos antes
da assinalada pelo viajante francés.
Em uma carta de margo de 1552, 0 jesuita
Vicente Rodrigues referia-se & epidemia e, perplexo,
explicava o seu aparecimento a partir de critérios
magico-religiosos: “Os dias passados fizemos al-
guns cristios, dos quais depois alguns se tornaram a
seus costumes, e querendo-os o Senhor castigar, foi
a mortandade neles tanta que foi cousa de pasmo,
mormente nos filhos e filhas mais pequenos [..].”
(NAVARRO, 1988: 134,) Entretanto, em uma outra car-
ta, do mesmo ano, Vicente Rodrigues afirmava ali-
viado que a “grande mortandade” ou “‘tosse geral””
se fora ‘‘de todo”. (NAVARRO, 1988: 145,) Como assi-
nala a carta, as criangas eram as mais atingidas.
AGUA DA MORTE
s jesuitas espantavam-se com o fato de que
muitos recém-nascidos adoeciam ou morriam apés
serem batizados. Os pajés respondiam as investidas
ideol6gicas dos sacerdotes divulgando que o batis-
‘mo causava a morte - no que, em alguns casos, nfo
estariam totalmente errados. Os préprios sacerdotes
infectariam os desprotegidos recém-nascidos. Se-
gundo parece, nfo raro, eles usavam a prépria saliva
como Agua batismal! (STADEN. 1990: XXX.) Apenas
chegado a capitania da Baia, 0 padre Manoel da
Nébrega relatava: “Uma cousa nos acontecia que
muito nos maravilhava a principio ¢ foi que quase
todos os que batizévamos, caiam doentes, [...] do
ventre, [...] dos othos, [..] de apostema (abscesso
tiveram ocasido, os seus feiticeiros, de dizer que Ihes
davamos a doenga com a 4gua do batismo e, com a
doutrina, a morte [....” Tais casos, muitas vezes,
no deixavam seqtelas irrepardveis. © mesmo N6:
brega informava, aliviado: “[..] mas se viram em
breve [os pajés] desmascarados, porque logo todos
0 enfermos se curaram.” (NOBREGA, 1988: 95.)
Enguanto os nativos mantiveram a autonomia
diante dos portugueses ¢ ndo sofreram as violéncias
iniciadas a partir da colonizacao, tais problemas fi-
caram circunscritos a algumas aldeias e regies,
onde tendiam a ser superados. Em verdade, a ‘unii
cago bacteriolégica’ iniciara meio século antes,
com a visita das costas brasilicas pelos primeiros
europeus. Estes breves surtos epidémicos, apesar
dos graves - mas localizados - problemas que causa-
vam, criavam as condigdes gerais para uma lenta
‘mas progressiva imunizacao relativa das populagdes
americanas no referente as grandes enfermidades
‘ransmissiveis desconhecidas no Novo Mundo,
‘No relativo A capitania da Baia, tal situacao
geral se modificou radicalmente com a desorganiza-
620 e submissao das comunidades da regio, quando
da expansdo militar e territorial portuguesa no Re-
céncavo. Jé foram elucidadas & exaustio as causas
sociais ¢ histéricas da eclosdo das epidemias que
causaram grandes hecatombes populacionais na Eu-
ropa medieval. Alimentagio insuficiente, excesso de
trabalho, priticas sociais anti ou pouco higiénicas,
promiscuidade habitacional e vivencial foram fen6-
menos sociais que contribuiram ativamente para 0
inicio e o desenvolvimento das “*pestes” medievais.
‘Nao é uma casualidade os grandes surtos epi-
démicos brasilicos terem eclodido precisamente
quando a sociedade tupinambé entrava em um acele-
rado processo de desagregactio. Em fins de 1558 ou
inicios 1559, uma epidemia - talvez. de variola -
manifestou-se nas colonias meridionais
-om rapidez, para o norte. Em carta escrita no
Espirito Santo, possivelmente no inicio de 1559, um
jesuita falava de uma grande “mortandade” entre os
brasis “escravos” e “foros” da capitania. Em “bre-
ve tempo”, “600 escravos” teriam morrido. A
“‘mortandade” teria comegado “no sertiio e pela cos-
ta, desde o Rio de Janeiro”. (LEITE, 1958: 19)
Em junho do ano seguinte, uma “peste” se
abatia sobre os cateciimenos da “aldeia de indios”
de Sao Paulo. Os jesuitas desdobravam-se em cuida-
dos, sangravam e alimentavam, inutilmente, os en-
fermos com “laranjas” ¢ “agticares”. Atingidos,
mesmo os mais fortes, “em quatro ou oito dias”,
faleciam. Entretanto, assinalava o padre Rui Pereira
“E posto que, o mais do tempo, andévamos entre
eles, quis Nosso Senhor que nunca se nos pegasse a
doenga.” (LEITE, 1958: 291.) No ano seguinte, 0 surto
varidlico esparramava-se pelo Recdncavo.
SEMPRE OS ESCRAVOS
Em julho de 1561, 0 irmao José Anchieta not
ficava que, naquele ano, a Divina Justia teria casti-
gado, sobretudo os escravos da capitania de Sao
Vicente, “‘com muitas enfermidades”, “‘sobretudo
camaras de sangue”. “[...] dois, trés, quanto muito
quatro dias duravam”” os enfermos. Desta vez, os
jesuitas também teriam adoecido, ainda que nao
mortalmente (LEITE, 1958: 371.) A navegagdo costeira
€ 0 apresamento, armazenamento € distribuigéo de
cativos ao longo do litoral criavam as melhores con-
digdes para que as enfermidades se propagassem
rapidamente pelas capitanias, Os mais duramente
tocados por estes flagelos eram os cativos dos lusita~
nos ¢ as comunidades nativas, golpeadas © expro-
priadas de suas melhores terras.
Em 1562, concomitantemente com as violén-
cias ensejadas pela guerra justa anticaeté, uma epi-
demia, segundo parece, de Variola, golpeou, por trés
meses, as cercanias da cidade de Salvador, causando
verdadeira hecatombe entre brasis aldeados ¢ feitori-
145
-zados. Desesperados, os sobrevientes “se vendiam ¢
se iam meter por casa dos portugueses a se fazer
escravos, vendendo-se por um prato de farinha”. No
inicio de 1563, apés a chegada de um navio portu-
gués, uma segunda epidemia de “bexigas” instala-
va-se em IIhéus, espalhando-se pelo litoral e parte do
interior. Ela atingiria, a seguir, a capitania da Baia.
‘As seqiielas das epidemias entre os lusitanos foram
quase nulas. Entre os americanos, mal-alimentados e
vergastados pelas arbitrariedades dos colonos, foram
terriveis. Na capitania da Baia, o primeiro surto,
teria causado a morte de uns 30 mil brasis; 0 segun-
do, teria ceifado a vida de “um quarto a trés quintos
dos sobreviventes da primeira epidemia. (MAR-
‘CHANT, 1980: 103; ANCHIETA, 1946: 12-5.)
Aterrorizados, famintos, morrendo como mos-
‘cas, sem forgas para enterrar 0s mortos, quanto mais
para cacar e trabalhar nas rogas, os sobreviventes
ofereciam-se como escravos nas povoacdes e enge-
nihos e deixavam-se cativar sem resisténcia, tudo em
troca de uma cuia de farinha de mandioca, Segundo
a documentagio da época, alguns brasis apresenta-
vam-se aos colonos “com os ferros nos bragos e nas
pernas”. (MARCHANT, 1980: 104) A epidemia de or
gem ‘européia’ criava a “extrema necessidade” que
Justificava, segundo a legislagao lusitana, que um
brasil se vendesse como escravo ... A mortalidade
dos brasis feitorizados no engenhos foi também mui:
to alta. As comunidades americanas néo viam o fim
dos males de origens conhecidas e desconhecidas
que se abatiam sobre elas.
Segundo o historiador Alexander Marchant,
quando tudo terminou, de uma populacao nativa
avaliada em aproximadamente 80 mil habitantes, te-
riam sobrevivido, “nas proximidades da Bahia”,
146
apenas uns 10 mil. Das onze “aldeias de indios”,
sobravam apenas quatro. (MARCHANT, 1980: 104)
Ainda que estas avaligdes sejam aproximativas
talvez superestimadas, 0 certo & que fora vertiginosa
‘a mortandade entre os brasis. A produgao acucarei
no podia porém parar. Os colonos certamente exigi-
ram maior produeao dos cativos sobreviventes e re-
puseram os estoques de trabalhadores feitorizados
aumentando a pressdo sobre as comunidades sobre-
viventes. A exagio dos colonos sobre os brasis cati-
vos e livres teria chegado a niveis insuportaveis. A
partir de entio, estes povos nao responderiam mais
aos lusitanos como comunidades livres, mas sim
como populagées cativas
Em 1568, 0 Recéncavo era sacudido por uma
revolta geral, segundo parece de cunho messifinico,
em que engenhos foram abandonados pelos ‘negros
da terra’ € senhores lusitanos, justigados. Segundo
José de Anchieta, ‘‘na Semana Santa, se levantou
alguma da escravaria dos portugueses, a saber, de
Japecé, Parané-mirim e outras fazendas, fugindo
para o sertdo, na qual fugida mataram alguns portu-
gueses, pondo fogo a algumas fazendas, rouban-
doo que podiam”. Muitos destes brasis se
teriam auto-vendidos, sem saberem bem 0 que
seria a escravidao, durante as grandes fomes ¢ epi-
demias dos anos anteriores. (ANCHIETA, 1946: 41.)
Mais uma vez, a revolta era dor
ajuda das tropas das aldeias jesuiticas
historiador norte-americano S.B. Schwartz, a re-
volta teria ocorrido no ano anterior. (SCHWARTZ,
1988: 54) Esta situagao de crise continua das co-
munidades da terra expressava o crescente desen-
volvimento ¢ enriquecimento da sociedade colo-
nial baiana.
Capitulo 23
a
Descimento
A agonia final
Nos anos 1570, a capitania da Bafa contava
com dezoito engenhos agucareiros fabricando e ex-
portanto a valiosa mercadoria para a Europa. (GAN-
DAVO, 1965: 77.) Na década de oitenta, jé eram 40 as,
unidades produtivas na capitania. (SCHWARTZ, 1988:
34) Por esta época, em um engenho trabalhariam
aproximadamente de 60 a 100 cativos. As atividades
do porto e da cidade; as rogas de mantimentos; os
canaviais; as plantagdes de algodao; as pescarias; as,
construgdes; as criagdes de gado etc., funcionavam
sobretudo com o braco escravo do homem america-
no, agora apoiado pelo esforgo de uma crescente
populagio servil africana.
A partir do fim da década de 60, escasseando
nna costa autéetones que suprissem as necessidades
de cativos, os colonos voltaram-se para as popula-
g6es nativas do interior. Iniciava-se o ciclo das “‘en-
tradas” e dos “descimentos”. Os “descimentos”,
regulados pela Coroa, eram concebidos como 0 des-
locamento, voluntério, de comunidades dos sertOes,
para a proximidade das povoagdes portuguesas do
litoral, onde thes seriam concedidas terras, em
aldeias supervisionadas pela Companhia de Jesus.
Os “descimentos” deviam ser feitos pelos jesuitas
ou sob sua supervisio. Os “descidos” seriam remu-
nerados se viessem eventualmente a trabalhar para
0s colonos. Ao menos em teoria, os nativos tinham 0
direito a se negarem & migragdo. (PERRONE-MOISES,
1992: 118. sea.)
A realidade mostrou-se muito distinta das de-
terminages reais. Era bastante comum que as co-
‘munidades refugiadas nos sertdes proximos - ou que
ali vivessem - fossem trazidas, pelo convencimento
ou pela forga, para 0 litoral, onde eram distribuidas
entre os engenhos, plantages e “‘aldeias de indios”.
‘Nas maos dos colonos, ndo raro eram reduzidos &
escravidio de fato. A conquista das capitanias do
Norte - Sergipe, Paraiba, Rio Grande do Norte -
fornececera abundantes levas de cativos para os en-
sgenhos agucareiros, plantagSes, rogas e outras unida-
des produtivas. Nos anos 60, um amplo territério
costeiro ainda dominado pelos brasis separava as
capitanias da Bafa e de Pernambuco. N&o raro, lusi-
tanos perdiam a vida aventurando-se pelos caminhos
terrestres que uniam aquelas donatarias.
‘Nestas costas - visitadas freqtientemente pelos
entrelopos franceses - naufragaram ¢ foram devora-
dos © primeiro bispo do Brasil e seus malogrados
acompanhantes. Americanos escravizados fugidos
das fazendas da capitania da Baia, quando da revolta
de 1568, ali teriam encontrado refiigio. Em 1574,
sentindo a crescente presstio dos colonos e, é crivel,,
147
Ree
Jintuindo a impossibilidade de se oporem a eles com
sucesso, uma delegacdo de comunidades das regides
do rio Real [fronteira entre os estados da Bahia ¢
Sergipe] chegou, & capitania da Baia, pedindo jesui-
tas para suas aldeias. (LECTE, 1938: 1, 439.)
Em janeiro de 1575, um sacerdote e um irmao
Jesuita retornaram com os brasis Aquela regio. Por
exigéncia do quarto governador-geral do Brasil,
Luiz de Brito, uma ‘forga militar de vinte soldados”
acompanhou-os até a barra do rio Real, onde estacio-
nou. Deixando a incémoda companhia, os jesuitas
penetraram sem dificuldades nos atuais territ6rios
de Sergipe. O éxito catequético foi fulgurante e total.
Os sacerdotes foram recebidos de bragos abertos.
Em junho do mesmo ano, haviam fundado trés igre-
jas, em aldeias americanas, e “pacificado” 28 ou-
tras.
‘SUCESSO EFEMERO
sucesso seria efémero. A Coroa ordenara
anteriormente a submissio daqueles territ6rios.
© governador Luiz de Brito ali possufa “umas dez
léguas” de terra & espera de serem rentabilizadas. Os
plantadores da capitania da Bafa exigiam de volta os
cativos fugidos e necessitavam de novos bragos es-
cravos. Em novembro de 1575, Luiz de Brito mobi-
lizou as aldeias jesuiticas baianas, convocou os colo-
nos ¢ seus “escravos', decretou uma “guerra justa”
contra um principal da regio - Aperipé - e tomou 0
rumo do norte, A recém-fundada igreja de Sao Tomé
serviu como base de apoio para os escravizadores.
Em 21 de dezembro, 0 exército ouviu missa na
“‘igreja” e participou de uma “procissiio rogatoria”
pelo bom éxito da operagio.
Muitos brasis da regio haviam conhecido 0
cativeiro na Bafa e temiam a reescravizagao. O prin-
cipal Surubi, que tivera desavengas anteriores com
0s colonos, confiando pouco na protego garantida,
pela fundago, em sua aldeia, da “‘igreja” de Santo
Inacio, abandonou-a e preparou-se para o combate.
Os chefs Surubi e Aperipé foram combatidos ¢
148
facilmente derrotados e o governador cativou grande
lade de brasis. A intervencao convulsionou a
regido, muito populosa, ¢ ainda muito superficial-
‘mente ‘pacificada’ pelos jesuitas. Nao contando. os
lusitanos com forgas suficientes para ocupé-la, tive-
ram que abandoné-la. Os sacerdotes recuaram para a
capitania da Baia, levando consigo 1.200 aldedes,
que foram distribuidos nas “aldeias de indios” de
Santiago e do Espirito Santo.
Na penosa retirada em dirego do Recéncavo,
08 sacerdotes deviam vigiar estreitamente os brasis.
Conta o historiador e jesufta Serafim Leite, na sua
Historia da Companhia de Jesus no Brasil, que.
diante dos olhos dos padres, “os tomavam os bran-
cos e amarravam e escondiam pelos matos, para
servir-se deles como de escravos”. Nao sabemos
quantos americanos morreram ou foram escraviza-
dos antes de chegarem as povoagdes baianas. O de-
sastre seria total e ndo pouparia nem mesmo os que
alcangaram com vida as povoagdes jesuiticas. O
mesmo historiador relata que “grande parte daque-
les indios morreram em breve na Bahia, vitimados
por doencas epidémicas, sarampio e variola”. (LEI-
‘TE, 1938: 439-46.)
‘Na carta anua de 1581, o jésuita José de An-
chieta, j& sacerdote, refere-se a um ‘descimento’,
realizado sob as ordens do padre Diogo Nunes
[1548-1619], destro conhecedor do tupi-guarani.
‘Comunidades estabelecidas junto a serra de Araripe,
nos atuais limites dos estados do Cearé, Piaui ¢
Pemambuco, a mais de 600 quil6metros de Salva-
dor, teriam mandado “embaixadores a chamar os
padres, que os fossem buscar” por “nao se atreve~
rem a vir s6s”. Temeriam os perigos da viagem e os
portugueses, que andavam “‘salteando os pobres in-
dios”, Em novembfo de 1580, o padre Diogo Nunes
partiu para a Serra, acompanhado por um outro reli-
gioso e, possivelmente, por alguns brasis conversos.
POUCOS CHEGARAM
A viagem teria sido muito dura. Além da incle-
méncia do sertio, a aventura exigia que o sacerdote
negociasse previamente a passagem dos retirantes
com as comunidades nativas das cercanias. Ao al-
cangar 0 destino, o padre Nunes teria pregado ¢
convencido a “muitos mil” que o seguissem. O que
sugere um certo exagero de Anchieta. A predisposi-
‘edo de abandonar o territdrio seria - no méximo - de
apenas uma parcela dos habitantes do Araripe. En-
trementes, “portugueses e mestigos”, chegados &
regido, certamente a procura de cativos, teriam de-
movido muitos de tal decisdo. O sacerdote teria ini
ciado 0 éxodo com 580 acompanhantes.
Em julho de 1581, apds escapar de tentativas
de escravizacao, a triste coluna formada por homens,
mulheres € criangas alcangava o destino. Dos quase
600 retirantes que haviam partido do Araripe, apenas
250 chegaram as povoagdes jesuiticas da capitania
da Bafa, Na mesma carta, o padre José de Anchieta
informa que, por aquelas épocas, destacamentos es-
cravistas percorriam os sertdes & caga de brasis que
“cem homens portugueses” teriam morrido devido a
resisténcia oposta pelos autéctones. (ANCHIETA,
1984:308-311,323-4,) Apenas alguns punhados do mais
de meio milhar de “descidos” alcangaram possivel-
mente a reiniciar a vida no litoral
Relata José de Anchieta que, ém setembro de
1581, dois meses depois da chegada da coluna do
padre Nunes, explodiram na regia ‘as mais cruéis €
gerais doengas, que nunca nesta terra se viram”.
(ANCHIETA, 1984: 307.) Ndo sabemos quantos ex-mo-
radores do Araripe, extenuados pela longa e dificil
marcha, aleangaram a sobreviver & epidemia ¢ &
instalagao nas aldeias jesuiticas. Um ‘inverno” duro
¢ longo, com grandes “chuvas, invernadas, frios €
tempestades”, castigara a populagao © compromete-
ra as colheitas, sobretudo a de mandioca. (ANCHIE-
TA, 1984: 307-8)
Na capitania da Baia, uma fortissima epidemia
de sarampo e disenteria causava mais uma hecatom-
be entre a sofrida populacdo nativa. Debilitados pela
miseravel vida a que estavam reduzidos ¢ mal-ali-
mentados ao extremo, os brasis morriam aos mago-
tes. A falta de bragos para levar n adiante as rogas
aumentava a escassez de alimentos e debilitava ain-
da mais a populaco enferma. Fechava-se assim 0
circulo infernal. Alguns engenhos da regitio chega-
ram a perder cingiienta cativos. Em uma aldeia jesui-
tica, 600 brasis adoeciam em um sé dia. Na cidade
de Salvador e seu termo, teriam morrido nove mil
americanos.
A. DOR DO AMO
padre José de Anchieta anota candidamente
a tristeza que se abateu sobre os colonos da capita.
nia: “O que neste tempo mais quebrava 0 coragao
era o desamparo dos [brasis] que morriam, porque os
mais era a mingua. E também dos portugueses que,
com ais e gemidos, choravam sem remédio o pouco
ou nenhum [eativo], thes ficava de vida, porque na
verdade, morta a escravaria e indios, nao ha [como]
viver nesta terra.”” (ANCHIETA,1984: 308.) A rarefaco
das comunidades nativas colocava um grave proble-
ma aos lusitanos. A escassez de mao-de-obra podia
sustar 0 acelerado desenvolvimento da producdo
agucareira que consumia pantofagicamente trabalha-
dores escravizados.
ciclo do “descimento” das comunidades
brasilicas do interior exige estudos que explicitem
todas as suas implicagGes. Parece terem sido varias
as razdes que facilitaram a transferéncia voluntaria
ou semivoluntéria, sem maior resisténcia, de nume-
rosas aldeias do interior em dire¢o ao mar. A cons-
ciéncia da superioridade militar e civilizatoria lusita-
na estaria profundamente implantada na alma dos
povos tupinambas e outros. Algumas das comunida-
des “‘descidas” eram originérias do litoral e haviam
penetrado nos sertdes para furtarem-se aos ataques
lusitanos. Viviam em um ambiente indspito ¢ sonha-
vam com os antigos tempos de abundancia que ti-
ham conhecido junto ao mar. Receberiam com ale-
gria as promessas de poderem voltar para o litoral e
ali se estabelecerem com seguranga.
149
Re
Como vimos, 0 talvez mais difundido mito
messifinico tupi-guarani era a procura da “terra sem
males”, reino terreno de abundancia e juventude
eterna. O antropélogo A. Métraux lembra: “Reina a
respeito da situagao da ‘terra sem mal’ duas opinides
divergentes: alguns a localizam no centro da terra,
[.-1: Pessoas competentes, entretanto, estio de acor-
do em assegurar que a ‘terra sem mal’ fica situada
para o oeste, além do mar. A conjuntura dessas iti
‘mas pareceu ter prevalecido, pois foi sempre 0 ocea-
no que os tupis, migrando & procura do paraiso,
procuraram atingir.” (METRAUX, 1950: 333.)
Segundo parece, no minimo a partir da terceira
década do quinhentos, pressionadas pela colonize-
Go lusitana, grandes migracdes tupinambés parti
ram do atual litoral de Pemambuco e da Bahia em
diregao do norte e noroeste. A rica varzea do Ama-
zonas ¢ de seus tributérios foram um dos palcos
destes impressionantes deslocamentos populacio-
nais. Em 1538, uma importante vaga migratoria en-
contrava-se na regido entre os rios Tefé e Coari, no
alto Amazonas e, em 1549, chegava, dizimada, a vila
de Chachapoyas, no Peru, Os tupinambas ocuparam,
igualmente, a ilha de Tupinambarana, no médio
Amazonas, regides do Maranhao, a partir de 1580.
(PORRO, 1993: 16,23 et passim.)
As comunidades que se embrenhavam nos ser-
{es sentiriam a falta da antiga abundancia do litoral.
Esta era em verdade a terra da promissio. Eram os
pajés que galvanizavam e dirigiam as comunidades
tupi-guaranis quando destes movimentos migraté-
rios. Numa época de derrota diante dos colonos
profunda descresea em suas forgas, sacerdotes e co-
lonos certamente assumiriam com facilidade o papel
de Moisés americano nesta migrago das comunida-
des tupinambas do interior para o desastre & beira-
mar. (PAUSTO, 1992: 385,)
A dizimagio das comunidades do litoral signi-
ficaria, para muitas outras, que viviam no interior,
‘uma excepcional ocasiao para ocuparem terras que
cobigavam ou de onde haviam sido expulsas em
tempos passados. A medida que desapareciam as
150
comunidades da costa, os portugueses internavam-se
nds sert0es a procura de brasis. Milhares de america-
nos foram transferidos para o litoral. As expedigies
escravizadoras luso-brasileiras que trilhavam os ser-
t0es & procura de cativos levavam muitas comunida-
des a adearem-se, no litoral, sob a protecao jesuitica,
na esperanga de que tal medida as protegessem dos
escravizadores. As “aldeias de indios” passaram a
abrigar uma crescente e eclética populagdo de brasis
de varias procedéncia e culturas.
BASTAVA UM PARENTE
Frei Vicente do Salvador, em sua Histéria do
Brasil, referiu-se as “‘descidas” realizadas, na déca-
da de 70, durante a administragao de Luiz de Brito
de Almeida, quarto governador-geral e ferrenho es-
cravizador: “Mas ordinariamente bastava a lingua
do parente mameluco, que hes representava a fartu-
ra do peixe e mariscos do mar de que la careciam, a
liberdade de que haviam de gozar, a qual nao teriam
Se 0S trouxessem por guerra. Com estes enganos
com algumas dadivas de roupas e ferramentas que
davam aos principais ¢ resgates que Ihes davam pe~
los que tinham presos em cordas para os comerem,
abalavam aldeias inteiras, e em chegando a vista do
mar, apartavam os filhos dos pais, os irmaos dos
irmaos ¢ ainda as vezes a mulher do marido [...].”
‘Ao menos em teoria, os brasis distribuidos entre os
colonos nao eram escravos. (SALVADOR, 1982: 181.)
As durissimas condigdes de existéncia dos ca-
tivos nos engenhos ¢ nas outras atividades coloniais
determinavam altissimas taxas de mortalidade
Como os habitantes do litoral, as populagdes desci-
das acabavam-se com rapidez. Possiveimente em
1587, Anchieta escreveria sobre a hecatombe popu-
lacional brasilica: “A gente que de 20 anos a esta
parte é gastada, nesta Baia, parece coisa que se no
pode crer; porque nunca ninguém cuidou facreditou]
‘que tanta gente se gastasse, nunca, quanto mais em
‘0 pouco tempo [...].” Segundo ele, tao despovoado
estaria o litoral que os escravizadores eram obriga-
dos a penetrar mais de 250 Iéguas os sertdes para
obterem cativos. Devido as distincias, boa parte dos
capturados morria durante a viagem. (ANCHIETA,
1946: 47-9,
Quando os brasis do interior comegaram a es-
cassear, os colonos voltaram-se decididamente para
0 trifico negreiro. As centenas de milhares de brasis,
escravizados permitiram a acumulagdo de capitais
que financiariam a importacdo de trabalhadores es-
cravizados da Africa. Com 0 trafico negreiro, abria-
se todo uma nova pagina da histéria do Brasil colo-
nial, Em uma carta de 1581, referindo- se & capitania
da Baia, o padre José de Anchieta escreveu: *“Cres-
ceu tanto 0 trato dos escravos, que de Guiné vém
para esta terra, que este ano se tem por certo serem
tentrados, s6 nesta cidade, mais de dois mil.” E infor-
mava que fora delegado a um jesuita instruir os
africanos “nas coisas da 8” e que se fundara para
cles a confraria de “Nossa Senhora do Rosirio”.
(ANCHIETA, 1984: 312) José de Anchieta acreditava
que tais medidas ajudariam a manter os “negros da
Guiné” “domésticos”. que - para o jesufta - era
deveras necessério.
Segundo 0 sacerdote, os africanos mostravam-
se rebeldes - ““pouco sofredores de superioridade” ~
€. mesmo quando eram poucos, ja haviam tentado
rebelar-se. (ANCHIETA, 1984: 312.) © medo dos colo-
‘nos luso-brasileiros do ‘fndio antropéfago” meta-
morfoseava-se no temor ao ‘negro insubmisso’. O
historiador norte-americano S.B. Schwartz acredita
que, na capitania da Baia, a “transigao para uma
forga de trabalho africana” tenha sido “efetuada nas
primeiras duas décadas do século XVII",
(SCHWARTZ, 1988: 68.) Por estas épocas, jé comesa.
vam a pertencer & historia as comunidades tupinam.
bas que senhoreavam indémitas o litoral brasileiro
quando da descoberta cabralina.
131
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Big Data para o Desenvolvimento Urbano SustentavelDocument132 pagesBig Data para o Desenvolvimento Urbano SustentavelFabian DominguesNo ratings yet
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Artigo - A Proteção Das Praças e Dos Espaços LivresDocument6 pagesArtigo - A Proteção Das Praças e Dos Espaços LivresFabian DominguesNo ratings yet
- Boletim Especial Um Olhar Sobre A Juventude No Mercado de TrabalhoDocument16 pagesBoletim Especial Um Olhar Sobre A Juventude No Mercado de TrabalhoFabian DominguesNo ratings yet
- LISBOA A Honestidade Intelectual Do EconomistaDocument6 pagesLISBOA A Honestidade Intelectual Do EconomistaFabian DominguesNo ratings yet
- The Unity of The Capitalist Economy and State - ReutenDocument735 pagesThe Unity of The Capitalist Economy and State - ReutenFabian DominguesNo ratings yet
- COASE The Nature of The FirmDocument20 pagesCOASE The Nature of The FirmFabian DominguesNo ratings yet
- Herbert Simon Theories of Bounded Rationality 1972Document16 pagesHerbert Simon Theories of Bounded Rationality 1972Fabian DominguesNo ratings yet
- LAGEMANN Formação Tributaria Do BrasilDocument28 pagesLAGEMANN Formação Tributaria Do BrasilFabian DominguesNo ratings yet
- Accounting-for-the-Effect-of-Health-on-Economic-Growth-27pncsm - DAVID WEIL (2007)Document42 pagesAccounting-for-the-Effect-of-Health-on-Economic-Growth-27pncsm - DAVID WEIL (2007)Fabian DominguesNo ratings yet
- CARRION Othilia Economia UrbanaDocument19 pagesCARRION Othilia Economia UrbanaFabian DominguesNo ratings yet
- Bianca Palacio Monografia - Cooperação - Brasil - India - 2020Document83 pagesBianca Palacio Monografia - Cooperação - Brasil - India - 2020Fabian Domingues100% (1)
- História Da Economia Mundial, Roger BackhouseDocument391 pagesHistória Da Economia Mundial, Roger BackhouseFabian Domingues100% (1)
- MILL J S Sujeição MulheresDocument149 pagesMILL J S Sujeição MulheresFabian DominguesNo ratings yet
- Escravidao Mercado Interno e ExportacoesDocument320 pagesEscravidao Mercado Interno e ExportacoesFabian DominguesNo ratings yet
- A Odisseia de Hakim VOL2Document268 pagesA Odisseia de Hakim VOL2Fabian DominguesNo ratings yet
- O Guia Empirico e A Matematizacao Da PerDocument131 pagesO Guia Empirico e A Matematizacao Da PerFabian DominguesNo ratings yet
- HERMANN J Reformas Endividamento Externo e o Milagre EconômicoDocument24 pagesHERMANN J Reformas Endividamento Externo e o Milagre EconômicoFabian DominguesNo ratings yet
- Cano (2002) Cap 2 - Introd Aval de Programas SociaisDocument4 pagesCano (2002) Cap 2 - Introd Aval de Programas SociaisFabian DominguesNo ratings yet
- A Odisséia de Hakim VOL1Document274 pagesA Odisséia de Hakim VOL1Fabian DominguesNo ratings yet
- QuesnayDocument22 pagesQuesnayFabian DominguesNo ratings yet
- O Perfil Da Pessoa Estrangeira Encarcerada No Rio Grande Do Sul (2020 - 2021)Document22 pagesO Perfil Da Pessoa Estrangeira Encarcerada No Rio Grande Do Sul (2020 - 2021)Fabian DominguesNo ratings yet
- Fundamentos Do Sistema Bancario No Brasil 157228-Texto Do Artigo-345892-1-10-20190422Document32 pagesFundamentos Do Sistema Bancario No Brasil 157228-Texto Do Artigo-345892-1-10-20190422Fabian DominguesNo ratings yet