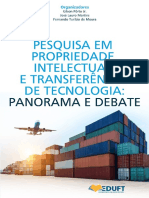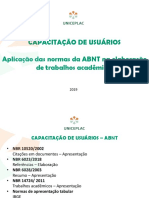Professional Documents
Culture Documents
Leitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1
Leitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1
Uploaded by
Rafaela Goncalves0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views344 pagesOriginal Title
Leitao 2014 Cultura em Movimento Politicas culturais e gestao 1
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views344 pagesLeitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1
Leitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1
Uploaded by
Rafaela GoncalvesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 344
CLAUDIA SOUSA LEITAO e LUCIANA LIMA GUILHERME
CULTURAEmM
MOVIMENTO
Memorias e reflexées sobre politicas publicas e praticas de gestao
°
oy
er =
fone ne
en ie
da Cultura
Peony
Claudia Leitao é graduada em
Dern MUM Ce ase
Cole uN Merete
AMUN ee rsac rte Oke Iee
Ieee ruta Bit et TE}
Nei Ms ae RR coe}
em Sociologia pela Sorbonne, Paris
NA ger CCAS in CoM [oR TIN (ao)
Nacional de Aprendizagem Comercial
Sea Nola craciRERat te}
Clee tater aM CeCe REI
eo TT RGM col oe so}
Le snecos a Teer ee et ord
COMUNE acre Ketch
Re Cole Remote are CnC T
CSU Metse os a eforcle UT cr
MPGNT/UECE, e em Planejamento
Cytron cree naan se
Membro da Rede de Pesquisadores
de Politicas Culturais (REDEPCULT), e
CLE eu cle NE}
Celera ee Keer aio
(OMC) e da Conferéncia das
IN teo UN Cot eM MS tol Ae}
Desenvolvimento (UNCTAD).
rere Reece Meee na
Ne Tne Ne Nae aed
UT LetTe Eel Mato ele (OMG
Mestra em Administracao pela
UN Tess ELe[-m 3 e-1e (CMe [RG ey
doutoranda do Programa de Pés
lelete Mehler aM ety
Estratégias e Desenvolvimento (PPED/
Ui gts oe MEER
Comunicagao do Servico Nacional de
Aprendizagem Comercial SENAC/CE,
ERS Cen Neca ers ee]
da Cultura do Ceara e diretora de
Empreendedorismo, Gestao e Inovacéo
COR deere Neo M SECT Nelo}
IMI ite ROU ie MRC ole Ru)
Sco TaT TE Megan Meo MICs}
Cultura de Cabo Verde.
a
Tuten
Be Once ence)
Scr err Rete ce
CR Ue MD
ry Co uc
Ty aia
CULTURAEM
MOVIMENTO
Memérias ¢ reflexdes sobre politicas piblicas e praticas de gestao
.
sake
ae
i
CLAUDIA SOUSA LEITAO e LUCIANA LIMA GUILHERME
CULTURArEM
MOVIMENTO
Memorias ¢ reflexdes sobre politicas ptblicas e praticas de gestéo
FORTALEZA CE
2014
Armazém
da Cultura
Copyright ©2014 by Armazém da Cultura
Fortaleza 2014
EDITORA: Albanisa Lucia Dummar Pontes
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Telma Regina Beserra de Moura
PROJETO GRAFICO E CAPA: A. Assaoka
EDITORAGAO ELETRONICA: Suzana Paz
ASSESSORA DE COMUNICACAO: Mariana Dummar Pontes
REVISAO: Vessillo Monte
(Proibida a reproducao total ou parcial deste livro, por qualquer meio ou sistema, sem prévio consentimento da editora)
Texto estabelecido conforme o novo ac ordo ortografico da lingua portuguesa
Dados Internacionais de Catalogagao na Publicagao (CIP)
(Camara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Leitéo, Claudia Sousa
Cultura em movimento : memérias e reflexdes sobre
politicas publicas e praticas de gestéo /
Claudia Sousa Leitao e Luciana Lima Guilherme. ~
Fortaleza : Armazém da Cultura, 2014.
Bibliogratia.
ISBN 978-85-63171-96-2
1. Cultura 2. Gestdo 3. Politica cultural
4. Politica publica |. Guilherme, Luciana Lima.
II. Titulo.
14-07275 CDD-306
Indices para catalogo sistematico:
1. Politica publica : Gestdo : Politica cultural 306
Todos 05 direitos desta edigo reservados a0 Armazém da Cultura
CEP: 60150.080 Rua Jorge da Rocha, 154, Aldeota - Fortaleza CE, Brasil
Fone/Fax: (85) 3224.9780
‘Skype: armazem.da.cultura
Site: wwww.armazemcultura.com.br
E-mail: armazemdacultura@armazemcultura.com.br
Este livro utiliza papel que segue as leis ambientais de protecao a natureza.
Para
_ANDREA AVT BINDA,
in memoriam
Tratamos da cultura em
movimento e, nem tanto,
de movimentos culturais;
a cultura enquanto
processo organico
inquieto, provocativo...
Tr Cataldo
SUMARIO
12
14
20
23
27
31
55
O NOVO E O NOVELO
Gilberto Gil
UM VIVIDO AINDA VIVO
Claudia Leitéo
E O IMPOSSIVEL ACONTECE
Luciana Guilherme
PREFACIO
lsaura Botelho
E POR FALAR EM POLITICAS CULTURAIS
© INICIO: (IN)DEFINICGES, RECEIOS E EXPECTATIVAS
47 A Construcao do Plano Estadual de Cultura
© MEIO: OS DESAFIOS DE FORMULAR, IMPLEMENTAR E INTEGRAR
POLITICAS PUBLICAS DE CULTURA
58 Areas-Meio
58 Planejamento e Orcamento
63 Administrativo-Financeiro
69 — Juridico
71 Comunicacao e Marketing
79 Areas-Fim
79 Patriménio Histérico-Cultural
92 Aco Cultural
96 —Politicas do Livro, Leitura e Acervos
101 Financiamento
109 —_Legislacio
113 Uma Politica Federativa: A Construcao do Sistema Nacional de Cultura
189
225
236
252
267
272
303
143 Projetos de Referéncia
143 Proposta de Reestrutucao da SECULT
144 Selo de Responsabilidade Cultural
152 Agentes de Leitura
161 Talentos da Cultura
165 Mestres da Cultura Tradicional Popular
167 Plano da Bacia Cultural do Araripe
169 Criativa Bureau
170 Seminarios Cultura XX!
177 Eventos Estruturantes
186 Colecao Nossa Cultura
CULTURA EM MOVIMENTO:
PROGRAMA VENCEDOR DO PREMIO CULTURA VIVA
O FIM: RESULTADOS, FRUSTRACOES E APRENDIZADOS
E 0 SONHO CONTINUA - ENTRE O DESTINO DE SISIFO E A VITORIA
DE HERMES... CONVERSAS COM CELSO FURTADO E A CULTURA COMO
QUARTO PILAR DO DESENVOLVIMENTO
BIBLIOGRAFIA
SITES INDICADOS
APENDICE
272 Praticas de Gestao Cultural
ANEXOS
303 Anexo | - Relacdo de Entrevistados / Informantes
303 — Anexo Il - Equipe da Secretaria da Cultura do Ceara — 2003 a 2006
312 Anexo Ill - Especial sobre o Selo de Responsabilidade Cultural — 2004 — jornal
Didrio do Nordeste
318 — Anexo IV - Cadastro do Profissional da Cultura
323. Anexo V - Cadastro de Empresa de Bens e Servicos Culturais
325. Anexo VI - Registro e Mapeamento do Patrimnio Material
327. Anexo VII - Sistema de Informacao Cultural
O NOVO E O NOVELO
GILBERTO GIL
Uma das grandes dificuldades para encontrar pessoas que venham, na
gestao publica, contribuir com sua energia e capacidade de trabalho de forma
criativa, inovadora e eficaz, € conseguir juntar nelas os ingredientes da vocacio,
da vontade, do génio e do preparo. Em qualquer campo da gestio ptiblica, mas
em especial naqueles em que a otimizagao do modus operandi depende de
uma compreensao audaciosa e generosa do objeto de trabalho — e esse € justo
© caso do campo cultural — 0 gestor tem que ser alguém especialmente talhado
para o desafio permanente de associar compromisso com talento, envergadura
intelectual e habilidade.
Claudia Leitao com quem tive o privilégio de trabalhar — eu, como Mi-
nistro de Cultura, e ela, como Secretaria de Cultura do Ceara — € uma dessas
pessoas especiais. Desde 0 nosso primeiro encontro até perdé-la de vista apos
eu ter deixado 0 Ministério, a sua presenca pessoal e a desmedida contribuicao
do seus fazeres como Secretaria de Cultura sempre foram permanentes fontes
de inspiragio para mim e para toda a nossa equipe no Minc. Uma parte consi-
deravel do novo repertério de propostas e agdes ministeriais surgida naqueles
laboriosos corredores de Brasilia, decorreu daquilo que Claudia Leitao e sua
Secretaria vinham propondo e buscando realizar no Ceara; ou simples e felizes
coincidéncias, sincronicidades da leitura em comum para fendmenos da vida
cultural brasileira e mundial, que nos punham em estreita sintonia e nos leva-
vam a compreender a necessidade irrecusdvel da colaboracao.
Num dos trechos deste livro que Claudia Leitao e Luciana Lima Guilherme
nos oferecem como legado do seu comprometimento com uma viséo contem-
poranea da cultura, elas nos lembram que “identidade, diversidade, criativi-
R
dade, expressées tradicionalmente presentes nos discursos artisticos, passam,
enfim, a compor os discursos politicos, econdmicos, juridicos e sociais”, ex-
pondo assim um dos sintomas das transformacdes que tém levado governos
e sociedades a rever continuamente suas nogées de cultura e politica cultural,
ponderando as politicas ptiblicas para a cultura com novos conceitos sobre
desenvolvimento, crescimento econdémico, bem-estar social e vida sustentavel
para povos e paises.
A grande ampliagao dos conhecimentos sobre a vida cultural do Ceara €
do Brasil, propiciada por uma apaixonada atuag3o no campo e uma ininter-
rupta capacitacao pelo estudo e a investigacao na escola, da as autoras desse
trabalho uma autoridade de especialistas competentes que tanto nos inspira
confianga, quanto nos infunde a esperanga do novo, irremediavelmente novo,
no desenrolar do novelo!
B
UM VIVIDO AINDA VIVO
CLAUDIA LEITAO
livro Cultura em Movimento nasce de um desejo e de uma promessa. Desejo
de contribuir para o registro de uma etapa importante da historia das politicas culturais
brasileiras (2003/2006), periodo em que compartilhei, enquanto Secretaria de Cultura do
Ceara, a formulacao ¢ a implementagao de politicas ptblicas com 0 Ministério da Cultura,
naquele momento liderado pelo Ministro Gilberto Gil. Promessa que fiz, desde o final
do meu mandato, de “contar essa hist6ria” aos secretirios e dirigentes de cultura, produ-
tores, empreendedores, gestores, artistas, pesquisadores, professores e demai
profissio-
nais
s do campo cultural brasileiro, com o intuito de contribuir para a sua reflexio e acao.
Antes de me tomar gestora publica, eu j4 compartilhava, com os meus colegas,
alunos e orientandos na Universidade, os desconfortos das abordagens a respeito das
relagdes entre cultura e desenvolvimento, refletindo com eles
sobre as implicacdes
tensdes prov s duas dreas, Nas diversas leituras
das pela disputa simbGlica entre e:
que faziamos, foram aquelas que destacavam a cultura como eixo estratégico para o de-
senvolvimento local ¢ regional, com as quais eu mais dialoguei nas minhas pesquisas, e
que sempre me ofereceram pistas para alimentar minhas pequenas utopias
Quando conversava com os meus alunos de pés-graduacao sobre capitalismo
contemporiineo e sua apeténcia ¢ competéncia na manipulacao dos simbolos culturais,
sempre procurei ressaltar a importncia do pensamento de Edgar Morin, sobretudo, do
seu chamamento a “religacao dos saberes” (1999), tanto como método cientifico, quanto
como
str
gia politic:
Considerivamos que a Universidade ¢ 0 Estado poderiam e de-
veriam contribuir de forma parceira para a formulagdo de uma “politica de civiliza
A expresso, também da autoria de Morin (2010, p. 263-275), refere-se a uma “refunda-
a0” da politica, capaz de salvaguardar e restaurar solidariedades
partir da cultura
da criatividade:
“4
Estou convencido de que a solidariedade é tao contagiosa quanto o egoismo. Em todo
0 ser bumano existem como se fossem dois softwares complementares e antagénicos,
ambos igualmente vitais; 0 primeiro, o do Eu somente Eu [ ...), 0 outro, o do Nés, no
qual o Eu se integra & comunidade [...] Por outro lado, estou convencido que os indi-
viduos e as sociedades detém um potencial gerador, regenerador e criador, mas ini-
bido. Em seu estado normal, as sociedades possuem suas inflexibilidades, constrigdes
e até mesmo escleroses que sufocam as possibilidades criativas do individuo |....] Ora,
a crise favorece a expresso de forcas criativas [...] Por isso, fago um apelo para que
se substitua a expansao do ser bumano submetido ao nticleo tecnoecondémico pela
nogdo de desenvolvimento, para se conceber uma politica que leve em conta as es-
pecificidades culturais e sociologicas das nacées ou regides as quais ela se aplicaria.
Tanto a Universidade, na produgao de estudos e pesquisas, quanto o Estado, na
formulacao de politicas ptiblicas, necessitariam “religar saberes’, na tarefa da construgao
de novos significados para o desenvolvimento: a Universidade, na produgao e na “re-
ligacao” do novo conhecimento, produzido pela pesquisa cientifica e pelo avanco das
tecnologias, com os saberes tradicionais; O Estado, na formulagao de politicas verdadei-
ramente publicas, participativas, integradas e transversais, voltadas niio somente para a
potencializacio das dimensdes quantitativas do “viver” mas, sobretudo, para os aspectos
qualitativos do “bem viver”. Diante da complexidade de cendrios propostos pelas so-
ciedades contemporaneas, assoladas por crises de varias naturezas (econdmica, social,
moral, politica, cultural, educacional, ambiental), Estado e Universidade deveriam, por-
tanto, inserir conhecimentos locais nas suas andlises globais, sem, contudo, subestimar
08 impactos do global sobre o local.
15
Ao longo da minha vida académica, a cultura sempre emergia nessas discussdes
como uma espécie de “método”, ao mesmo tempo analitico e sintético, capaz de religar
as partes ao todo e 0 todo as partes. Ou ainda, ela surgia como 0 desvio necessério capaz
de promover um novo comeco, 0 despertar de novas formas de pensar. “A origem nao
se encontra atras de nés, mas diante de nés”, dizia eu, parafraseando Jacques Derrida
(2008). E, dessa forma, a cultura acabava funcionando como um intermezzo entre outros
temas, uma espécie de “liga” que funcionava, ora como instrumento de resgate do hu-
mano nas discussdes sobre desenvolvimento, ora como “antidoto” nos debates sobre a
pasteurizagio, privatizacdo e empobrecimento do mundo, promovidos pela globalizacio.
Em 2003, afastei-me temporariamente da docéncia para assumir a gestio da Secreta-
ria de Cultura do Ceara. Nunca imaginei que, durante o meu cotidiano de gestora publica,
eu voltaria intimeras vezes aquelas reflexdes académicas! Em 2006, ainda Secretaria, tive
© privilégio de festejar dois fatos e feitos: o aniversario de 40 anos da primeira Secretaria
de Cultura do Brasil e 0 primeiro lugar, no Prémio Cultura Viva, do Ministério da Cultura,
obtido pelo Programa Valorizagao das Culturas Regionais da SECULT, na categoria Gestio
Pdblica Cultural.
A Secretaria da Cultura que conheci, em janeiro de 2003, era fruto dos efeitos
perversos da ideologia do “Estado Minimo”: uma instituigao desestruturada, debilitada
pela escassez de recursos humanos, tecnol6gicos e financeiros, desarticulada e isolada,
enfim, incapaz de corresponder as expectativas do campo cultural cearense. Apesar
do diagnéstico desanimador, decidimos assumir 0 compromisso de devolver a Secre-
taria suas responsabilidades na formulagdo e implementagao das politicas ptiblicas de
cultura. Para isso, precisévamos nos aproximar, de forma eficiente, eficaz e efetiva,
dos municipios cearenses, assim como dos bairros periféricos da capital, para ouvir a
16
populacao, e com ela construir uma politica de Estado para a cultura. O desafio estava
posto.
Nos quatro anos da gesto, gracas ao envolvimento e a parceria da populagao,
do campo cultural e das instituigdes publicas, privadas e do terceiro setor, a Secretaria
da Cultura comegou a participar de forma cada vez mais ativa das discussdes acerca do
desenvolvimento local e regional no Ceara, Fui confirmando, aos poucos, algumas hip6-
poderiamos, sim, ampliar, a partir da cultura,
teses que havia formulado na Academi:
8 significados do desenvolvimento. Mas, para isso, precisariamos ser criativos. Ao longo
de toda a gestio e, em fungao dos seus diferentes desafios, fomos criando e acumulando
tecnologias de trabalho, assim como solugées inusitadas para resolver problemas.
O reconhecimento do Ministério da Cultura nossa atuagao também nos incenti-
vou a sistematizar esse “vivido”, para compartilh4-lo com outros gestores culturais bra-
sileiros. E 0 que entregamos hoje aos nossos leitores: memérias, reflexes e priticas de
gestio, construidas a partir dos relatos de experiéncias, impressées e sugest6es de ges-
tores ptiblicos de cultura, com os quais nos relacionamos ao longo da nossa caminhada.
Acreditamos que essas memérias contribuem para a afirmagao das politicas puiblicas de
cultura como instrumentos valiosos na formulagao de estratégias para o desenvolvimento
sustentavel brasileiro.
Na escritura do livro, refago os caminhos percorridos pela Secretaria, entre 2003 e
2006, assim como reflito sobre o presente e o futuro das politicas ptiblicas e da gestéo
cultural brasileira. Quando me refiro as minhas lembrangas, escrevo na primeira pessoa
do singular, nao do presente para o passado, mas sim, do passado ao presente, ou seja,
da lembranga a percepgao. Sobre a meméria, Bergson (1999, p.282-283) nos adverte que,
“ao completarmos uma lembranca com detalhes pessoais, nés nos transportamos a um
7
plano de consciéncia mais extenso, ou seja, acrescentamos as acdes o tempero do sonho.
Assim, a inteligéncia se move entre lembrangas, ora separando-as, ora integrando-as, mas
sempre num processo de recriagdo e de reinvencao”.
A meméria é movimento. Por isso, esse livro também contém as “memérias do
futuro”, ou seja, reflexdes sobre os novos horizontes das politicas ptiblicas culturais, es-
pecialmente, do seu reposicionamento politico, social e econdmico nas sociedades con-
temporaneas. Chamo a atencio dos leitores para o apéndice, os anexos e o CD-ROM que
complementam 0 livro. No apéndice, encontram-se as praticas dos gestores das diversas
organizagoes culturais da SECULT ou vinculadas a ela. Nos anexos estao informacdes
valiosas produzidas ao longo da nossa gestdo, assim como documentos de valor hist6rico
que enriquecem a nossa narrativa. No CD-ROM apresentamos um valioso registro audio-
visual do Cultura em Movimento, assim como os arquivos de varias publicagées (planos,
relatorios, leis, entre outras) produzidas em nossa gestdo e que, certamente, serao Uteis
aos gestores culturais brasileiros.
Por Ultimo, gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente contribuiram
com essa publicacao:
Ao Ministro Gilberto Gil, cuja parceria me deu “a régua e o compasso” para trans-
formar sonhos em agées;
Ao Governo do Ceara, especialmente aos poderes executivo e legislativo, cujo
apoio foi essencial para os resultados alcancados;
A Universidade Estadual do Ceara, através do reitor Jackson Sampaio, dos colegas,
funcionrios e, especialmente, dos meus alunos, pela cumplicidade nos meus mais de 30
anos de magistério;
Aos amigos da Rede de Pesquisadores de Politicas Publicas de Cultura (REDEPCULT),
18
especialmente a Isaura Botelho, que aceitou generosamente prefaciar essas memérias;
‘Aos gestores e produtores culturais, dirigentes municipais e artistas brasileiros,
especialmente aos mestres da cultura popular, que me mostraram e me demonstraram
ser possivel construir de forma compartilhada um desenvolvimento com envolvimento;
‘A todos os amigos e colegas da minha equipe da Secretaria da Cultura do Ceara e
do Ministério da Cultura (2003-2006), que enriqueceram esse livro com a forga do “vivi-
do” (ainda tao “vivo"!), minha gratidao e carinho;
A Lucivanda Vieira, pela organizacao minuciosa das fotos, filmes, documentos e
‘outras publicagdes que compdem o livro € seus anexos;
A Raquel Gondim, pela revisio competente das referéncias bibliograficas;
A Ademar Assaoka, pelo projeto grifico inspirado e inspirador;
A Albanisa Dummar, que aceitou, com Animo e anima, o desafio de publicar essas
memérias pelo Armazém da Cultura;
A Estevao Carvalho Rocha, pela generosidade em contribuir, através da Grafica LCR
e da UNICHRISTUS, para a concretizac4o desse sonho;
‘A 3coracées, na pessoa do seu diretor-presidente, Pedro Lima, pela parceria na
produgio e difusio do livro;
A Luciana Guilherme, por dividir comigo, com brilhantismo e dedicacdo, essa nar-
rativa;
A minha familia, especialmente, as minhas filhas, Camila e Laura, “as minhas meni-
nas do meu coracao” que um dia a solidao quis maltratar (como cantou Chico Buarque),
em funcao das minhas longas auséncias de casa durante os quatro anos da gestao, pela
alegria, graca e beleza que emprestam & minha vida.
E O IMPOSSIVEL ACONTECE
LUCIANA GUILHERME
Conheci Claudia no primeiro semesire do meu mestrado em Administracao. Na pri-
meira aula de metodologia cientifica encontrei um professora irrequieta e bem articulada,
que falava com paixao e que trazia a discussao de cultura para 0 cerne da investigacao
cientifica, de um modo provocativo e instigante. E, na cultura, encontrei um prumo para
a inadequagao que sentia na minha 4rea de atuag’o, ao pensar uma Administracio sob
olhares menos simplistas e mais complexos, sob olhares mais reflexivos ¢ mais criticos.
A partir daf, expandi minhas possibilidades de estudo, ao deslocar © meu olhar de temé-
ticas tradicionais, focadas na velha indiistria, para tematicas culturais menos investigadas
no campo das organizagdes. Mergulhei envio no universo da gestao cultural, na gestao
de empreendimentos culturais, imersos num imagindrio muito peculiar, em funcao da
sua ligac’o intrinseca com as expressdes artisticas, com o simbélico, com o intangivel.
Claudia tornou-se minha orientadora, 0 que me levou a uma mudanca de rumo, a um
novo caminho profissional.
Anos depois, fui convidada, pela entao Secretaria da Cultura do Ceara, para assumir
e estruturar a drea de marketing da Secretaria, na sua gestao. Foi minha primeira experi-
Encia em gestio pablica, minha prim:
fa rica e intensa experiéncia em gestio ptblica de
cultura. Numa 4rea-meio estratégica, eu tive a oportunidade de estar envolvida em todos
os programas e projetos da SECULT, que iam desde a 4rea de Acao Cultural, passando
pelas Politicas de Livros e Acervos até a area do Patriménio Hist6rico, Artistico e Cultural.
E o melhor: fiz parte de uma equipe de poucos, mas aguerridos, de uma Secretaria da
Cultura de um dos estados mais pobres do pais, com um orgamento bastante exiguo, mas
com uma capacidade de realizacao que ainda hoje me parece quase impossivel! Acredito
no que fizemos porque estive l4. E, justamente por isso, senti-me muito feliz e honrada
ao receber 0 convite de Claudia para contar com ela um pouco dessa historia.
20
te
Além de cumprir a promessa com os secretirios e dirigentes municipais de cul-
tura, produtores, gestores, artistas e demais profissionais do campo cultural, que tanto
demandaram a Claudia um livro que descrevesse essa aventura que vivemos, acredito
que esse livro é uma espécie de “catarse coletiva”, uma homenagem a todos que fizeram
parte dessa equipe ou que se relacionaram com ela ao longo deste periodo de gestdo e
da vida, momento de trocas, encontros, afetos, alegrias, também de dificuldades e abor-
recimentos, mas, sobretudo, de muitas e muitas realizagées.
Este livro foi um trabalho a quatro mos construido noites adentro, pois esse era
© tempo livre que dispunhamos, regadas a chocolate, café e um vinho eventual. Assim,
busquei sistematizar as praticas de gest4o da Secretaria e de seus equipamentos e vincu-
ladas, reconstituindo os programas e projetos desenvolvidos, estruturando e ordenando
documentos e depoimentos, enfim, sintetizando o que aprendemos nessa caminhada.
Que esse trabalho sirva de inspiracdo e de referéncia para aqueles que acreditam
na cultura como vetor de desenvolvimento, como espaco de construcio simbélica, como
ponte para novas sociabilidades.
Gostaria de agradecer aos meus amigos, irmaos de vida, que sempre estiveram a0
meu lado, e que tanto iluminam e preenchem a minha vida;
A Raquel Gondim, amiga querida, que nos apoiou na organizacao e revisio;
A Albanisa Dummar, parceira fundamental na publicagao desse livro através da sua
editora “Armazém da Cultura”;
A Estévao Carvalho Rocha, pela generosidade em contribuir, através da Grafica LCR
e da UNICHRISTUS, para a impress4o desse livro;
A Claudia Leitao que, de mestre-orientadora, tornou-se amiga e parceira de muitas
“aventuras” profissionais no campo da cultura;
2
wed,
A minha mie, Hyla, e a0 meu pai, Nilo, pelo amor incondicional e apoio em todas
as minhas escolhas;
Aos meus irmaos, Germana, Danilo e Daniel, ¢ 2 minha cunhada, Isabela, pelo
amor, amizade e parcerias eternos;
Aos meus sobrinhos, Davi, Gabriel Vitor, pelo amor e pelo brilho que trouxeram
a minha vida.
22
PREFACIO
ISAURA BOTELHO
Este livro de Cléudia Sousa Leitio ¢ Luciana Lima Guilherme vem enriquecer a
bibliografia — até hoje bastante rarefeita -, sobre gestao cultural no Brasil, abordando a
a
como responsavel pela area de marketing da Secretaria, no periodo de 2003/2006.
stio do estado do Ceara, quando Claudia atuou como Secretaria de Cultura e Luciana
A partir deste exemplo inspirador do Cultura em Movimento, 0 leitor torce para
Nao es-
que surjam anélises semelhantes voltadas para a gestio das politicas culturais
tamos diante de um estudo de caso em sentido estrito, mas de um qualificado relato de
‘uma riquissima experiéncia, permeado por mem@rias ¢ reflexdes que nos deixam claro
que a sensacio de solidao, de isolamento, somada ao mar de diividas que nos acome-
tem, nao sao sentimentos exclusivos, puramente pessoais. Ha um elenco de problemas
comuns que se repetem em todas as instincias administrativas, 0 que requer, em todos
os casos, uma gestio estribada na realidade social, cultural « econdmica da popula
O leitor encontrar, com riqueza de detalhes, as maneiras encontradas pelas autoras para
responder a um cotidiano desafiador que exige escolhas que tragam respostas imediatas
€ solucdes, as mais eficazes possiveis, num contexto de constrangimentos orcamentarios,
de pessoal e de ordem politica.
Do ponto de vista da administracao de politica
s, € uma demonstracao de que €
possivel uma gestio baseada nos pressupostos de flexibilidade ¢ rigoroso planejamento
que nos torna capazes de dar conta de uma “realidade que nao espera que os homens ek
borem seus conceitos”, como dizia sempre um colega de trabalho. Isto hoje imperativo.
Cultura em Movimento é um generoso relato de uma gestao que langa luzes sobre
importantes desafios das politicas culturais, ultrapassando, em muito, os limites de uma
experiéncia estadual, pois focaliza questoes que dizem respeito ao desenvolvimento da
vida cultural da populagdo, da cidade, do estado ou do Pais. Vem comprovar 0 que sem-
23
Pre acreditei ser possivel: pela observancia de estruturas individuais, em estudos de caso,
pode-se chegar 4 compreensao de fendmenos mais gerais.
Muito se pode aprender deste livro que da conta da experiéncia de uma gestio
que durante quatro anos investiu na transversalidade conceitual e, o que € raro, adminis-
trativa, buscando parcerias com outros setores de governo. Vemos um caso exitoso de
aumento de recursos financeiros viabilizando agdes efetivamente transversais, envolven-
do e atendendo interesses de diversas dreas. Muitas seriam as praticas criativas a serem
apontadas na gestio cearense desse periodo. Tenho, no entanto, de fazer escolhas €
destaco o exaustivo trabalho de descentralizagao realizado.
Observando esta diretriz da gestio da Secretaria da Cultura do Ceard, nao podemos
deixar de articular seu movimento com aquilo que estava também pautando a politica
federal. Refiro-me a intensa mobilizagio nacional em torno de conferéncias municipais,
estaduais
culminando com a nacional em novembro de 2005, para dar substancia ao
Sistema Nacional de Cultura, que pretende organizar a articulagio entre os entes da fe-
deragio e a sociedade civil. Neste Sistema, o didlogo e a negociag’io permanentes entre
as instancias municipal, estadual e federal deverao constituir nao s6 a novidade desse
mecanismo, bem como permitirao a otimizacao de recursos humanos e materiais no de-
senvolvimento da vida cultural brasileira.
Se ainda hoje 0 processo de constituigao do Sistema esti em andamento, a mo-
bilizacao gerada por ele e pelas conferéncias tem repercutido de maneira positiva €
inédita na vida cultural de muitos municipios e do Pais. © que vemos, no caso relatado
nesse livro, € um exemplo de aco efetiva por parte do organismo estadual, esforcan-
do-se por dar concretude & articulago proposta pelo Sistema Nacional de Cultura,
comprometendo-se com todos os municipios do estado do Ceara. Temos aqui um fato
24
novo em termos de gestio cultural pois, longe de se restringir 3 assinatura dos protoco-
los (os 184 municipios existentes aderiram ao SNC), a equipe da Secretaria se deslocou
para cada um deles, mobilizando vereadores e prefeitos, prestando assessoria para a
formulagdo dos Planos Municipais de Cultura, mapeando artistas e movimentos cultu-
rais, sistematizando demandas e desenvolvendo agdes especificas segundo as necessi-
dades locais ou regionais detectadas. Fruto dessa mobilizagao 89 Srgaos municipais de
cultura foram criados.
Deixo aos leitores a riqueza dessa experiéncia, nao me detendo em outras agdes,
mas chamando a atengao para um aspecto importante. Refiro-me ao fato de que nao
necessariamente as politicas implantadas sto apropriadas pela populacdo. A descont
nuidade permanece sendo uma realidade quando das mudangas de dirigentes. Como
as autoras mencionam, a cidadania € um processo que se dé entre idas e vindas [.. e
como as priticas participativas so recentes, os grupos sociais ainda estao em processo
de construcdo e consolidagao do seu protagonismo na formulacao, implantacao ¢ mo-
nitoramento das politicas publicas no Brasil.
Concordo inteiramente com esta afirmagdo, mas gostaria de ir além chamando a
atencdo para a pertinéncia dos arranjos institucionais propostos. Eles sto decisivos ¢
uma avaliacdo, naio apenas do processo de implantagdo como do préprio desenho es-
colhido em si, poderia esclarecer porque a desmobilizacao pode ser tao rapida quanto
© entusiasmo que leva 4 mobilizacdo. A alimentagao constante do processo € decisiva.
‘Assim, como provocacdo, restaria perguntar se 0s arranjos propostos permitiram, de
fato, a expressio dos interesses substantivos dos individuos e grupos de maneira que
eles pudessem materializé-los e manter acesa a chama da mobilizacao inicial.
Finalizo agradecendo 0 convite e a paciéncia das autoras — 0 que me comoveu —,
25
teiterando meu entusiasmo por toda a contribuicao que 0 Cultura em Movimento trara
a leitores atentos comprometidos com o desenvolvimento das politicas culturais em
nosso Pais. Trata-se de construir um cendrio onde gestdes, tais como a relatada aqui,
deixem de estar entre as excegdes e possam se tornar a regra. Caso contrério, a Area
cultural demoraré ainda para se tornar beneficidria de politicas de Estado, Continuare-
mos a conviver com a situagao de setor periférico ainda por um tempo, com acées sen-
do determinadas muito mais pela ignorancia da realidade cultural ou pelas preferéncias
dos dirigentes de plantao.
26
E POR FALAR EM
POLITICAS CULTURAIS
A sociedade apurou sua forma de intervir no Estado. Os grupos
de pressdo ¢ individues comecaram a perceber que o poder da revolucao
comega no cotidiano. Nesse aspecto, a cultura assume papel estrutural
enquanto atitude transformadora e enquanto poder de mobilizacdo.
Gilberto Passos Gil Moreira
Nao € preciso ser protagonista do campo da cultura para perceber a fragili
politicas culturais no Brasil. Por outro lado, a vagueza dos significados da cultura constitui
ambiéncia favorivel 3 ctiagdo de mitos. (LUSTOSA DA COSTA, 1999, p.13-17):
‘A cultura também 6, por si s6, um espaco afeito a mitologias. O primeiro mito € 0 de que a
cultura é tudo, ou seja, ela é 0 somatérto indiscriminado das realizag6es humanas. Ora,
‘a cultura néo é somente colegdo, inventério ou repertério de objetos e manifestacées. O
que the da sentido é sua capacidade de produzir sentimento de pertenca aos diversos gru-
‘pos sociais, enfim, do proprio significado que estes objetos e manifestacdes suscitam nestes
‘grupos. O segundo mito é 0 da crenga de que a cultura é arte erudita, um saber para elet-
los. Kis ai outra faldcia. A cultura permite definicées por categorias, mas nenbuma delas
6 mais ou menos significativa do que a outra. Assim, cultura popular ou erudita, cultura
rural ou urbana, moderna ou tradicional integram a mesma realidade, sendo objetos de
interesse das politicas culturais. O terceiro mito refere-se a fragilidade natural da cultura,
sempre ameacada de extingdo. Deste modo, dever-se-ia preservar os, ‘produtos culturais de
sua propria dindmica ou dos processos de transformagao que os reconfigurassem ott os
resignificassem. No entanto, a cultura se revitaliza pela propria capacidade de dialogar
com outras culturas, e, neste caso, 0 isolamento cultural, em nome da preservagdo, po-
2
deria, isto sim, inviabilizar o fazer cultural. 0 quarto mito é 0 de que a cultura rouba
recursos de economias pobres, ou seja, quanto menos cultura mais recursos para o Es-
tado. At esté outro grande equivoco. A cultura é hoje reconbecida como uma indiscutivel
necessidade social. O quinto mito sugere que 0 fomento a cultura inibe a criatividade e
reduz a qualidade do produto ou do servigo cultural, Outro engano. As mais belas cida-
des renascentistas, por exemplo, foram, . feitas sob encomenda, isto 6, o mecenato ou o inves-
timento piiblico e privado em produtos culturais nao invalidam sua qualidade. Ha ainda
um iltimo mito - 0 de que a cultura é coisa de artista, o qual realiza projetos de viabi-
lidade duvidosa, seja por ser um sonbador, seja pela sua inapeténcia natural a andllise
de sustentabilidade econdmica dos seus projetos. Ora, os projetos culturais, exatamente
pela sua complexidade, demandam um conhecimento profundo dos arranjos produtivos
das artes e da cultura, da légica prépria dos bens e servigas culturais, enfim, é tarefa para
experts, individuos capazes de compreender as relagdes entre cultura e mercado, as contri-
buicoes do marketing cultural, a gestdo administrativo-financeira, de pessoas etc.
Mitos sao relatos fundadores, que transportam valores, aspiracdes € desejos, Mitos
exprimem a vitalidade do social ¢ se dao a conhecer por meio de organizacdes, modelos,
Papéis, contetidos pedagégicos, discursos oficiais e outras representaces do social, Toda
cultura € expressio de seu imagindrio, isto é, do reservatorio de imagens onde se inscrevem
as trajet6rias individuais e sociais do homem elegendo valores e desenvolvendo sensibilida-
des a partir dele. Gilbert Durand (1984 apud PITTA, 2005, p.20) denomina de “trajeto antro-
poldgico” esse eterno intercdmbio, no ambito do imagindrio, que cada cultura realiza entre as
Pulsdes subjetivas e as intimagdes objetivas que emanam do social. Por isso, perceberemos
melhor as sociedades contemporaneas caso sejamos capazes de compreender seus “trajetos
antropol6gicos”, ou seja, suas formas de relacionar suas sensibilidades com os meios fisico,
hist6rico e social em que vivem. Durand Prop6e que detectemos a repetic’o ou a redundan-
cia de imagens, simbolos ou mitos em uma determinada sociedade e respectivo tempo his-
t6rico, para que possamos melhor compreendé-la. De uma forma simplificadora, ele estaria
nos dizendo que “se me disseres quais sao teus mitos, teus simbolos ou representagées, eu
te direi quem és”,
Enfim, mitos no existem em estado puro, pois sio incessantemente apropriados
traduzidos pelas diversas culturas, tendo sempre uma dimensio pedagégica, ou seja, for-
necendo modelos de comportamento. Pela prépria natureza, distribuem papéis na historia,
28
interpretando a anima de uma época. S20 eles que eclodem e so transfigurados no logos
de uma civilizagao, em determinado tempo e espaco. Por isso, vo e vém, mas nunca de-
saparecem. Embora nao satisfagam necessidades epistemol6gicas nem respaldem teorias,
‘0s mitos controlam e orientam discursos, comportamentos e escolhas (LEITAO, 2008 apud
TOLENTINO, 2008, p.130), isto é, ao observamos as diversas civilizagdes, podemos detectar
a presenga de mitos hegeménicos e de outros recalcados.
No vai e vem dos mitos, apesar da ascensio dos valores da cultura sobre as socieda-
des, as politicas culturais ainda se mantém frigeis, diante de sua dificil tarefa de enfrentar
ou, mesmo, de tentar neutralizar as assimetrias produzidas pelos proprios mitos da cultura.
Na sua representagio “industrial”, por exemplo, a cultura continua ameagando a diversidade,
gerando desigualdades econémicas ¢ contribuindo para a manutencio de desequilibrios no
‘acesso & comunicaco, a informacao e & educagao entre populacées e paises. A indtstria
cultural (exemplificada pela presenca de escritores argentinos, colombianos ¢ chilenos que
publicam livros através de editoras espanholas ou de miisicos africanos que gravam eds na
Franca) produz, de um lado, o esvaziamento cultural das nacionalidades e, de outro, a“des-
territorializagao” da cultura. E mais: sua hegemonia contribui, efetivamente, para ampliar a
alienagao dos individuos e o consumo de produtos culturais de baixa qualidade.
Por outro lado, h4 que se destacar um dos grandes paradoxos do consumo cultural
planetério: enquanto os produtos da indtstria cultural vendem-se aos milhares e milhdes,
fecham-se teatros, cinemas, livrarias, bibliotecas e centros culturais. Todas essas quest6es nos
remetem ao mitos da cultura nas sociedades € nos Estados. Qual seria o papel das politicas
nario do desenvolvimento brasileiro?
No caso do Brasil, a valorizacao das politicas piblicas de cultura (seja no ambito fede-
ral, estadual ou municipal) foi historicamente sazonal. Embora, nas tltimas décadas, cada vez
mais presentes nos palanques dos candidatos ao Legislativo ou ao Executivo, os discursos
sobre cultura no se reverteram em projetos de lei capazes de garantir politicas e programas
voltados a uma efetiva descentralizagao e democratizagio do acesso aos bens e servicos
culturais. A ret6rica a favor da cultura, por outro lado, nao produziu um marco regulatério
capaz de garantir a vitalidade das dindmicas econdmicas dos bens e servicos culturais. Se,
nas tltimas décadas, j4 se reconhece a estabilidade de principios e diretrizes para uma polt-
tica econémica de Estado, que vem atravessando governos, o mesmo ainda nao ocorreu no
Ambito de uma politica cultural.
No dominio académico, o fenémeno também se repete. Enquanto conhecimento siste-
29
matizado, 0 estudo das politicas culturais foi historicamente relegado a um lugar periférico nas
Ciencias Sociais. Mesmo os estudos culturais realizados pela Antropologia foram considerados
‘menores face & Sociologia, a0 Direito e a Economia, ciéncias mais preocupadas com a criagao
de grandes categorias universais, e menos com os comportamentos andmicos, as minorias e a
diversidade cultural planetaria. O resultado disso € que os estudos antropol6gicos foram utili
zados de forma insatisfat6ria pelas organizagdes publicas nacionais e internacionais, ou pelas
agencias de fomento, e 0 resultado € a auséncia de indicadores mais amplos nas pesquisas de
campo que, por sua vez, prejudicam a qualidade da produgdo de dados.
No dominio cultural € artistico, a compreensao acerca dos significados das politicas
ptblicas para a cultura também é incipiente, em fungao, de um lado, da vulnerabilidade do
campo cultural, de outro, das relagdes de dependéncia dos seus Protagonistas com o Estado
€, ainda, da informalidade e consequente invisibilidade da economia da cultura no Pais. A
heranca patrimonialista do Estado brasileiro pode nos ajudar a compreender a existéncia de
“zonas cinzas” entre os governos e a sociedade, que provocaram historicamente, no caso
das politicas culturais, ou um confronto aberto de posigdes radicalmente antagénicas, ou
‘uma certa tendéncia a se privilegiar um grande nimero de pequenas agdes personalistas €
sazonais, em detrimento da formulagao de politicas de Estado. O resultado dessa relacio se
traduz, na visio de Sérgio Miceli (1984, p.9), pela atuacao clientelista e assistencialista das
agéncias de fomento cultural:
(J clientelista, de um lado, por se limitar a atender, de maneira geralmente passiva, as
demandas da clientela prépria da drea artistica em geral; assistencialista, de outro, por
tratar a cultura como agao filantropica, como lenitivo ou mera tentativa de neutralizagao
das nossas mazelas e desigualdades sociais.
Por tiltimo, na agenda de desenvolvimento nacional, a cultura foi concebida, em largos
Periodos da historia brasileira, ora enquanto ideologia, capaz de contribuir para consolidar re-
gimes politicos, ora enquanto aparato de conhecimentos eruditos, destinado as elites artisticas
€ académicas. Desse modo, subestimaram-se os aspectos sociais e econdmicos produzidos
Pelo fenémeno cultural, seja enquanto reforgo a cidadania, como resgate da dignidade huma-
na; seja enquanto propulsor do novo trabalho, como instrumento privilegiado de geracio e
distribuigdo de riqueza. Todas essas questées fundamentariam 0 meu discurso de posse, em
janeiro de 2003.
30
O INICIO.
(IN)DEFINICOES, RECEIOS
E EXPECTATIVAS
Podemos dizer que a democracia propicia, pelo modo
mesmo do seu enraizamento, uma cultura da cidadania & medida
(que so é possivel a sua realizagdo através do cultivo dos cidadaos
Se pudéssemos pensar uma cidadania cultural, terfamos a ceneza
de que ela s6 seria possivel por meio de uma cultura da cidadania.
Marilena Chaui
‘Ainda hoje eu me lembro da sensagio de desconforto que tive quando, em
dezembro de 2002, fui convidada para ser Secretaria de Cultura do Ceara. Naquele
momento, minha tinica certeza era a de saber que nao tinha o perfil adequado para o
exercicio do cargo! Nao se tratava de temer os desafios ou 0 cotidiano de um gestor,
pois
Servico Social de Aprendizagem Comercial -
naquele momento, além da minha atividade académica, eu dirigia, no Ceara, 0
SENAC. Minha inseguranca era, sobretudo,
fruto do meu desconhecimento da gestao cultural e, por conseguinte, dos meus receios
aquele cargo.
sobre a (in)adaptabilidade das minhas habilidades profissionai
Com os meus alunos do Mestrado em Administracio da Universidade Estadual do
Ceara, eu sempre discuti os
ignificados da cultura nas organizagdes. No entanto, até en-
to, nao havia refletido sobre a cultura organizacional das organizacoes culturais. Minha
{inica aproximacao com a gestio cultural havia se dado anos antes, quando coordenei
na Universidade uma primeira especializagdo nessa rea. A experiéncia foi muito interes-
sante, mas me fez perceber 0 quanto a gestio cultural carecia de autonomia, enquanto
rea de conhecimento, assim como de sistematizagdes mais qualificadas da sua prixis.
Recordo até hoje da excitagao que sentia (paradoxalmente associada a um grande
mal estar!) e da solidariedade dos amigos. Alguém naqueles dias me fez um comentario
31
lapidar, que nunca esqueci: “Mas vocé fez graduagao em Direito e em Miisica! Agora é 0
momento de reunir essas formagées...” Nao deixei de rir ao pensar nessa “sintese” quase
Perfeita, se eu propria nao tivesse me sentido, ao longo da minha vida, ora uma musicista
pela metade, ora uma advogada que se furtou ao desafio de se tornar uma operadora do
Direito! Mas 0 desafio estava posto e era impossivel recuar.
Minha primeira preocupacao foi a de conhecer a historia da Secretaria de Cultura e
esse resgate tive grandes surpresas, No ano de 1966, em plena ditadura militar, Virgilio
Tavora, entao governador do Cear4 e coronel do Exército, decidiu desmembrar a drea
da cultura da Secretaria da Educagao, dando-lhe autonomia ¢ institucionalidade proprias,
criando a primeira Secretaria de Cultura do Brasil! A visio estratégica de Virgilio Tavora
acolheria, precocemente, na paisagem politico-institucional brasileira, a demanda feita
vinte anos antes, em 1946, pelo historiador Raimundo Girdo, no I Congresso Cearense
de Escritores:
Vibracao dos bomens de pensamento, todos querendo fazer, inércia do governo, nada
querendo fazer. Mas a inércia 6 muita vez energia em potencial transformdvel em mo-
vimento. E podemos fazer 0 governo mover-se. Diremos em termos mais claros: as ati-
vidades culturais do Ceara gritam por uma sistematizacao, um carreamento ldgico. A
dispersiio bd de ser metodizacéi |...] O Estado bem poderia, e estamos certos que poderd,
criar |...] uma Secretaria de Cultura, que compreendesse, num conjunto tinico, a Biblio-
teca, 0 arquivo Piiblico, o Museu Hist6rico, o Servico da Cultura, Divulgacao e Diversées
Populares, o Teatro ea Imprensa Oficial, todos devidamente entrosados numa estrutura
bem pensada e melhor realizadal...] Proponbo entao que o Congresso, pelo modo que
Julgar mais acertado, sugira ao Governo Estaduall...] a criagdo de uma Secretaria da
Cultura...que recomende a cada congressista, trabalbar como puder pela efetivagéo da
ideia, individualmente ou nas associagdes de que fizer parte...tudo com o objetivo de
Sazé-la vitoriosa, quando reunida a Assembléia Constituinte do Estado, na futura Cons-
tituigdo Estadual. (DOS SANTOS; GUEDES, 2006b, p.15).
No mesmo discurso, Girao evocava a exclusio dos cearenses no acesso aos bens
€ servicos culturais. Dizia ele: “(...] E a verdade € que nao possuimos bibliotecas, senio
as particulares, nao possuimos arquivos, sendo os particulares, no possuimos museus e
colecdes, sendo os particulares.” (DOS SANTOS; GUEDES, 2006b, p.15).
32
Denunciava, por ultimo, o descompasso entre a forca criativa da populacdo e a
omissao do Estado no desenvolvimento dessa criatividade:
A vitalidade intelectual do cearense nao & mais objeto de diivida. Viceja e floresce
abundantemente a drvore da inteligéncia nesta [...] Terra de Alencar. Frutos se es-
banjam, nascidos dessa forca criadora, porém, murcham nos galbos, a falta de quem
os cola, (DOS SANTOS; GUEDES, 2006b, p.14)
Assumi a gestao da Secretaria da Cultura 36 anos depois de Raimundo Girao, ciente
de que grande parte das demandas por ele formuladas ainda se mantinha atual e, em
muitos aspectos, as desigualdades s6 haviam se tornado mais visiveis, revelando o fracas-
so das ideologias que legitimaram os discursos e as priticas do Estado Liberal.
Lembro, também, das primeiras adverténcias que ouvi sobre as relagdes proble-
maticas entre a pasta estadual da cultura e o campo cultural. E observei como, dife-
rentemente das outras pastas, as gestdes na drea da Cultura carregavam o nome dos
secretarios, de uma forma excessivamente personalista! Embora dotadas de recursos
humanos e financeiros escassos, as secretarias de cultura foram historicamente disputa-
das por intelectuais e/ou profissionais das industrias culturais. Se, em alguns casos, seus
protagonistas simbolizaram a imagem inovadora de alguns governos, em outros, nao
passaram de “vitrines” para o embate irracional de egos. Enfim, nas pastas da cultura,
© personalismo da gestao ptiblica encontrou historicamente guarida, ou seja, menos do
que o reconhecimento pela competéncia ou pelo legado, em muitos casos so as idios-
sincrasias das liderancas que acabam sobrevivendo aos mandatos!
Por outro lado, como a maioria dos profissionais da Administragio sempre esteve
distante do campo das artes e da cultura, assim como grande parte dos artistas, intelec-
tuais e profissionais da cultura também desconhece o mundo da gestio, os gestores cul-
turais, ora carecem de capacidade de formulagao no campo da cultura, ora de expertise
na gestao. Ao mesmo tempo, como as pastas de cultura nunca foram reconhecidas como
organizagdes estratégicas para o desenvolvimento do Pais, o nivel de cobranca dos go-
vernos e da opiniao publica sobre os gestores culturais é menor do que sobre os gestores
das pastas consideradas “estratégicas”.
Ora, um gestor cultural nao nasce gestor, diferentemente dos talentos inatos, ge-
ralmente identificados com o artista. Por isso, ele deve se preparar para essa fungao. No
33
Brasil, comumente, produtores culturais s40 chamados de gestores culturais. Albino Ru-
bim (apud CUNHA, 2007, p.18) se refere a essa confusio entre gestio e producao cultural:
L..] é possivel refletir sobre a tendencial predomindncia do uso no pais do termo
produtor cultural, em relagao @ nogao de gestao cultural. Nao tenho dtivida de que
esse pequeno sintoma é expressivo para compreender e apreender algumas singulari-
dades da organizagao da cultura no Brasil. O termo gestdo cultural predomina em
intimeros paises, inclusive nos vizinbos ibero-americanos. Por que entéo, a nogdo de
produgdo cultural é mais usual entre nés? |...) Apesar de ser possivel falar em politicas
culturais no Brasil, desde os anos 30, com base nos experimentos de Mario de Andra-
de e Gustavo Capanema, nao se pode afirmar o desenvolvimento de uma tradigao de
atengdo e mesmo de formacao na area da gestao cultural. Esse descuido das politicas
culturais inibiu a valorizagdo da gestdo, seu reconbecimento e a consequente circu-
lagao entre nos da nocdo de gestéo cultural.
Vejamos, entdo, os tracos distintivos entre gestores e produtores culturais. Se a
produgao esta historicamente vinculada, no Brasil, ao “fazer cultural”, é da esséncia da
gestio cultural publica a capacidade de liderar processos de formulagao, implementagao
e avaliagdo de politicas piblicas. Nesse sentido, a formacao e o cotidiano do gestor se
relacionam intrinsecamente com o papel do Estado na produgao de significados e de
marcos regulatérios para a cultura.
Quando fui convidada para ser Secretaria, ainda nao suspeitava que importantes
elementos da formacao de gestor s6 se apresentariam para mim, durante a gestdo, isto
é, embora dominando contetidos, conceitos e técnicas a priori, um gestor s6 se torna
efetivamente um gestor, quando acumula uma prxis, que nao se adquire somente no
trato cotidiano da burocracia dos gabinetes, mas que se da, sobretudo, no territério, com
a populacdo, onde e para quem as politicas devem impactar. Por isso, no meu discurso
de posse, nao suspeitava nem de longe o que viveria na gestio da Secretaria. Relendo-o
hoje, vejo nas minhas reflexdes muito mais a professora do que a gestora!
No Plano Estadual da Cultura, que foi publicado no dia 19 de setembro de
2003, aniversdrio da escritora cearense Rachel de Queiréz, reproduzi meu discurso
de posse. Na primeira parte, procurei refletir sobre a necessidade de se ampliar os
significados da cultura para além das “belas-artes” (SECULT/CE, 2003a, p.6):
34
Alé as tiltimas décadas do século XX, as questées relativas @ cultura apareceram como
algo de menor importéncia, relegadas a um lugar superestrutural de complementarida-
de a outras dimensoes bumanas. E 0 que ainda hoje se observa, quando, em pleno século
XI, politicas ptiblicas e administragdo de orgamentos consideram os investimentos na
cultura absolutamente secunddrios e de pouco retorno social ou econ6mico. Para esta
concepeao, a cultura ainda se restringe as ‘belas artes’ ou as ‘artes eruditas’, retirando-se
dela a sua dimensao eminentemente simbélica, ou seja, a de uma rede de relacées criati-
vas entre os sujeitos eo mundo. Além de um processo de criacdo de signos, a cultura tam-
bém é um produto concretizado a partir de suportes materiais. Ao mesmo tempo processo
e produto, algo tangivel e intangivel, a cultura ndo significa mero mosaico, repertério
ou inventdrio, mas exprime o enredamento do homem em teias simbélicas, em crengas
comuns, em valores compartilbados, em éticas compactuadas.
Sobre as relagdes da cultura com os processos de globalizacao, chamei atencao
para © pensamento de Nestor Garcia Canclini (SECULT, 2003a, p.6):
Impossivel deixar de refletir sobre as imbricacées da globalizagao com a cultura. Nes-
tor Garcia Canclini (2001, p. 11) define a globalizagao “como um proceso evolutivo
de estratégias globais agenciando mdquinas estratificantes que reordenam diferen-
gas com relacao as desigualdades observadas em diferentes regides e em diferentes
mercados. |...] A globalizagéo ndo deve ser considerada como um fendmeno que
atinge a todos da mesma forma. Precisamos estar permanentemente perguntando:
quem se globalizou, quem esta se globalizando e de que forma? A globalizagéo, de-
pendendo do lugar, move-se em vdrias diregées, consolida-se de muitas formas, seg-
menta-se em miiltiplas modalidades e é, basicamente, estruturalmente iniqua. Assim
pode-se dizer que para diferentes mundos, diferentes globalizagées.
Observei, ainda, as relacdes assimétricas dos bens culturais com o mercado, tra-
zendo as minhas primeiras preocupagdes relativas ao financiamento da cultura (SECULT/
CE, 2003a, p.
Neste sentido, todo processo de articulagéo de uma manifestagao cultural local/na-
cional com um mercado mais abrangente implica que seja consumida de forma
35
consistente no local, antes de ser promovida a evento mais amplo, tendo amparo
institucional por parte de 6rgdos governamentais de fomento e patrocinios do setor
privado. Vale ainda discutir as formas de financiamento destas manifestagdes e de
que modo os eventuais patrocinios de grandes empresas transnacionais influencia-
riam em suas formas e contetidos, ameacando destitui-las de sua vitalidade original.
Procurei destacar as tarefas e os processos vividos pela produgio cultural no Pais:
(SECULT/CE, 2003a, p.7):
Constituem as etapas de produgdo cultural a criagdo, interpretagdo ou execu¢ao,
produgdo, distribuicao, consumo e registro. Sejam produzidos artesanalmente (com
reproducdo em grande escala ou ndo), sejam produzidos industrialmente, os produ-
tos culturais sdo fruto de um savoir-faire, de uma tecnologia (na acepgéo grega da
techné). Perifericamente ao circulo central onde se encontram os artistas/criadores
(de quem se exige o talento), constroem-se circulos secunddrios onde estao os técnicos
(de quem ndo se exige talento, mas qualificacdo profissional), seguidos de um tercei-
ro onde se insere a mao de obra menos qualificada, mas fundamental para o sucesso
do complexo produtivo. Um produto cultural, da extragao de sua matéria-prima ao
produto final, passa necessariamente por etapas que envolvem relaces econ6micas,
industriais e tecnolégicas. O encadeamento das diversas produgées culturais deter-
mina efeitos multiplicadores nas cadeias culturais. A obra que é apresentada num
espetdculo teatral, cujo roteiro sera adaptado para o cinema, cuja publicagdo apare-
cera em forma de livro, 6 0 exemplo da conexdo necessdria de uma cadeia cultural.
Os efeitos externos positivos desta cadeia podem ser observados quando empresas sao
beneficiadas em suas atividades sem que tenbam pago em troca desses beneficios.
Exemplo disto sao as empresas turisticas que colhem beneficios dos efeitos externos
da produgdo cultural.
E ressaltando as caracteristicas do produto cultural, aprofundei os significados € os
desafios da gestdo cultural (SECULT/CE, 2003a, p. 8 - 9):
E necessario trabalbar a cultura de forma estratégica, levando-se em conta os com-
ponentes econ6micos, sociais, politicos, tecnoldgicos e juridicos que com ela se re-
36
lacionam. Estes aspectos ndo podem ser subestimados, devendo, pelo contrario, ser
tratados a partir de agdes capazes de antecipar cendrios e suas respectivas reper-
cuss0es para a definigdo de politicas culturais. Por outro lado, as organizacées que
produzem bens e servigos culturais possuem especificidades que merecem ser su-
blinbadas; 0 primado da oferta sobre a procura (nesse dominio a oferta cria sua
demanda); a fragmentacao da oferta (cada produto oferecido é tinico e, embora se
controle o processo produtivo, ndo se pode garantir o sucesso do produto); o efeito
assinatura (a marca do autor ou do intérprete concedendo glamour ao produto).
Estas peculiaridades nos conduzem & seguinte afirmativa: é 0 projet artistico ou
cultural que devem embasar a reflexto estratégica das organizagoes culturais e nao
vice-versa. Por isso, é necessdrio inverter a ldgica da gestao estratégica tradicional,
ou seja, aquela fundamentada na investigagao das necessidades do mercado e nas
competéncias da organizagao para enfrentar com sucesso este mercado. Mesmo no
dominio do mercado cultural, trata-se de organizar a acao estratégica a partir da
logica da oferta e ndo necessariamente da demanda. Por isso, seja no espaco piiblico
ou no privado, o gestor cultural é, antes de tudo, alguém que se comporta de modo
mais voluntarioso do que reativo diante do seu macroambiente, porquanto o seu
produto e os objetivos de sua organizagdo transcendem a mera atividade econ6mica
que Ibe serve de suporte. Como vemos, o grande desafio das politicas culturais é 0 de
estimular as diversas fases da criagdo e da difusao cultural, garantindo condigées
Satisfat6rias para o desenvolvimento das relagdes entre criagdo, difusdo, consumo e
Sruigdo dos bens e servigos culturais.
‘Mas nao poderia deixar de enfatizar os impactos da internacionalizacao da cultura
sobre a produgao cultural (SECULT/CE, 2003a, p.7):
Tais cadeias enfrentam o desafio da internacionalizacdo cultural em face das se-
Suintes dimensées: 0 comércio internacional de bens simbélicos, a produgao cultural
determinada pelos mercados internacionais ou regionais e nao por mercados nacio-
nais ou locais, a divisdo internacional do trabalho cultural, as produgées culturais
conjuntas e a intervengdo direta de produtores culturais estrangeiros na criagao
de produtos ‘globalizados’. As relagdes internacionais do comércio de bens e servi-
¢0s culturais sao objeto, como os demais bens e servigos, de uma grande assimetria.
37
Paises detentores de uma estrutura tecnolgica capaz de fazer circular e de processar
informagées passaram a abastecer 0 mundo, enquanto os demais paises tornaram-se
meros fornecedores de dados brutos, sendo condenados a consumir passivamente as
informagées processadas. A produgdo cultural é caracterizada, portanto, por forte
concentragdo de recursos, observando-se hoje a existéncia de conglomerados cultu-
rais mais poderosos do que determinados paises. Esta caracteristica da produgdo cul-
tural exerce forte impacto sobre as identidades dos paises receptores e suas diversas
identificagées locais. Por outro lado, a existéncia de bens culturais nao exportaveis
revela a fratura do processo de globalizacao e a necessidade de politicas préprias
para preservar espacos, permitir a experimentacao, garantir as manifestagées locais
sua criagdo legitima e insubmissa a concessées.
E de destacar o papel estratégico das politicas ptblicas e da gestdo cultural, em um
mundo marcado pela hegemonia das indistrias culturais (SECULT/CE, 2003a, p. 7 - 8):
De qualquer modo, espera-se de produtores e gestores culturais a capacidade de equi-
librar as diversas légicas que compéem um empreendimento deste setor. A légica do
‘amor @ arte’ (a cultura como um fim em si mesmo), devem associar-se a logica da
rentabilidade (a cultura como um negécio) e a légica da sobrevivéncia (a cultura
como meio de vida) sem que se subestime a ldgica ideoldgica (a cultura como instru-
mento difusor de ideias e valores).Todas estas questoes levam a refletir sobre os papéis
do Estado em face da cultura, ou seja, sobre as politicas e agdes do governo relativas
ao apoio e & difusdo da cultura.
Por tltimo, defini as diretrizes que norteariam a minha gestéo, assumindo naquele
momento um compromisso piblico com os cearenses, € nao somente com o campo cul-
tural (SECULT/CE, 2003a, p. 9 - 10):
38
Por isso, quero assumir, no dia da minha posse, 0 compromisso dessa aproximagdo
entre Estado e Sociedade, definindo aqui as seguintes premissas que nortearao a mi-
nba gestao:
A cultura deve ser planejada e gerida estrategicamente
Pelo fato de que somente nas tiltimas décadas se percebeu o potencial econdmico e
social dos produtos e servicos culturais, constata-se ainda um despreparo das organi-
zacées de natureza cultural para o enfrentamento dos desafios desse novo mercado.
Deste modo, torna-se necessdrio desenvolver a competéncia gerencial nas organiza-
ges culturais, de sorte a tornd-las mais competitivas. Trata-se, por conseguinte, de
apreender e utilizar corretamente os instrumentos de gestdo (planejamento, marke-
ting, gestéo de pessoas, legislagao etc), a partir da compreensdo de suas especificida-
des no dominio da cultura, para a realizagdo dos seus objetivos precipuos.
A cultura deve promover a autoestima e a diversidade de expressao entre comu-
nidades e povos
O processo de globalizagao evidencia as contradigées dos paises e aprofunda ainda
mais seus contrastes sociais. A globalizagdo acentua as desigualdades entre nagdes e,
no interior delas, entre suas regides (no Brasil, por exemplo, entre as regiées nordeste
e sudeste), estimulando e desafiando nosso raciocinio para 0 equacionamento novo
de problemas antigos, como a miséria, a fome e a violéncia. Os paises e blocos econé-
micos que forem capazes de integrar e tirar proveito de sua diversidade cultural, que
conseguirem conceber e implementar politicas, assegurando a inclusdo de grupos
historicamente excluidos, que apostarem no capital humano, trabalhando a amplia-
$0 dos significados da cidadania e da autoestima, sero certamente aqueles com
maiores chances de reverter as repercussées negativas dos processos de globalizagdo.
A cultura deve ser um instrumento de empregabilidade e de redistribuigao de
renda
Se nés, brasileiros, nao revertermos o quadro educacional em que nos encontramos,
continuaremos sendo uma méo de obra desqualificada e incapaz de assumir as
atribui¢ées profissionais demandadas por um mercado cada vez mais competitivo.
Por outro lado, a falta de capacitagao esvazia a possibilidade de expansao do mer-
cado interno, mercado este necessdrio 4 manutencao de vinculos satisfat6rios com a
comunidade internacional de modo geral, sejam eles de ordem econ6mica, cultural
ou comercial, comprometendo nossa propria existéncia como povo ou nacdo. Além
da responsabilidade de contribuir para formar e educar a comunidade na qual esta
inserida, o Estado deve fomentar a capacitacdo de profissionais para os arranjos
produtivos das artes e da cultura.
A cultura deve ser um instrumento privilegiado de incluso social e de consolida-
a0 da cldadania
39
A.cultura torna-se um espago para disputa, quando ela se transforma em um instru-
mento de poder e de controle, porque define quem deve estar incluido ou nao, servin-
do de pretexto para se estabelecer quem deve aceder a determinados recursos, quem
deve ser reconhecido como grupo social e, portanto, legitimado socialmente. Por isso, €
dever do Estado promover a ‘cidadania cultural’, que se refere justamente & garantia
de acesso aos bens e servicos da cultura. Neste sentido, existe uma logica da exclusao
constituida pelo reconhecimento e aceitagdo da identidade excluida. Esta logica ba-
seia-se na diferenga e estabelece pardmetros, tanto em relacdo a sociedade dominan-
te, quanto aos marginalizados que, enquanto resistentes a esse dominio, acabam por
consolidé-lo. A sociedade dominante e os excluidos ou subordinados operam no mes-
mo campo de forcas e o que se entende por cultura de ‘uns’ e de ‘outros’ emerge dai.
Definidas essa diretrizes do novo governo, dediquei minhas ultimas consideragdes
a0 papel estratégico das politicas ptiblicas de cultura no process de consolidagio da
cidadania dos cearenses (SECULT/CE, 2003a, p.10):
Uma politica cultural voltada exclusivamente para a rentabilidade econémica em
curto prazo, sem preocupagées com a cidadania, pode ter um efeito irremediavel-
mente desagregador, pois, enquanto uma cultura planetaria se anuncia ese insinua
por todos os recantos da terra, surge também um sem-niimero de culturas locais ret-
vindicando diferencas e reconhecimentos especificos de suas respectivas identidades.
A relacao dindmica entre ambas exige uma reflexdo permanentemente renovada,
sobretudo quando nos referimos a realidades culturais que podem se tornar valores
culturais globalizados. A cidadania cultural tem fundamentalmente duas vocagées:
afirmar os direitos e deveres dos individuos em face da sua cultura e das demais cul-
turas; determinar os direitos e deveres de uma comunidade cultural frente a outra
comunidade. Uma politica cultural deve fomentar a livre expressdo de comunidades
ou de individuos, garantindo-lbes meios para estabelecerem objetivos, elegerem va-
lores, definirem prioridades, controlarem, enfim, os recursos que Ibe sao disponiveis
para alcangar seus objetivos a partir de suas crencas e valores. Os desafios aqui
elencados estado absolutamente imbricados aos direitos de cidadania. A construgao
de caminhos para a realizacdo da inclusdo social através da consolidagéo de uma
‘cidadania cultural’ constituird o diferencial da politica cultural desse Governo.
O Seminario Cultura XXI, uma primeira “Conferéncia de Cultura” no Ceara e
© encontro com 0 Ministro Gilberto Gil
Assumiamos, em janeiro de 2003, o desafio de ampliar os significados da cultura, a
partir da formulacao, implementagao e avaliacdo de politicas ptiblicas. Nesse momento,
eu prépria nao sabia de que forma o Ministério da Cultura iria conduzir sua gestio, mas,
em breve, o Ceard testemunharia os compromissos assumidos pelo Governo Lula para a
cultura. Considerei, logo nos primeiros dias, que necessitavamos ritualizar nossa chegada
com um grande encontro de natureza politica, capaz de inaugurar os caminhos que trilha-
tiamos nos anos seguintes. E, para isso, decidimos convidar 0 Ministro Gilberto Gil para
estar conosco, em mar¢o do mesmo ano, no primeiro Seminério Cultura XI.
O Semindrio Cultura XXI foi nosso primeiro evento a frente da SECULT. Eu mesma
nao avaliava a dimensao nacional que ele teria. Enviei convites aos secretarios de cultura
de todo o Pais, mas, nao imaginava que eles viriam! Muito menos imaginei que o pré-
prio Ministro da Cultura aceitaria 0 convite do governo do Ceard! Vale lembrar que éra-
mos um governo do Partido da Social Democracia — PSDB, de oposicao ao recém-eleito
governo do Partido dos Trabalhadores — PT. No entanto, as divergéncias partidérias
nunca tiveram qualquer interferéncia negativa naqueles cinco longos dias do Semindrio,
€ nem nos anos seguintes, na relacdo entre o Ceard e Brasilia.
O Centro Dragao do Mar de Arte e Cultura se tornou, durante o Seminario Cultura
XXI, palco privilegiado de intimeras manifestacdes, demandas e sugestées que cobravam
do Estado o seu papel estratégico na formulagao de politica publicas para a cultura.
Nao imaginavamos, porém, que aquele grande encontro, com a presenca de produtores,
pesquisadores, artistas, dirigentes municipais, politicos, secretdrios estaduais e nacionais
de cultura, inauguravamos a pritica da realizagao de “conferéncias de cultura” que mais
tarde aconteceriam, com uma metodologia muito semelhante a nossa, por todo o Pais!
O Seminério foi estruturado a partir de cinco grandes dimensées da cultura: Po-
liticas e Gestao Cultural, Patriménio Cultural, Economia da Cultura, Direitos Culturais e
Legislagdes de Fomento e, por tiltimo a Municipalizacao da Cultura. Cito, ainda, os de-
safios que foram priorizados no Seminario que, em seguida, norteariam o planejamento
estratégico da Secretaria (SECULT/CE, 2003a, p.19):
*Afirmar a cultura como fator de inclusdo social e de desenvolvimento local e regio-
nal, promovendo a cidadania cultural e a autoestima do cearense;
a
« Favorecer a transversalidade da cultura nas agées das secretarias do estado e mu-
nicipios, identificando, fomentando e integrando as vocagées culturais regionais;
* Promover o empreendedorismo cultural eo desenvolvimento econ6mico na drea da
cultura;
* Implantar gestao estratégica, aberta a parcerias e focada na qualidade de seus pro-
dutos e servigos.
Sabiamos que, para vencer esses desafios, nao poderiamos tratar a cultura, parti-
cularmente em um estado pobre e desigual como 0 Cear4, como um produto para “elei-
tos”, reduzindo-a as linguagens artisticas ou & produgao académica ou erudita. Sabiamos
também que, com os poucos recursos que possufamos, para sermos exitosos em nossa
gestdo, necessitarfamos desenvolver dentro do governo estratégias de transversalizacao
das politicas culturais nas demais pastas estaduais, assim como seria fundamental para 0
sucesso dos programas, a realizacao de parcerias publicas e privadas, fora dele.
Durante o Evento, era voz undnime a percepcao de que a Secretaria da Cultura
possuia uma presenca timida no Ceard, que suas agdes nao eram inclusivas nem descen-
tralizadas, que os programas por ela propostos eram sazonais e nao chegavam ao inte-
rior; que 0 Instituto de Pesquisa do Estado (IPECE) nao dispunha de indicadores capazes
de aferir os impactos das agdes da Secretaria nos municipios cearenses. As demandas
dos artistas, produtores, politicos, dirigentes municipais ¢ gestores culturais voltavam
obstinadamente sempre ao mesmo ponto: auséncia de uma politica piiblica de cultura
capaz de incluir os cearenses, permitindo-lhes acesso, mas, sobretudo, protagonismo!
Para tanto, parecia claro que a Secretaria deveria abdicar das suas formas tradicionais de
propor politicas de governo dirigidas unicamente a classe artistica, especialmente aquela
formadora de opiniao na capital, para avancar na formulacao de uma politica de Estado
voltada A populacio das diversas regides do Ceara.
O Encontro dedicou-se também a debater o papel da cultura na economia,
considerando-a uma estratégia de desenvolvimento local e regional. Reservou um dia
para as discussdes sobre o patriménio cultural material e imaterial, trazendo a entao
presidente do Instituto do Patriménio Hist6rico e Artistico Nacional - IPHAN, Maria
Eliza Costa, para abrir o debate. Lembro que as discussées sobre 0 financiamento a
cultura foram especialmente polémicas. Por isso, resolvemos criar, imediatamente,
um canal entre os artistas e produtores culturais e a Secretaria, para receber colabora-
a2
des € sugestdes, no sentido de aperfeigoar os instrumentos de financiamento estadu-
al da cultura: o Fundo Estadual de Cultura e a “Lei Jereissati” (lei estadual de incentivo
fiscal para o fomento de projetos culturais), legislac4o assim denominada, por ter sido
criada e aprovada em 1995, no governo Tasso Jereissati. Havia, em janeiro de 2003,
um volume imenso de projetos aprovados pelo Sistema Estadual de Cultura, mas nao
captados, junto a empresas, para a sua efetivacio. Esse fato sinalizava a “ponta do
iceberg”, relativa 4 auséncia de uma politica publica para o financiamento da cultura
e do papel crescente e insatisfatorio das leis de incentivo a cultura no Ceard e no Pais.
No entanto, a grande expectativa do Semindrio Cultura XXI era a de ouvir, no dia
dedicado as discussGes sobre a municipalizacao da cultura, o discurso do novo Ministro
Gilberto Gil. Naquela noite, de céu claro e estrelado, Fortaleza recebeu a primeira, das
muitas visitas do Ministro. Lembro da fala do Governador Lucio Alcantara, naquele mo-
mento: “Bem-vindo, Ministro! Aqui nés somos do partido das culturas!" Lembro, ainda,
do sorriso do Ministro diante daquelas palavras, assim como do vigor do seu discurso.
Fomos percebendo como sua proposta de politica ptiblica cultural era afinada com o que
desejavamos realizar no Ceara! A primeira grande semelhanga entre os nossos discursos
teferia-se ao compromisso do Estado com o resgate da dignidade dos brasileiros, a partir
de uma visao transversal das politicas culturais (LEITAO, 2006, p.15):
O objetivo maior do Governo Lula, nos termos mais amplos possiveis, 6 a recuperacao da
dignidade nacional brasileira — dignidades interna e externa, entrelacadas. E a cons-
trugdo de um novo Brasil, socialmente mais equilibrado, mais sauddvel, e capaz de se
afirmar como nagao soberana no cendrio internacional. Um projeto de futuro, portanto,
antevisao do Brasil realizando-se plenamente como nagdo: para nés— e para o mundo.
Inicialmente, contudo, a discussao desse projeto concentrou-se— como era natural— nos
campos da politica e da economia. Mas esse primeiro momento jé ficou para tras. Trata-
se, agora, de abrir o leque, de ampliar o raio das discussées e intervengées, de modo que
‘possamos entrelacar politica, economia, educagdo, cultura, etc. Pois, da perspectiva do
Ministério da Cultura, o desejo de construir um novo Brasil, de recuperar a dignidade
nacional brasileira, ter maior probabilidade de éxito se passar pelo mundo da cultura.
Outra importante afinidade referia-se 4 ampliagao dos significados de cultura, par-
tindo da sua dimensao simbélica (LEITAO, 2006, p.15 -16):
a3
Cultura ndo no sentido das concepedes académicas ou dos ritos de uma ‘classe artis-
tico-intelectual’. Mas em seu sentido pleno, antropol6gico. Vale dizer: cultura comoa
dimenséo simbélica da existéncia social brasileira. Como usina e conjunto de signos
de cada comunidade e de toda a na¢éo. Como eixo construtor de nossas identidades,
construgées continuadas que resultam dos encontros entre as miiltiplas representa-
Ges do sentir, do pensar e do fazer brasileiros e a diversidade cultural planetaria.
Como espago de realizagdo da cidadania e de superagdo da excluso social, seja pelo
reforco da autoestima e do sentimento de pertencimento, seja, também, por conta
das potencialidades inscritas no universo das manifestagées artistico-culturais com
suas miiltiplas possibilidades de inclusdo socioeconémica. Sim. Cultura, também,
como fator econémico, capaz de atrair divisas para o Pais _ e de, aqui dentro, gerar
emprego e renda.
Percebi, em sua fala, a mesma preocupacio relativa ao papel do Estado como lider
na formulagao e implementacao de politicas publicas culturais (LEITAO, 2006, p.16):
Assim compreendida, a cultura se impée, desde logo, no dmbito dos deveres estatais.
E um espaco onde o Estado deve intervir. Nao segundo a velba cartilba estatizante,
mas mais distante ainda do modelo neoliberal que faliu. Vemos 0 governo como um
estimulador da producdo cultural. Mas também, através do MinC, como um formu-
lador e executor de politicas ptiblicas e de projetos para a cultura. Ou seja: pensamos
0 MinC no contexto em que o Estado comega a retomar o seu lugar e o seu papel na
vida brasileira. Enfim, pensamos a politica cultural do governo Lula como parte do
projeto geral de construgao de uma nova begemonia em nosso Pais. Como parte do
projeto geral de construgdo de uma nacéo realmente democratica, plural e tolerante.
Como parte e esséncia da construgdo de um Brasil de todos.
Essa retomada dos deveres constitucionais do Estado constituiu a esséncia da fala
do Ministro. Havia em suas palavras a coragem de denunciar a omissao do poder ptiblico
no Ambito cultural, que se revelava no esvaziamento do Ministério (LEITAO, 2006, p.16):
O que vimos no Brasil, ao longo dos tiltimos anos, passou por muito longe disso. Dat
que trés questées-desafio se imponham, agora, ao Ministério da Cultura: a retomada
de seu papel constitucional de érgdo formulador e executor de uma politica cultural
para o Pais; a sua reforma administrativa e a correspondente capacitagdo institu-
cional, do ponto de vista técnico e organizacional para operar tal politica; e a ob-
tengao dos recursos financeiros indispensdveis a implementacao desta politica, seus
programas e seus projetos. Esses trés desafios resultam da heran¢a que recebemos.
Desde 0 governo Collor, o Ministério da Cultura definbou. Sua estrutura apeque-
nou-se. Perdeu capacidade politica, técnica e gerencial. Desmantelado, foi incapaz,
bor exemplo, de operar integralmente os instrumentos previstos no Programa Nacio-
nal de Apoio & Cultura, a conbecida Lei Rouanet. Mas 0 mais grave é que 0 Ministério
abandonou por completo aquela que deveria ser a sua fungdo maior. Em vez de ter
uma politica cultural para o Pais, simplesmente entregou essa tarefa ao mercado,
Gos departamentos de comunicagao e marketing das empresas, pela via dos incenti-
vos fiscais. E assim chegamos a uma situagdo absurda: a politica cultural passou a
ser pensada e executada nao pelo Ministério da Cultura, mas por comunicélogos e
marketeiros voltados para atender interesses particulares de suas empresas. Por esta
logica, a cultura e suas criagées sé adquiriam relevancia caso pudessem vir a refor-
gar a imagem corporativa das empresas.
Por outro lado, a dimensao econémica da cultura, que eu havia salientado em meu
discurso de posse, também foi alvo das suas reflexes (LEITAO, 2006, p.18):
Um bem simbélico é um produto cultural, politico e econémico— simultaneamente.
Como envolve custos de cria¢ao, planejamento e produgdo 6, obviamente, uma fonte
geradora de emprego e renda. Uma fonte de lucro para empresas e de captagao de
divisas para paises exportadores de bens e servigos culturais. Ou seja: além de dar
emprego em casa, a producao cultural pode trazer dinbeiro de fora. Hoje, 0 merca-
do internacional de bens e servigos culturais 6 extremamente dindmico, envoluendo
bilbées e bilbdes de délares. Nao é por acaso que os EUA pressionam fortemente os
demais paises para que abram os seus mercados, considerando os bens e servicos
culturais como mercadorias comum, da perspectiva do assim chamado ‘livre co-
mércio’. E que a Franga e outros paises reagem, argumentando que a cultura ndo é
uma mercadoria como as outras, merecendo tratamento diferenciado, com o Estado
tendo 0 direito de controlar o mercado cultural interno de seu pais e de proteger a sua
45
produgdo de bens e servicos simbélicos. Tenta- se, assim, evitar que a discussdo sobre
a matéria vd parar na Organizacao Mundial de Comércio. Tudo isso apenas mostra
a importancia do que hoje se chama ‘economia da cultura’, que, entrelagando-se a
‘economia do lazer’, é um dos setores mais dindmicos da economia mundial. O co-
mércio internacional de servicos move, anualmente, cerca de dois trilbdes de délares.
O Brasil é um pais exportador de bens e servigos culturais. Nossos filmes repontam no
exterior. Nossa musica popular tem hoje uma ja notdvel presenca no mundo. E nossas
telenovelas circulam planeta afora. Isto é importante ndo apenas para a captacdo de
algumas divisas, mas, sobretudo, para a nossa afirmagdo nacional no mundo. Mas
@ nossa participacao no comércio internacional de bens e servicos culturais ainda
6 muito timida. E precisa ser incrementada - a partir, é claro, ndo s6 da iniciativa
privada, mas, principalmente, de uma agdo estatal centralizada no MinC.
Tratava-se de um discurso que assumia o compromisso da gesto publica da cul-
tura como fundamento estratégico da construgao da cidadania dos brasileiros (LEITAO,
2006, p.16):
E desse quadro que emerge o triplice desafio anunciado acima. Desafio cujo pano
de fundo é a urgente necessidade da volta do Estado ao campo da cultura, expres-
sando-se através da centralidade insubstituivel do MinC, no papel estratégico de pro-
motor do desenvolvimento cultural da sociedade brasileira e criador de condigées
indispensdveis a construcdo da cidadania em nosso Pais,
que o combate a exclu-
sdo social passa necessariamente por uma agdo de inclusdo cultural, que garanta
a pluralidade de nossos fazeres, 0 acesso universal aos bens e servigos culturais ¢ a
criagdo e produgdo desses mesmos bens.
‘Segundo Marilena Chauf, para efetivarmos politicas publicas que consolidem a cida-
dania cultural, necessitamos ampliar e transformar a propria “cultura da cidadania” (2007).
© que me surpreendeu, naquela noite festiva, foi a extrema afinidade que 0 Ceara e Bra-
silia demonstravam ter a respeito dos signatérios da cidadania cultural, mas, sobretudo,
sobre a necessidade de transformarmos nossa cultura acerca da cidadania. Compreendi ali
que teriamos com 0 MinC uma grande cumplicidade!
A CONSTRUGAO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA
O Seminério Cultura XXI foi fundamental para o inicio da nossa gestio, no sentido
de nos fornecer os subsidios necessérios para o planejamento estratégico que nos levou
ao Plano Estadual da Cultura - 2003 a 2006.
Um plano é um mapa, um roteiro, um indicador de caminhos. Produzir um plano
significa, em um primeiro momento, tomar uma decisio, assumir uma vontade politica
de mudar, de transformar. Para tanto, € necessirio reflexao, capacidade analitica para a
tomada decis6es, definicao de responsabilidades, de compromissos, além da construgao
de instrumentos para implantar e monitorar programas e Projetos, enfim, da produgdo
de indicadores que permitam a avaliagdo ¢ o realinhamento de condutas. Enfim, nao ha
gestao estratégica sem planejamento.
Planejar nao corresponde a uma aco isolada. E um processo continuo que deve
ser assumido no cotidiano das organizagdes. E se no queremos ser “devorados” pelas
atividades do dia a dia, precisamos tomar consciéncia da importancia de se planejar.
Como se deu esse processo na Secretaria da Cultura do Ceara? Como iniciamos o
planejamento? Como nos preparamos? Quem deve estar envolvido nesse processo? Qual
a metodologia utilizada para a realizagao do planejamento? Vamos por partes.
Missao
Conforme foi dito anteriormente, o Semindrio Cultura XXI foi nosso ponto de par-
tida, o grande forum norteador das diretrizes do nosso Plano. Todavia, para construi-lo,
precisavamos ter clara a Missdo da Secretaria Estadual da Cultura. Esta Missio deveria
refletir 0 seu propésito junto a sociedade, de modo alinhado ao Plano de Governo (- 2003-
2006) Cearé Cidadania: crescimento com inclusdo social, que envolvia todas as pastas
do governo estadual.
Quando se inicia um novo ciclo de gestio, € importante criar vinculos e compro-
missos entre os membros da equipe. E nada melhor do que compartilhar ideias e valores
para a definicdo da esséncia de uma gestio, especialmente, da sua Missao. A definicio
da Missao aconteceu a partir de um debate coletivo desenvolvido pela equipe dos pro-
fissionais da SECULT. Esse compartilhamento foi fundamental, pois gerou compromisso
de todos envolvidos na gestio com a execugio do Plano.
No caso da Secretaria da Cultura, constituida por uma pequena equipe de servi-
47
dores piblicos concursados e de alguns cargos comissionados, esse compartilhamento
foi essencial, simbolizando 0 compromisso da equipe com a Missao da Secretaria, e a
coesio do “time” de gestores que ali se formava. Desta forma, chegou-se 4 seguinte
Missao da Secretaria da Cultura do Ceara em 2003: Promover a cultura como principio
fundamental de valorizagio do homem, propondo e desenvolvendo politicas para a inclu-
sao social através da cidadania cultural.
Esta Missio foi sintetizada como subtitulo do Plano Estadual da Cultura: Valo-
rizando a diversidade e promovendo a cidadania cultural, dando concretude a uma
politica publica que assumia, de antemo, seu compromisso de nao formular politicas
unicamente para os artistas, produtores culturais ou demais profissionais da cultura, mas,
sobretudo, para os cearenses, Com essa Missio, a Secretaria teria um novo fundamento
que legitimaria seus programas, criando, assim, outras perspectivas e possibilidades para
a cultura no desenvolvimento sustentavel do Ceara.
# importante destacar que, em um processo de planejamento, além da equipe,
podem e devem ser convidados interlocutores, parceiros ¢ atores do campo de atuacao
da organizacao (os stakebolders' da organizacao) que venham a contribuir e enriquecer
© referido processo. Foi o que fizemos.
Vis&o de Futuro
Depois de definida a Missio, era preciso ter clara a Visio de Futuro da Secretaria. A
Visdo corresponde, em um Planejamento, a construgao de um horizonte para a organiza-
40, ou seja, a definigao de onde a organizagao deseja chegar ao médio € longo prazos,
de modo coerente com a Missao definida. A Visio de Futuro € a grande norteadora das
acées que serao desenvolvidas no Plano.
Em fungao do mandato de quatro anos do Governo, optou-se por se construir
uma Visdo de Futuro que correspondesse a esse periodo (SECULT/CE, 2003a, p-19):
A Secretaria da Cultura, ao final de quatro anos, espera ter se consolidado como Secreta-
ria estratégica para o desenvolvimento do Ceard e dos cearenses,a partir do fomento &
diversidade cultural regional, reconhecida pela transversalidade de suas agdes em todos
os eixos € Secretarias do Governo, assim como por suas agdes de inclusao social ¢ de
construgao da cidadania a partir da cultura,
7D Os stakebolders correspondem aos diversos piiblicas com os quais uma organizagao se relaciona tais como o piiblico-al-
vo, os fornecedores, os parceiros, entre outros.
48
Apesar de todo o trabalho de planejamento da Secretaria ter sido construido para
reforcar a transversalidade da cultura no desenvolvimento sustentavel do Ceard, sabia-
mos que essa transversalidade seria dificil de ser alcangada. Percebemos, a0 longo da
fossa gest4o, como as pastas governamentais ainda esto longe de permitir a concer-
lacdo e a integracao entre seus programas e acées! Ainda hoje este continua sendo um
grande desafio para os governos. Acreditamos que a transversalidade da cultura s6 se
efetivard a partir de uma nova cultura da gestio e, sobretudo, de uma reforma do Estado,
que o Brasil precisa levar a cabo.
Anilises situacionais
Com a Missdo € a Viséo de Futuro definidas, partimos para 0 passo seguinte: o
da analise dos aspectos internos, relacionados as capacidades de atuacio da Secretaria,
€ externos, referentes ao ambiente no qual a Secretaria estava inserida. Um bom pla-
nejamento exige a compreensao clara acerca da realidade na qual se vai atuar. E para
conhecer essa realidade, é necessdrio identificar tanto os pontos fortes e fracos (anlise
interna) da organizagio, quanto as oportunidades e ameagas (anilise externa) que o
ambiente oferece.
Essas informagées foram identificadas e analisadas coletivamente pela equipe par-
ticipante do planejamento estratégico, para que os objetivos da Secretaria fossem traca-
dos em seguida, respeitados sua capacidade de atuacdo em um cendrio mais consen-
‘neo com a realidade. No QUADRO 1, podemos observar, com maiores detalhes, que
elementos foram investigados nesse processo de andlise.
Como obter todas estas informagdes coletadas e organizadas para a andlise e dis-
cussao da equipe? No caso das capacidades e recursos internos da organizacao, os dados
foram processados a partir das opiniées dos diversos membros da equipe, com relagio
as suas respectivas dreas, complementadas por registros financeiros e patrimoniais da
Secretaria; no caso dos aspectos externos, a consulta foi feita junto aos especialistas de
diversas areas, através da realizacdo de pesquisas para o levantamento de informagoes,
além, € claro, da discussio com os quadros da SECULT. Como jé foi dito, 0 Seminario
Cultura XXI ampliou e consolidou esse levantamento, tornando-se o primeiro espaco de
debate e ouvidoria dos desafios e das demandas do campo cultural, ou seja, do ambiente
externo a Secretaria.
49
You might also like
- Cunha - Projetos CulturaisDocument13 pagesCunha - Projetos CulturaisRafaela Goncalves100% (1)
- Olivieri 2010 Producao Cultural BrasilDocument188 pagesOlivieri 2010 Producao Cultural BrasilRafaela GoncalvesNo ratings yet
- PPTs - Capítulo 2Document38 pagesPPTs - Capítulo 2Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Guia de Leitura Simplificada - Programa Funarte Retomada 2023Document24 pagesGuia de Leitura Simplificada - Programa Funarte Retomada 2023Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Capítulo 23 - Gestão em Longo Prazo de Uma Organização de Marketing HolísticoDocument29 pagesCapítulo 23 - Gestão em Longo Prazo de Uma Organização de Marketing HolísticoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 3 Aula 01 02 2022Document18 pages3 Aula 01 02 2022Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Planejamento Tatico Operacional-2Document22 pagesPlanejamento Tatico Operacional-2Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- CArtilha Canvas DetalhadaDocument25 pagesCArtilha Canvas DetalhadaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Roda Interativa Pace Saúde MentalDocument6 pagesRoda Interativa Pace Saúde MentalRafaela GoncalvesNo ratings yet
- UntitledDocument266 pagesUntitledRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Aula - Trabalho de Campo T.8316Document17 pagesAula - Trabalho de Campo T.8316Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocument125 pagesBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Significado Dos Símbolos Do Fluxograma de ProcessosDocument8 pagesSignificado Dos Símbolos Do Fluxograma de ProcessosRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 4749 Demonstracao Do Resultado Do Exercicio Dre Fernando ApratoDocument143 pages4749 Demonstracao Do Resultado Do Exercicio Dre Fernando ApratoRafaela Goncalves100% (1)
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocument125 pagesBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Segnini 2012 Travalho ArtisticoDocument116 pagesSegnini 2012 Travalho ArtisticoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Rocha 2013 Magia Do CircoDocument306 pagesRocha 2013 Magia Do CircoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 1669840814234e-Book A Experincia Digital Dos Clientes Dos Bancos No BrasilDocument40 pages1669840814234e-Book A Experincia Digital Dos Clientes Dos Bancos No BrasilRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Manual ABNTDocument62 pagesManual ABNTRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Aula 1 EstrategiaDocument5 pagesAula 1 EstrategiaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Cbc,+IXCongresso Artigo 0332Document18 pagesCbc,+IXCongresso Artigo 0332Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- 30399-Texto Do Artigo-119360-1-10-20190925Document36 pages30399-Texto Do Artigo-119360-1-10-20190925Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Antropologia - Do - Projeto BordieDocument32 pagesAntropologia - Do - Projeto BordieRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Elali CriatividadeDocument9 pagesElali CriatividadeRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Planejamento Mestre Da ProduçãoDocument35 pagesPlanejamento Mestre Da ProduçãoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Costa 2015Document10 pagesCosta 2015Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- 529 1931 1 PBDocument14 pages529 1931 1 PBRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Uma Análise BibliométricaDocument18 pagesUma Análise BibliométricaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 1-PCP - Introdução-SLIDESDocument57 pages1-PCP - Introdução-SLIDESRafaela Goncalves100% (1)
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocument125 pagesBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesNo ratings yet