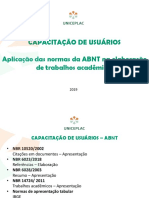Professional Documents
Culture Documents
Brant 2009 Poder Da Cultura
Brant 2009 Poder Da Cultura
Uploaded by
Rafaela Goncalves0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views125 pageslivro
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentlivro
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views125 pagesBrant 2009 Poder Da Cultura
Brant 2009 Poder Da Cultura
Uploaded by
Rafaela Goncalveslivro
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 125
Cultura e suas relagdes de poder
© que é Cultura? Qual a sua funcdo publica? Existe
uma relacao direta entre cultura e desenvolvimento?
Podemos pensar em sustentabilidade sem considerar
a questdao cultural? Para que serve uma politica
cultural? Qual a sua relacdo com o mercado? Como
© poder publico pode intervir na dinamica cultural de
uma sociedade? Como o artista e o agente cultural
enfrentam os desafios da pos-modernidade?
Essas e outras quest6es sao abordadas, de maneira
pratica, ilustrativa e propositiva pelo pesquisador e
consultor Leonardo Brant, que sustenta um novo passo.
em direcdo a ética nas relacdes socioeconémicas, como
o entendimento de que a cultura é ponto de partida
para um projeto de nacao, para o desenvolvimento
social, para as oportunidades econdmicas, mercados
potentes, empresas inovadoras, brasileiros capazes,
competentes e livres.
wn
OM Tele Tamer Moll hale]
ONGC mel cele aT Le Molo Yee)
conforme as visées politicas de cada
Muelle Ee TN oe SS
temas de poder. Chaves que podem
Cll ia Celt CEM Lee ML c el [e (ste)
equidade e parao didlogo. Mas também
podem fecha-las, cedendo ao controle,
@ discriminagao e a intolerancia.
0 presente estudo aponta para aneces-
sidade de compreendermos a cultura
como um plasma invisivel, entrelacado
entre as dinamicas sociais, tanto como
alimentodaalmaindividual, quantocomo
elemento gregario e politico, que liga e
significa as relacdes humanas. Perceber
a presenca desse plasma - ou seja, de
uma matéria intangivel altamente ener-
gizada, reativa e que permeia todo o
espaco da sociedade - é fundamental
(ELEM Mofo) leh geLlabtelo nels Cll ee Mele)
nosso tempo.
UTE Co Te aa Meee
de politicas culturais e presidente
da Brant Associados, consultoria
estratégica para empreendimentos
socioculturais. Criou e edita Cultu-
NM ice Celta en ee
Coote) afer Ue TEM (Msi a
autor dos livros Mercado Cultural,
Diversidade Cultural (org.) e Politicas
Culturais vol.1 (org.). Conferencista
fin caret molec alle elmo
cursos de formacao na area cultural,
TTL (M ial MOM eM ae
(Brasil) e Divercult (Espanha) e foi
Mite or eM eIale Kel Mn emer 1 Cola}
Network for Cultural Diversity. E
eT uel cl cee
de Ctrl-V - VideoControl, sobre
a industria e as politicas para o
ET feh EU
www.opoderdacultura.com.br
oder
ofcultura
Leonardo Brant
at
korr0Ra, Ze
PeirdpoliS
[iN e) ol 3
Introdugdo, 7
|- Cultura em sua fungdo publica
(Cultura é poder), 11
ll - Direitos humanos, cidadania e diversidade cultural
(O poder da sociedade), 23
lll - Cultura a servico do imaginario brasileiro
(O poder do Estado), 45
IV - Economia da cultura e cultura da economia
(O poder do mercado), 73
V - Cultura e cidadania corporativa
(O poder das corporag6es), 85
VI - Diretrizes e propostas para uma democracia cultural
(O poder da politica), 105
Bibliografia, 122
Agradecimentos, 131
INTRODUCGAO
Diretrizes e propostas para a Cultura
O que é Cultura? Qual a sua funcéo publica? Existe uma
relacéo direta entre cultura e desenvolvimento? Podemos
pensar em sustentabilidade sem considerar a questéo cultural?
Para que serve uma politica cultural? Qual a sua relagéo com
© mercado? Como o poder publico pode intervir na dinamica
cultural de uma sociedade? Como 0 artista e o agente cultural
enfrentam os desafios da pds-modernidade?
Antes de qualquer consideracao, cabe ressaltar que o presente
estudo nao passa de um olhar despretensioso e inquieto de
alguém que manuseia, observa, pesquisa, pensa, discute e
propde questdes e solucées para as politicas de cultura.
Entre as muitas respostas possiveis para essas questées, optei
por buscar uma abordagem propositiva, que buscasse imaginar
uma nova percepcao da riqueza e importancia da cultura como
projeto humanista, que abarcasse também a sua dimensao
individual, politica e organizacional.
O poder da cultura configura-se, entéo, como uma plataforma
de acées voltada ao reconhecimento e a valorizacdo da cultura
como elemento fundamental para o desenvolvimento humano
em todos os seus aspectos. A partir da abordagem aqui proposta,
a Cultura se junta aos temas sociais e ambientais para constituir
0s pilares basicos de um significado mais efetivo e abrangente
para uma nova nocao de desenvolvimento e sustentabilidade.
No campo do poder ptiblico, apresenta apontamentos para
© Estado reforcar sua agenda em relacao a cultura, buscando
um novo padrdo para as politicas culturais.
Da mesma forma, a relacdo entre uma empresa e a acao
cultural por ela desenvolvida deve levar em conta fatores mais
abrangentes, extrapolando o sistema de trocas e contrapartidas,
que resultam em promoco e visibilidade da marca.
Todas essas proposicées e diretivas sdo discutidas e
contextualizadas nos préximos capitulos. Mas, longe de querer
desenvolver uma abordagem casual e oportunista do tema, o
estudo busca torna-lo concreto e palpavel. Um dos principais
desafios do livro é auxiliar 0 debate publico em torno da
necessidade de se criar um novo modelo capaz de orientar uma
relacao de compromisso de todos com a importancia estratégica
da cultura.
Ao apresentar essa ideia e todas as acepcées trazidas pelo
tema, 0 estudo propde um novo passo em direcdo a ética nas
relacdes socioeconémicas.
Um ponto de partida para um projeto de nacao, para o
desenvolvimento social, para as oportunidades econémicas,
mercados potentes, empresas inovadoras, brasileiros capazes,
competentes e livres.
Este livro nasce de uma discussdo fomentada pelo Laboratorio
de Politicas Culturais, unidade de pesquisa e rede sociocultural
focada na exploracao da funcéo politica da cultura, gerado no
ambito da Brant Associados.
Busca desvendar e oferecer um olhar mais cuidadoso sobre
a importancia da cultura em nossa sociedade, bem como a
relagdo e o comprometimento de todos os cidaddos com a sua
funcdo publica e seu papel estratégico. Como resultado dessa
discussao surgiu esta pesquisa, baseada em documentos, livros,
entrevistas e, sobretudo, a vivéncia didria com o tema.
Consolida, de certa forma, minha experiéncia de dez anos de
trabalho como consultor dedicado a potencializar e dinamizar
empreendimentos culturais sustentaveis. Atrelado a isso, valho-
me de uma intensa atuacdo como ativista cultural, a frente
do Instituto Pensarte, da International Network for Cultural
Diversity e, sobretudo, acompanhando os movimentos didrios
do setor pelo Cultura e Mercado, o mais influente blog do Brasil
sobre o assunto.
Vivernos 0 tempo e o lugar da disfuncao politica da cultura,
ora apropriada por governos e sistemas de poder como fator
de controle e dominio, ora transformada em mero elemento
agregador de imagem e promocaéo empresarial, a servico de
uma sociedade centrada no (auto) consumo.
Em momento algum houve a intencdo de langar O poder da
cultura num caldeirao tedrico-conceitual, distante das questdes
praticas que afligem gestores publicos e privados de cultura. A
ideia foi reunir fundamentos e argumentos que justificassem
a proposi¢aéo de uma plataforma assertiva e concreta para
lidar com a responsabilidade de toda a sociedade em relacao
a cultura, compreendida em sua dimensao simbdolica e seu
potencial socioeconémico.
O estudo introduz o leitor a esse complexo e dinamico
universo da cultura, apresentando suas diversas nuances,
sobretudo quando tratamos de sua aplicagdo programatica.
Nesse sentido, ele pode ser lido como um guia pratico para
desenvolver acées culturais, nas mais diversas situagdes pelos
mais diferentes agentes.
Leonardo Brant, maio de 2009.
“Onde ha poder, ele se exerce. Ninguém
&, propriamente falando, seu titular; e, no
entanto, ele sempre se exerce em determi-
nada diregdo, com uns de um lado e outros
do outro; nao se sabe ao certo quem o
detém; mas sabe-se quem 0 nao possui.”
(Michel Foucault)
Capitulo |
Cultura em sua
fungao publica
(Cultura é poder)
Cultura é poder
O que seduz. E liberta
Neste capitulo apresentarei uma visado prépria do ter-
mo Cultura, dialogando com diversos autores e propostas
conceituais deste vasto e complexo campo de estudo. A
intengdo é apresentar uma dimensao de cultura como do-
minio, como campo de apropriacéo, publica ou privada,
e seu manejo pelos diversos agentes sociais ao longo do
nosso processo civilizatério.
A ideia de cultura, sempre moldada conforme as vis6es
politicas de cada tempo, detém em si as chaves dos sis-
temas de poder. Chaves que podem abrir portas para a
liberdade, para a equidade e para o didlogo. Mas também
podem feché-las, cedendo ao controle, a discriminagao e 4
intolerancia.
Da mesma forma que 0 poeta T.S.Eliot inter-relacionava
cultura sob a ética do individuo, de um grupo e de toda a
sociedade, o presente estudo aponta para a necessidade de
compreendermos cultura como um plasma invisivel en-
trelacado entre as dindmicas sociais, tanto como alimento
da alma individual, quanto elemento gregirio e politico,
que liga e significa as relagées humanas. Perceber a pre-
senca desse plasma - ou seja, de uma materia intangivel
altamente energizada, reativa e que permeia todo 0 espaco
da sociedade - é fundamental para a compreensio dos fe-
némenos do nosso tempo.
Cultura € algo complexo. Nao se limita a uma pers-
pectiva artistica, econédmica ou social. E a conjugacdo de
todos esses vetores. Dai a sua importancia como projeto de
Estado e sua pertinéncia como investimento privado. Uma
politica cultural abrangente, contempordnea e democratica
deve estar atenta as suas varias implicag6es e dimensées.
A UNESCO, organismo das Nagées Unidas destinada
a questdes de educacao, cultura e ciéncias, define cultura
como “um conjunto de caracteristicas distintas espirituais,
materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma so-
ciedade ou um grupo social. Abarca, além das artes e das
letras, os modos de vida, os sistemas de valores, as tradi-
Ges e€ as crencas.”
Sob a luz do conceito de cultura da entidade ndo seria
absurdo classificar um filme publicitério ou merchan-
dising como uma agao cultural. Nao se trata do inves-
timento no potencial criador do cidaddo/consumidor,
mas num determinado conjunto de comportamentos
necessdrios a reforcar a ideia de incentivar ou potencia-
lizar determinada acao (consumo).
A empresa age para seduzir, ou até mesmo impor, por
meio de acio sistematica e repetida, sua “cultura”. seus
valores e cédigos. Ou seja, para consumir determinada
marca de cigarro, automével, ou calga jeans, é preciso
praticar, ou ao menos identificar-se, com determinados
padrées de conduta.
Levado as ultimas consequéncias, esse sistema traduz-
-se num processo de aculturagao, baseado na necessidade
de destituir 0 sujeito de valores, referéncias e capacidades
culturais intrinsecas, em busca de adesao a algo mais dind-
mico, sedutor e com fungao gregaria: o consumo.
A jomalista canadense Naomi Klein aponta em seu li-
vro-manifesto Sem Logo (2002) os riscos dessa associacao.
Ela apresenta o branding (mecanismos empresariais para
criar e desenvolver marcas) como um processo cultural. A
autora afirma que as marcas ndo sao produtos, contudo,
sdo responsaveis pela criagdo de conceitos, atitudes, valo-
res e experiéncias. Portanto, “por que também nado podem
ser cultura?” Esse projeto tem sido téo bem sucedido que
“os limites entre os patrocinadores corporativos e a cultura
patrocinada desapareceram completamente’, questiona.
Segundo Klein (2002), embora “nem sempre seja a in-
tencdo original, o efeito do branding avancado é empurrar
a cultura que a hospeda para o fundo do palco e fazer da
marca a estrela. Isso nao é patrocinar cultura, é ser cultura"
Cultura é poder
A servico das instaéncias de poder, sustentadas entre
si, como nos dias de hoje, atuam os sistemas financeiro,
governamental e midia. A arte assume uma preocupante
funcdo apaziguadora e definidora dos modos de vida e
costumes. Joost Smiers, em Artes sob Pressaio (2003), pergun-
ta “onde os conglomerados culturais podem espalhar suas
ideias sobre o que deve ser a arte, a questao crucial é: as
historias de quem estao sendo contadas? Por quem? Como
séo produzidas, disseminadas e recebidas?”
Para Smiers (2003), as obras de arte tornaram-se veiculos
com mensagens comerciais e “tém a funcao de criar um
ambiente no qual a producéo do desejo possa acontecer.
Esse contexto é frequentemente cheio de violéncia’, diz.
A industria audiovisual e seu extremo poder de alcance,
das salas de cinema aos lares de todo o planeta, por meio
de DVDs, games e websites interativos, é o melhor exemplo
disso, como aponta o Relatério do Programa das Nacdes
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de 2004, intitula-
do Liberdade cultural num mundo diversificado. De acordo com o
documento, o comércio mundial de bens culturais — cine-
ma, fotografia, radio e televiséo, material impresso, litera-
tura, musica e artes visuais - quadruplicou, passando de 95
bilhdes de dolares norte-americanos em 1980 para mais de
380 bilhdes em 1998. Cerca de quatro quintos desses fluxos
tém origem em 15 paises.
Segundo o relatério, Hollywood atinge 2,6 bilhées de
pessoas € Bollywood (industria de cinema indiano) cerca
de 3,6 bilhdes. O dominio de Hollywood é apenas um dos
aspectos da disseminagao ocidental de consumo. “Novas
tecnologias das comunicacées por satélite deram lugar, na
década de 1980, a um novo e poderoso meio de comuni-
cacao de alcance mundial e a redes mundiais de meios de
comunicacéo como a CNN” O ntimero de aparelhos de
televisio por mil habitantes mais do que duplicou em todo
o mundo, passando de 113, em 1980, para 229, em 1995.
Desde entao, aumentou para 243.
O resultado disso é a criagéo de um padrao de consumo
global, com “adolescentes mundiais” compartilhando uma
“unica cultura pop mundial, absorvendo os mesmos videos
€ a mesma musica e proporcionando um mercado enorme
para ténis, t-shirts e jeans de marca", afirma o relatério.
Edgar Morin, em Cultura e Barbdrie Européias, empresta de
Teilhard de Chardin o termo “noosfera’, para designar o
mundo das ideias, dos espiritos, dos deuses produzidos
pelos seres humanos dentro de sua cultura. “Mesmo sen-
do produzidos pelo espirito humano, os deuses adquirem
uma vida prépria e o poder de dominar os espiritos”. Dessa
forma, diz o filésofo, “a barbaérie humana engendra deuses
cruéis, que, por sua vez, incitam os seres humanos a bar-
barie. Nés modelamos os deuses que nos modelam”
Max Weber costumava dizer que o homem estd pre-
so a uma teia de significados que ele mesmo criou. Nesse
sentido, assim como Geertz (1973), também podemos con-
siderar cultura como um conjunto de mecanismos de con-
trole para governar comportamentos. E a histéria recente
exibe varios alertas de como as industrias culturais e os
meios de comunicacao de massa podem ser grandes armas
disponiveis para acomodar e disseminar determinados
comportamentos. Assim fizeram 0 nazismo, o fascismo, 0
comunismo e as ditaduras militares, sobretudo as latino-
americanas, nos exemplos extremos.
Esse rastro esta cada vez mais presente nas sociedades
orientadas para 0 consumo. Em comum, a auséncia do Es-
tado em sua responsabilidade com a cultura e a diversi-
dade; e o dominio marcante das industrias culturais como
pontas de lanca para uma economia global centrada nas
grandes corporacées.
A realidade desse cendrio precisa ser encarada por toda
a sociedade brasileira, que usufrui os beneficios dessa glo-
balizagdo econémica, mas ao mesmo tempo se expoe de
maneira preocupante aos seus efeitos colaterais. O pais
corre risco de virar as costas ao seu grande potencial da
Cultura é poder
producdo cultural e sua vocacéo para o desenvolvimento
de um poderoso mercado formado pelas préprias manifes-
tagdes culturais.
Cultura, nesse caso, funciona como uma chave capaz
de trancar 0 individuo em torno de cédigos e simbologias
controladas: pelo Estado, por uma religido ou mesmo por
corporacées e através dos instrumentos gerados pela so-
ciedade de consumo, como a publicidade, a promocao e o
patrocinio cultural.
Mas essa mesma chave, que oprime o ser humano e des-
faz sua subjetividade, tem o poder de abrir as portas, per-
mitindo ao individuo compreender a si e aos fendmenos da
sociedade e do seu préprio estagio civilizatério, em busca
da liberdade. Para isso, basta giré-la para o lado oposto.
Em Dialética da Colonizagéo (1992), Alfredo Bosi define
cultura como o “conjunto das praticas, das técnicas, dos
simbolos e dos valores que se devem transmitir 4s novas
geracées para garantir a reproducao de um estado de coe-
xisténcia social". E supde uma “consciéncia grupal operosa
e operante que desentranha da vida presente os planos
para o futuro”.
A cultura cumpre nesse caso uma fungao pouco reco-
nhecida e estimulada nesses tempos: transformar realida-
des sociais e contribuir para o desenvolvimento humano
em todos os seus aspectos. Algo que identifica 0 individuo
em seu espaco, lugar, época, tornando-o capaz de sociabi-
lizar e formar espirito critico.
Origens e dimensdes da palavra Cultura
Raymond Williams, autor de Palavras-chave (2007), con-
sidera a palavra culture como uma das duas ou trés mais
complicadas da lingua inglesa, devido ao seu complexo
percurso etimoldgico.
Em sua acepcdo mais longinqua, a matriz latina colere tra~
zia o significado de cultivar, habitar, proteger e honrar com
veneracdo. Desse radical, podemos reconhecer pelo menos
dois desdobramentos: colonus, que traz a ideia de habitacdo
e cultus, que nos remete a “cultivo ou cuidado”, bem como
seus significados medievais subsididrios: “honra, adoracao”,
ja “convergidos pela radicalizagao do temor divino e da mo-
ral na sociedade - personificagao do Senhor no feudo”. Mas
também couture, no francés antigo, por exemplo, associados
a “lavoura, cuidado com o crescimento natural’.
Dos séculos XVI ao XVII, segundo Williams, 0 termo
passou a significar, por analogia, o cuidado com o desen-
volvimento humano e 0 cultivo das mentes, deixando de
se tratar apenas da terra e dos animais. Desde jé destacan-
do uma distingéo arbitraria entre os que tém cultura dos
que nao tém, o termo assume o carater de civilidade. Com
a expansdo da Europa e seu consequente processo de do-
minacdo politica e econdémica, o poder de distincdo entre o
culto € o nao culto foi de grande valia para implementar e
manter 0 colonialismo.
A partir dos séculos XVIII e XIX, 0 conceito passa a ser
utilizado para designar o préprio estagio civilizatério da
humanidade. Johann Gottfried von Herder escreveu em So-
bre a filosofia da histéria para a educagdo da humanidade (1784-91):
“Nada é mais indeterminado que essa palavra, e nada mais
enganoso que sua aplicacao a todas as nacées e a todos os
periodos”. Argumentava que era necessario grifar culturas,
no plural, pois elas sao especificas e varidveis em diferen-
tes nacdes e periodos, tanto quanto em relacdo a grupo
sociais, como em econdémicos dentro de uma nacao.
Para Williams, podemos reconhecer trés categorias am-
plas e ativas de uso do termo: o processo de desenvolvi-
mento intelectual, espiritual e estético; a referéncia a um
Povo, um periodo, um grupo ou da humanidade em ge-
ral; as obras e as praticas da atividade intelectual, particu-
larmente a artistica, sendo este Ultimo o seu sentido mais
difundido: “cultura é musica, literatura, pintura, escultura,
teatro e cinema’.
Cultura é poder
JA o pensador Edgar Morin atribui trés dimensées inter-
dependentes a palavra cultura: a antropoldgica, ou “tudo
aquilo que é construido socialmente e que os individuos
aprendem’; a social e histérica, que pode ser entendida
como 0 “conjunto de habitos, costumes, crencas, ideias, va-
lores, mitos que se perpetuam de geracéo em geracao" e
a relacionada as humanidades, que “abrange as artes, as
letras e a filosofia”.
Para Terry Eagleton, no indispensavel A idéia de cultura
(2002), as palavras civilizagao e cultura continuam até hoje
a intercambiar-se em seu uso e significado, sobretudo por
antropologos: “cultura é agora também quase o oposto de
civilidade”. Eagleton (2002) considera curioso que o termo,
hoje, se aplique mais 4 compreensdo de formas de vida
“selvagens” do que para civilizados. “Mas se ‘cultura’ pode
descrever uma ordem social ‘primitiva’, também pode for-
necer a alguém um modo de idealizar a sua prépria”
Tanto para definir algo de dominio préprio de um indi-
viduo (o conhecimento adquirido) quanto para o exercicio
de poder em relacao a grupos sociais distintos (0 culto e
0 nao culto, 0 civilizado e o nao civilizado), 0 termo é uti-
lizado até hoje como definidor de um campo simbédlico
determinado, quase sempre para distinguir ou identificar.
Ac6es e politicas culturais, constituidas nos campos pu-
blico e privado, exercem, inevitavelmente, esse dominio.
Como provedor de acesso a contetidos, processos e dind-
micas, agu¢a 0 espirito critico e permite a apropriacdo, o
empoderamento e o protagonismo do cidadao.
Por outro lado, a cultura adquire, cada vez mais, sua cor-
porificagdo como ente econémico e instrumento de lazer
€ entretenimento. Manuseadas por sociedades contamina-
das por um modo de pensar linear e cartesiano, condicio-
nadas a analisar todos os fendmenos por uma correlacéo
de causa-efeito, deixa de ser essa matéria que significa e
transforma as relacées, para ser mera atividade econdémica,
estratégica por sua grande capacidade de gerar recursos,
20
postos de trabalho e economia de escala, por meio de ex-
ploracao de propriedade intelectual.
Uma formula que exige difusio em massa para ser
economicamente eficaz. E contetidos de facil assimilacao,
para ampliar sua capacidade de insercéo mercadolégica.
Essa formula geralmente exclui didlogos mais profundos e
complexos, desconectando-se de suas raizes culturais e das
dinamicas locais. Com formatos cada vez mais repetitivos e
pasteurizados, séo mais afeitas a uma cultura homogénea,
linear, unissona, voltada ao consumo.
A falta de dispositivos claros e efetivos para lidar com
esse campo simbélico é uma das mais graves doengas das
sociedades contemporaneas.
“N&o basta consumir Cultura: é necessdrio produzi-la.
Nao basta gozar arte: necessdrio é ser artista!
N&o basta produzir ideias:
necessario é transforma-las em atos sociais,
concretos e continuados.”
(Augusto Boal)
Capitulo Il
Direitos humanos, cidadania
e diversidade cultural
(O poder da sociedade)
O poder da sociedade
Iguais na Diferencga
Neste capitulo, apresentaremos a cultura em sua di-
mensao cidada. A proposta é demonstrar o atual estagio
evolutivo das lutas e conquistas da sociedade em relacéo
aos direitos e liberdades culturais. Neste breve passeio pela
historia, abordaremos conceitos e plataformas politicas de
extrema relevdncia para a consolidacgdo de um cenario de
valorizacao da cultura.
A Declaracdo Universal dos Direitos Humanos comple-
tou 60 anos em 2008. O principal instrumento balizador das
relacdes internacionais do pés-guerra ainda sobrevive, mas
traz consigo uma série de limitacées.
Nao se fez universal, nado promoveu a paz. Talvez nado
tivesse produzido os efeitos esperados, tendo sido até
motivo de desavenca entre boa parte da populacao glo-
bal, que nao se vé espelhada ou contemplada no texto da
Declaracao.
Culturas nado sao universais, modos de vida, costumes
€ crencas também nao. Nao por acaso, os direitos e liber-
dades culturais sejam os menos discutidos, celebrados e
garantidos como parte indivisivel dos direitos humanos.
Costumo defini-los como quinta categoria desses direitos,
pois seguem esquecidos, logo apés os civis, politicos, eco-
némicos e sociais, estes mais nobres, sendo em efetividade,
pelo menos em visibilidade.
Mas por que esses direitos sio pouco reconhecidos e
muito desrespeitados em nossa sociedade?
Para entender esse ponto fundamental precisare-
mos mergulhar um pouco no histérico da conquista
desses direitos, na tentativa de reposicionarmos e va-
lorizarmos essa questéo em nossas politicas publicas
e privadas.
A origem do direito a identidade cultural ou 4 protecéo
do patriménio cultural situa-se, historicamente, nos movi-
mentos revoluciondrios da Inglaterra (1688) e particular-
25
26
mente da Franca (1789). Foi a partir dessas revolucdes que
nasceram as primeiras leis de protecao ao patriménio his-
t6rico e artistico, os primeiros museus publicos, bibliotecas,
teatros e arquivos nacionais, além dos conservatorios de
artes e oficios.
A funcao basica dessas instituigdes era a de materializar
os novos valores - Nacao, Povo e Estado - fixd-los no ima-
gindrio, constituindo-se a coesdo social em torno desses
simbolos. Sendo assim, esse direito nasceu umbilicalmente
ligado aos Estados nacionais.
O primeiro direito cultural reconhecido internacio-
nalmente foi o autoral. Historicamente, surgiu de diver-
sos acontecimentos na Europa e EUA nos séculos XVII
e XVIII, resultantes de processos que reconheceram a
criagao intelectual e artistica como a mais legitima das
propriedades. Esse conceito ficou caracterizado na Con-
vencdo de Berna para a Protecaéo das Obras Literdrias e
Artisticas, em 1886.
A €poca foi marcada pela expansdéo da Europa e dos
Estados Unidos sobre a Asia, a Africa e a América Latina e
pelo avanco das invencées tecnoldgicas. Aparelhos e servi-
Gos, entre os quais 0 telefone, o fondgrafo, a fotografia e o
cinema, tornaram-se responsaveis também pela expansdo
da imprensa ¢ 0 estimulo ao consumo de livros, jornais e
outras producées intelectuais e artisticas.
A medida em que iam se sucedendo guerras cada vez
mais destruidoras, encontros internacionais aprovaram
documentos, como a Convengao de Haya (1899) e 0 Pacto
de Washington (1935), que estabeleceram principios rela-
tivos 4 protecao do patriménio cultural em caso de con-
flito armado. Apés a Segunda Guerra Mundial, quando
ocorreram verdadeiros saques ao patriménio cultural dos
pafses ocupados, esse direito foi definitivamente elevado
a esfera internacional.
Em 1954, a UNESCO proclamou a Convencao sobre a
Protecéo dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado,
O poder da sociedade
documento pelo qual os Estados membros da ONU se
comprometeram a respeitar os bens culturais situados nos
territérios dos paises adversdrios, assim como proteger seu
proprio patriménio em caso de guerra. Essa convencao foi
emendada em 1999, a fim de dar conta das novas formas
de destruigdo engendradas pela Guerra do Golfo.
O movimento ecolégico, que ganhou impeto a partir
da década de 1970, também contribuiu para a elevacaéo
desse direito ao plano mundial. Ao considerar a deterio-
ragdo e o desaparecimento de um bem natural, ou cul-
tural, como “um empobrecimento nefasto do patriménio
de todos os povos do mundo", a UNESCO justificou a
aprovacao, em 1972, da Convencdo sobre a Protecéo do
Patriménio Mundial, Cultural e Natural. Nessa mesma
reunido, foram criados o Comité do Patriménio Mundial
e o Fundo do Patriménio Mundial, destinado a apoiar a
protecao e a conservacao dos bens constantes da Lista do
Patriménio Mundial.
Nos termos dessa convencao, os estados membros reco-
nhecem ser deles a responsabilidade primordial de “iden-
tificar, proteger, conservar, reabilitar e transmitir as gera-
des futuras o patriménio cultural e natural situado em
seu territério”. Recentemente (2003), a UNESCO aprovou
uma convencio para a protecdo do patriménio imaterial,
que trata do reconhecimento e valorizacao dos saberes e
fazeres de um povo.
Tanto a Convencio do Patriménio quanto a Declara-
Gao do México sobre as Politicas Culturais (1982) definem
como patriménio cultural de um povo as obras de seus
artistas, arquitetos, musicos, escritores e sdbios, as criagdes
anénimas surgidas da alma popular e 0 conjunto de va-
lores que dao sentido a vida. Incluem, também, a lingua,
os ritos, as crencas, os lugares e monumentos histéricos,
paisagisticos, arqueoldgicos e etnoldgicos, além das insti-
tuicdes dedicadas 4 protecaéo desse patriménio, como os
arquivos, bibliotecas e museus. Os mesmos documentos
27
28
reafirmam o direito dos povos de proteger o seu patri-
ménio cultural, vinculando-o 4 defesa da soberania e da
independéncia nacionais.
A Declaracgéo do México recomendou, inclusive, que
fossem restituidas aos paises de origem as obras subtra-
idas via colonialismo, conflitos armados e ocupacées es-
trangeiras. Esse principio ja havia sido incorporado pela
UNESCO, em 1978, quando foi institufdo 0 Comité Inter-
governamental para Fomentar o Retorno dos Bens Cultu-
rais aos seus Paises de Origem ou sua Restituicdo em caso
de Apropriacao Ilicita, 6rgio consultivo encarregado de
receber as solicitaces dos paises prejudicados e mediar os
didlogos bilaterais.
Além de trazer 4 tona a necessidade de protecado ao
Patriménio Cultural, os eventos que culminaram na Se-
gunda Guerra Mundial afetaram profundamente os tra-
Gos caracteristicos da antiga Declaracdo dos Direitos do
Homem e do Cidadao, de 1789. Os paises que aderiram
4 Organizacdo das Nacées Unidas (ONU), criada apos 0
conflito internacional em 1948, endossaram um novo
documento: a Declaracgdo Universal dos Direitos do Ho-
mem, firmada em Paris. O texto traz 0 reconhecimento
do individuo como portador de direitos intrinsecos a
natureza humana, como 4 vida e a liberdade. A partir
daquele momento, os direitos dos cidaddos passaram a
prevalecer sobre quaisquer outros, principalmente so-
bre o direito divino, que justificava o poder absoluto
dos monarcas.
Pelo artigo XXVII da Declaracgaéo Universal, também
detalhado pelo artigo XV do Pacto Internacional de
Direitos Econémicos, Sociais e Culturais, os Estados
membros da ONU se comprometeram a reconhecer “o
direito de toda a pessoa a: participar na vida cultu-
ral; gozar dos beneficios do progresso cientifico e das
suas aplicacées; beneficiar da protecdo dos interesses
morais e materiais que lhe correspondem em virtude
O poder da sociedade
de producées cientificas, literarias ou artisticas de que
seja autora”.
Para assegurar 0 exercicio desses direitos, as nagées
signatdrias do Pacto deveriam adotar, entre outras me-
didas, as necessdrias para a “conservacao, desenvol-
vimento e divulgacdo da ciéncia e da cultura, além
de respeitar a liberdade indispensavel para a investi-
gacio cientifica e para a atividade criadora”, Também
teriam de reconhecer os beneficios que derivam do
fomento e desenvolvimento da cooperacao e das rela-
Ges internacionais em questées cientificas e culturais
(Pacto Internacional dos direitos Econdmicos, Sociais e
Culturais, 1966).
Em 1976, a UNESCO publica a Recomendacaéo sobre a
Participacdo dos Povos na Vida Cultural, onde define duas
dimensées dessa participacdo: a do direito a livre criagao e
a do direito a fruicdo. A primeira entende que “as oportu-
nidades concretas garantidas a todos - grupos e individu-
os - para que possam expressar-se livremente, comunicar,
atuar e engajar-se na criagao de atividades, com vistas ao
completo desenvolvimento de suas personalidades, a uma
vida harménica e ao progresso cultural da sociedade”. A se-
gunda afirma que “as oportunidades concretas disponiveis
a qualquer pessoa, particularmente por meio da criacdo de
condigées socioeconémicas apropriadas, para que possa
livremente obter informagdo, treinamento, conhecimento
e discernimento, e para usufruir dos valores culturais e da
propriedade cultural”.
Mais tarde, a Declaracéo do México sobre as Politicas
Culturais (1982) introduz outra dimensao do direito 4 cul-
tura, ao postular a mais ampla participacdo dos individuos
e da sociedade no processo de “tomada de decisdes que
concernem a vida cultural”, Para tanto, recomendou-se
“multiplicar as ocasi6es de didlogo entre a populacao e os
organismos culturais’, particularmente através da descen-
tralizagdo geografica e administrativa da politica cultural,
29
30
© que inclui a disseminacao territorial dos “locais de recre-
acdo e desfrute das belas artes”
A partir das lutas politicas e sociais que tem como
marco 0 ano de 1968, os direitos culturais evoluiram de
tal forma que é possivel falar na emergéncia de um novo
direito, ligado 4 subjetividade ou a personalidade. Embo-
ra alguns autores atribuam a evidéncia desse direito ao
feminismo, preferimos atrelé-lo concomitantemente ao
contexto da contracultura. Nao sé porque englobou, par-
cialmente, o movimento feminista - no que diz respeito
4 liberdade sexual - e o ambientalista — na valorizacdo
da vida natural - mas, sobretudo, porque introduziu de
forma mais completa, no cenario politico, os valores da
subjetividade e da intersubjetividade. O movimento foi
além da reivindicagao de direitos especificos e afirmou 0
direito de ser pessoa, e pessoa concreta, singular e inte-
gral, parte do mundo objetivo das relacdes sociais, mas
portadora também de vida interior.
A geracao do pds-guerra, que cresceu tomando co-
nhecimento dos horrores do nazifascismo e do stali-
nismo, encontrou na valorizacéo da subjetividade uma
bandeira de luta, pois compreendeu que a dominagao
totalitdria havia se estendido para além da esfera publi-
ca, atingindo o 4mago da autonomia intelectual e moral
dos sujeitos.
O problema se agravou ainda mais com 0 processo de
globalizacéo econémica, que vem debilitando a soberania
dos Estados nacionais e forcando-os a se submeter aos dita-
mes do mercado capitalista global, o que inclui limitar, nas
leis nacionais, os direitos econdémicos, sociais e culturais.
A questdo dos direitos culturais ganha uma nova di-
mensao no Brasil, a partir da reflexdo realizada pela fil6-
sofa Marilena Chaui, no periodo em que foi secretaria de
Cultura da cidade de Sao Paulo (1988 a 1992). Sua politica,
baseada no conceito de Cidadania Cultural, era fundamen-
tada nas seguintes garantias:
O poder da sociedade
- Direito de acesso e de fruicado dos bens culturais
por meio dos servicos publicos de cultura (bibliote-
cas, arquivos histéricos, escolas de arte, cursos, ofici-
nas, seminarios, gratuidade dos espetaculos teatrais
e cinematogréficos, gratuidade das exposigdes de
artes plasticas, publicagao de livros e revistas etc.),
enfatizando o direito 4 informacao, sem a qual nao
ha vida democratica;
- Direito a criago cultural, entendendo a cultura
como trabalho da sensibilidade e da imaginacgaéo na
criacao das obras de arte e como trabalho da inteli-
géncia e da reflexdo na criagéo das obras de pensa-
mento; como trabalho da memé6ria individual e so-
cial na criagéo de temporalidades diferenciadas nas
quais individuos, grupos e classes sociais possam
reconhecer-se como sujeitos de sua prépria historia
e, portanto, como sujeitos culturais.
- Direito a reconhecer-se como sujeito cultural,
gracas 4 ampliacao do sentido da cultura, criando
para isso espacos informais de encontro para dis-
cuss6es, troca de experiéncias, apropriagéo de co-
nhecimentos artisticos e técnicos para assegurar a
autonomia dos sujeitos culturais, exposigéo de tra-
balhos ligados aos movimentos sociais e populares.
- Direito a participagéo nas decisées publicas
sobre a cultura, por meio de conselhos e féruns
deliberativos nos quais as associag6es artisticas e
intelectuais, os grupos criadores de cultura e os mo-
vimentos sociais, através de representantes eleitos,
pudessem garantir uma politica cultural distanciada
dos padrées do clientelismo e da tutela.
A Declaracéo universal dos direitos humanos nao se
enquadra na categoria de instrumento civilizatério, criado
para enquadrar culturas e modos de vida em sistemas de
controle e coercao.
32
Devemos considerar, entretanto, que a Declaracao esta
desatualizada em relacdo aos direitos culturais. Talvez por
isso a necessidade da Declaracéo Universal sobre a Di-
versidade Cultural, e mais tarde uma Convencdo com o
mesmo tema.
Para compreender melhor o efeito dessa proposta
para as sociedades contempordneas torna-se necessdrio
conhecer e refletir sobre as novas possibilidades de inter-
relacdo sociocultural, a partir do conceito de Cidadania
Cultural.
Politica cultural e cultura politica
Baseia-se na garantia dos direitos culturais a todos os
cidadaos, mas vai além, ao estimular a geracéo de uma
nova consciéncia politica “a partir da apropriacao da cul-
tura como direito 4 fruicao, 4 experimentacao, a informa-
do, 4 memoria e 4 participacdo”, nas palavras da filésofa
Marilena Chaui.'
As dinémicas socioculturais surgem como _possibi-
lidades concretas de ampliar 0 espaco puiblico e ofere-
cer novas dindmicas de sociabilizacdo e participacéo nas
decis6es da comunidade e da sociedade como um todo.
Uma democracia direta, porém resultante de uma teia de
didlogos e conversacées.
O conceito de Cidadania Cultural proposto por Chaué
busca “o rompimento com a passividade perante a cultu-
ra’, por meio do consumo de bens culturais, e a resignacaéo
ao estabelecido. Segundo a fildsofa “essa passividade e essa
resignacdo bloqueiam a busca da democracia, alimentam
a viséo messidnica-mineralista da politica e o poderio das
oligarquias brasileiras”.
Essa visdo se contrapée ao atual modelo onde os es-
pacos de construgao e de participacdo da vida politica
estéo cada vez mais restritos e contaminados por ldgicas
O poder da sociedade
corporativas. Se por um lado, o sindicalismo e a demo-
cracia representativa, centrada na forca dos partidos poli-
ticos, foi o caminho possivel para que o cidadéo comum
alcancasse no Brasil a presidéncia da Republica, por outro
mostrou sua fragilidade na proposicao e efetivacao de uma
agenda politica mais abrangente, solidaria e democratica.
O projeto de Cidadania Cultural da ex-secretaria de
cultura da cidade de So Paulo se baseou na “desmonta-
gem critica da mitologia e da ideologia’. Uma nova cons-
trucdo, em torno “da possibilidade de tornar visivel um
novo sujeito social e politico que se reconhecga como su-
jeito cultural”
O incentivo ao debate ptiblico, a necessidade de com-
partilhar decisées com o Estado, a criagéo de uma esfera
publica nao estatal e a participacdo estimulada em todos
os espacos, formais, informais, institucionais, aut6nomos,
governamentais, so pontos fundamentais para o estabe-
lecimento de politicas baseadas na cidadania cultural.
Algumas propostas apresentadas por Chaui aqui sintetiza-
das, exemplificam melhor seu significado social:
- Universalizacdo dos servicos culturais e garantia
de acesso aos bens culturais e a criagdo;
- Memoria social e protagonismo: “somos todos
sujeitos culturais, mesmo que nao sejamos todos
criadores de obras de arte e de pensamento”;
- Compreensiao critica da sociedade, reflexéo;
- Enfase no carter expressivo, experimental e di-
versificado da criacao cultural;
- Estimulo a acao cultural das comunidades e dos
movimentos sociais e populares;
- Formacao e informacao, lazer e solidariedade
social;
- Discusséo publica (em conselhos e foruns de cul-
tura) dos orcamentos publicos de cultura e das prio-
ridades da politica cultural.
33
34
Cultura e Comunidade
Identidade é conceito-chave na construcdo de politicas
culturais. Além de dar sentido a um territorio cultural, retine
dentro de si elementos simbélicos compartilhados entre um
grupo de tal modo a garantir a sua soberania como nacao.
Segundo Teixeira Coelho? (1997), “tratava-se de encon-
trar os tragos dessa identidade e de preserva-los estimu-
lando sua reproducéo por intermédio de programas de
acéo cultural e de politicas de comunicacao de massa de
que resultaram as redes nacionais de televisdo”.
A identidade cultural de um povo é€ geralmente reco-
nhecida por seus elementos unificadores, como territério,
lingua e religiao. Tratar do assunto sob 0 ponto de vista
das politicas puiblicas de cultura torna-se cada vez mais
complexo e espinhoso. Geralmente atrelado ao nacionalis-
mo e utilizado como politica de Estados, 0 conceito passou
a ser visto com certa ressalva por formuladores e pesqui-
sadores contempordneos.
A construcao do sentido de nacao significa, para Zyg-
munt Bauman’, a negacao de diversificagdo étnica e cul-
tural. Os processos civilizadores presididos e monitorados
pelo poder do Estado apagam os resquicios de tracos cul-
turais do passado. A nacionalidade desempenha um papel
de legitimagao na unificacdo politica do Estado, “e a invo-
cacao das raizes comuns e de um cardter comum deveria
ser importante instrumento de mobilizagao ideoldgica - a
producao de lealdade e obediéncia patristicas”.
A cultura, cada vez mais homogeneizada, resulta de um
certo hibridismo cultural da sociedade global, capaz de
agir com a mesma intensidade e forca de comando em
sociedades t&o distintas quanto o Brasil e o Iraque, por
exemplo. Nesse ambiente global, a questéo da identidade
assume outras caracteristicas.
2 COELHO, Teixeira. Diciomiriv Critico de Politica Cultural
5 Comunidade ~ a busca por seguranga no mundo atual. Jorge Zahar Editor, 2001.
O poder da sociedade
Para Bauman, o aumento da rede de dependéncias
adquire com rapidez um dmbito mundial, gerando de-
senvolvimento desigual da economia, da politica e da
cultura. “O poder, enquanto incorporado na circulagéo
mundial do capital e da informaco, torna-se extraterrito-
rial, enquanto as instituigdes politicas existentes perma-
necem, como antes, locais. Isso leva inevitavelmente ao
enfraquecimento do Estado-nacao”. Como consequéncia
disso, “os governos dos Estados tém de abrir mao do con-
trole dos processos econémicos € culturais, € entrega-los
as ‘forgas do mercado”.
No plano individual, identidade € condicéo de cidada-
nia, de conquista de direitos e ciéncia de deveres. E se a so-
ciedade Ihe garante acesso aos contetidos diversos e liber-
dade de expressao, pode significar a construgdo da propria
subjetividade, por meio do reconhecimento e valorizagao
dos fatores constitutivos da sua heranca cultural, assim
como a possibilidade de identificagao com outras culturas
e modos de vida.
Por outro lado, a globalizacdo deveria potencializar 0
processo de construgao € consolidagéo de uma identi-
dade propria, legitimada por escolhas e vinculos de he-
ranca. Isso se for garantido ao cidaddo o acesso irrestrito
e¢ nao mediado por mecanismos de dominio e controle,
a contetidos de todas as culturas. Em didlogo e contra-
posicgdo com os seus proprios referenciais, 0 individuo
exerce de maneira mais clara e rica a construcdo e 0
exercicio da sua subjetividade. Mas como conseguir isso
nos dias de hoje?
Talvez o antropdlogo italiano Massimo Canevacci nos
traga alguma pista, ao decretar “a emergéncia de uma nova
subjetividade que deve ser favorecida e sustentada devido
a sua enorme potencialidade da autorrepresenta¢ao”.
35,
36
Refundando mitos
“A autoridade do antropdlogo estava em crise’, de-
clara Canevacci diante de sua surpresa ao se deparar
com a presenca marcante de grupos indigenas Bororo e
Xavante, no Mato Grosso, registrando com caémeras de
video os préprios rituais. A questaéo da autorrepresen-
tacdo aplicada as dinémicas culturais globais surge, no
contexto aqui relatado, de modo emblematico na re-
flexdo do pesquisador. O antropdélogo constrdi, a partir
dessa constatacdo, sua incursdo tedrica em torno da im-
portancia da autorrepresentacéo para o fortalecimento
das culturas locais.
Marilena Chauf j4 apontava, ao formular o programa
de Cidadania Cultural, para a necessidade, como ponto de
partida, de desconstrucaéo do mito fundador, o que signi-
fica, no caso do Brasil, reprogramar toda a nossa mem6-
ria afetiva em relacéo 4 presenca de indios, portugueses
e africanos no pais. Isso permitiria a formulacéo de uma
nova mitologia baseada no didlogo dessas trés matrizes,
e de outras que mais tarde compuseram nossa ancestra-
lidade. Essa renovada concepcéo poderia contrapor-se a
uma memoria construfda como projeto de poder da coroa
portuguesa e depois reapropriada pelos diversos interesses
politico-econémicos que a sucederam.
Se uma cultura, como construcéo simbdlica, pode ser
tecida autonomamente, sem o olhar contaminado pela tra-
ducdo e mediacao de instituicdes, meios de comunicacao e
governos, podera sé-la de forma mais rica e legitima, pois
utilizara, para isso, referenciais, mitos e meméria afetiva
proprios. O acesso as tecnologias digitais suprime definiti-
vamente essas mediacées, segundo Canevacci.
Experiéncias nos processos educativos tém demonstra-
do a alfabetizacdo audiovisual como uma forma potente
de desvendar os mecanismos de controle por tras dos pro-
cessos de construcdo e edicdo de imagens, permitindo ao
O poder da sociedade
sujeito uma maior capacidade de desvendar o manejo do
simbolico nos sistemas de mediacao tradicionais.
Esse processo se dé de maneira mais ampla nas socieda-
des contemporaneas, com a apropriacéo dos processos de
producio das industrias culturais como um todo e nao so-
mente na questao audiovisual. Ja é possivel, por esses meios,
interferir nas dinamicas de producao e distribuicao, alteran-
do a rota e os habitos de consumo em diversas situacoes.
Este é 0 caso, por exemplo, do fenémeno brega-music
no Para. Com acesso aos meios de producao e industriali-
zacao de CDs, devido ao fim da fronteira tecnoldgica, ar-
tistas e produtores aliaram-se aos vendedores ambulantes
para criar uma nova dinamica de mercado, que permite o
acesso popular 4 sua propria expressao, de maneira mais
rapida, barata e direta, furando o bloqueio dos meios de
difusdo e distribuicéo, dominados por grandes corpora-
des multinacionais e seus interesses politico-econémicos.
A disseminacao de experiéncias como essa pelo Brasil,
por meio de redes de producio e distribuicao, sobretudo
fonografica e audiovisual, ja é realidade, comprovando a
necessidade de reinvencdo das dinamicas de mercado e a
necessidade de ocupacdo de novos espacos para 0 escoa-
mento dessa rica produgao, em pleno processo de ebuligao.
Uma caracteristica marcante desse fendmeno € a arti-
culacdo entre movimentos sociais € de mercado, abolindo
completamente a possivel dicotomia entre essas duas ins-
tancias, com légicas e rel6gios muitas vezes antagénicos.
As redes socioculturais tornam possivel esse tipo de convi-
véncia, talvez por uma espécie de sincretismo presente nas
mais diversas instancias.
37
38
A democracia radical das redes socioculturais
A formacao de redes socioculturais demonstra ser um
caminho inteligente para a conquista da cidadania cultu-
ral, Essas redes caracterizam-se por propiciar um ambiente
de discussdo e de participagaéo baseados na autonomia e na
integridade de seus membros. Todos partilham ambientes
livres e rizomaticos, dificultando 0 estabelecimento de sis-
temas de poder, controle e dominio centralizados sobre os
contetidos e trocas.
A apropriacao coletiva e a construgao colaborativa de
conhecimento sao caracteristicas marcantes dessas redes,
formadas a partir da identificacdéo de seus agentes com os
temas, oferecendo possibilidades de troca e didlogo pelas
vias tradicionais, mas, sobretudo, a partir de ferramentas
digitais e a Internet.
Uma nova possibilidade de democracia radical e direta
forma-se nesse momento na web, por meio de blogs, me-
canismos de rede, sistemas de troca de contetidos culturais,
permitindo o remix e novas formas de expresso, interagdo
e participacdo politica. Um movimento espontaneo da so-
ciedade que evidencia a demanda por Cidadania Cultural.
Misturas organicas
Mesmo apés 0 fim da escravidao e o Estado laico-repu-
blicano, o negro vivia - e vive de certa forma até hoje — sob
a condicdo tacita de comungar do credo catélico. E apren-
deu, assim como todo brasileiro mesticgo, a acender uma
vela para o santo e outra para 0 orixd. Ou ainda, no sin-
cretismo mais classico, a acender uma tinica vela para um
santo-orixd, com caracteristicas préprias de duas matrizes,
com légicas e dindmicas completamente diversas, quando
nao antag6nicas entre si.
Essa capacidade propria do brasileiro, mas também pre-
sente em outras sociedades, é um poderoso antidoto con-
O poder da sociedade
tra os efeitos malignos da globalizacgao. A capacidade de
absorcdo e re-processamento de praticas, modos e crengas
permite, por um lado, o esvaziamento das barreiras inter-
nas contra o avango da camaleénica cultura do consumo,
e, de outro, a possibilidade de avanco € didlogo com as
outras formas de interacdo, convivéncia e expressdéo pre-
sentes na arena global. O que pode significar a abertura de
mercados para as industrias culturais brasileiras.
Celebrar o sincretismo e a mesticagem como um trago
inerente e potencializador da cultura brasileira é questéo
de preservacdo e promocao da memiéria e das tradicoes.
Um exemplo recente disso é 0 movimento Mangue-beat
em Pernambuco. Ferozmente combatido pelos defensores
da cultura tradicional e do maracatu, pois buscava ele-
mentos de raiz para dialogar com 0 pop € com a industria
cultural, 0 movimento s6 fez valorizar as tradicdes e as
comunidades que praticam o maracatu rural, colocando,
por exemplo, a cidade de Nazaré da Mata (PE) no mapa da
musica contemporanea universal.
Tropicdlia, bossa-nova e muitos outros movimentos
culturais brasileiros nascidos na industria do entreteni-
mento, partem desse jeito brasileiro de ativar € dialogar
com 0 outro, a partir da valorizagao do seu préprio refe-
rencial simbédlico.
Mas como permitir o desenvolvimento artistico € 0 aces-
s0 a esses mercados a uma camada da populacao distante
do Estado e dos meios de comunicacao? O do-in antropolé—
gico proposto por Gilberto Gil talvez seja um caminho.
Cultura viva
Reconhecer e valorizar as diversas formas de manifesta-
cdo cultural do Brasil. Essa é a fungao da proposta apresen-
tada por Gilberto Gil em seu discurso de posse, em 2003,
como titular da pasta da Cultura. Por analogia 4 tradicéo
milenar chinesa, que reconhece e massageia pontos ener-
39
40
géticos em beneficio do bem estar do corpo e da mente, o
ministro cunhou uma traducéo que representa a comple-
xidade da funco politica da cultura.
Fortemente inspirado nas proposigées de Marilena Chaui
e nos recém-publicados documentos da UNESCO, sobretu-
do sobre diversidade cultural e patriménio imaterial, 0 do-in
antropoldgico consiste em universalizar os servicos culturais,
com a presenca de centros culturais, bibliotecas e telecen-
tros em todo o pais, a comegar pelas regiées mais pobres e
distantes; valorizar e dar autonomia para as diversas formas
de manifestagao cultural existentes no pais, ndo somente as
institucionalizadas e consagradas pela elite e a industria cul-
tural; buscar novas possibilidades de interlocugao e didlogo
com outras instancias da sociedade, por meio de insercéo
econémica e desenvolvimento local.
O do-in antropolégico prepara ambientes favoraveis a in-
teracdo de agentes culturais; o fomento 4 pesquisa e aos
processos criativos; a atuacéo e a viabilizagéo das expres-
s6es culturais, sua difusao, acesso, participacao e articulacéo
entre todas as esferas da sociedade. Esse conjunto de fatores
busca gerar um circulo virtuoso que garanta o envolvimento
ea participacdo de toda a populacao nessa dindmica.
Para realizar essas agGes, 0 ministro modificou a es-
trutura do seu cabedal administrativo, criando secretarias
para desenvolver politicas, programas e articulacao, além
de valorizar o patriménio, 0 audiovisual e a diversidade.
O programa Cultura Viva, desenvolvido nesse contex-
to, visa formar uma rede nacional dessas iniciativas, e é,
sem dtivida, a sua melhor tradugaéo programatica, embora
também esteja presente em editais e prémios de valoriza-
cdo de mestres de cultura popular e de manifestagGes cul-
turais de pouca projecaéo na cultura institucionalizada.
Como responsabilidade de cada cidadao em relacao a cul-
tura, o do-in antropolégico pode ir muito além. A localizagéo
desses pontos de convergéncia, miscigenacao e transmutagaéo
de realidades é fruto néo somente da presenga do Estado.
O poder da sociedade
Deve ser um desafio compartilhado por toda a socieda-
de em preservar e promover a Diversidade Cultural.
|
Pluralidade
A recém-promulgada Convengéo a a protecdo e a
promogio da diversidade das express6es culturais no am-
bito da UNESCO € a consolidacio de uma luta histérica
contra a homogeneizacao cultural promovida por um oli-
gop6lio formado por esttidios de Hollywood e seus gru-
pos empresariais, que reinem conglomerados de midia e
fabricantes de equipamentos eletrénicos. Financiados por
outros cartéis, como a industria financeira, tabagista e al-
cooleira, essa cultura de consumo favorece setores, sobre-
tudo o mercado do luxo e da celebridade.
Encampado por organizac6es socioculturais, produto-
res independentes organizados em coalizGes e redes por
todo mundo, o movimento encontrou abrigo em paises
como a Franca, Canadé, Suécia e Brasil, que sentem os
efeitos do estrangulamento cada vez mais visivel de suas
culturas locais, com 0 dominio dos meios de comunica-—
cao e difusdo cultural nas mdos desses conglomerados
multinacionais.
A Convencio consolida outras pautas urgentes das socie-
dades contempordneas, como a cultura de paz ¢ 0 respeito
das diferencas culturais, a sobrevivéncia das culturas autéc-
tones, suas formas de vida, fazeres, economias e linguas, em
oposicéo a um projeto global unico, que pretende incluir
todos os habitantes economicamente ativos do planeta, com
metas de crescimento cada vez mais elevadas.
Nesse cenério, torna-se urgente a composicéo de um
cenario positivo e fértil para tratar do assunto, como uma
das grandes pautas sociais do novo milénio, oferecendo
subsidios concretos para apropriacéo de um glossdrio
fundamental para a construcao e consolidagdo de demo-
cracias multiculturais. \
4
42
Seu valor simbélico no ambito da UNESCO pode ser
medido pela votacao para a promulgacao da Convencio,
em 2005. Com 151 votos a favor e apenas 2 contra (Estados
Unidos e¢ Israel), associou-se de maneira definitiva como
peca de resisténcia ao imperialismo norte-americano e sua
irresponsabilidade bélica e midiatica.
O documento passou a ser utilizado pelos diversos or-
ganismos e segmentos em busca de maior equidade nas
trocas internacionais, assim como nos paises~-membros,
que ratificaram a Convencao em sua legislagao interna. O
Brasil o fez em dezembro de 2006.
Isso significa um compromisso do pais com o estabeleci-
mento de politicas concretas de preservacio e promogao da
diversidade. Traduzido para as politicas internas pelo entao
Ministro da Cultura, Gilberto Gil, como do-in antropolégico,
essas politicas visavam massagear as dindmicas culturais ja
existentes por todos os pontos de ressonancia do pais.
Para efetivar uma plataforma publica, abrangente e
democratica, € preciso praticar o do-in antropoldgico, au-
to-massageando 0 corpo cultural, celebrar a diversidade,
Promover o sincretismo, estimular a auto-representacao,
valorizar as identidades, participar da Cidadania Cultural e
garantir os direitos culturais a todos os cidadaos.
Nao podemos, no entanto, enxergar como uma receita
fechada, mas consideré-la uma sistematizacdo prdtica de
elementos emergentes da nossa realidade cultural. Como
um plano propositivo para visualizarmos novos efeitos de
mundo, baseados em resultados consistentes € processos
enriquecedores para a sociedade brasileira.
“O Estado nao deve deixar de agir. Nao deve
optar pela omiss&o. N&o deve atirar fora
de seus ombros a responsabilidade pela
formulagdo e execugao de politicas publicas.”
(Gilberto Gil)
Capitulo Ill
Cultura a servicgo do
imagindario brasileiro
(O poder do Estado)
O poder do Estado
Estado e Cultura: uma relagao delicada
No Brasil, a relacdo entre Estado e Cultura pode ser
identificada a partir de diversas intervencdes elaboradas
por drgéos governamentais em diferentes contextos so-
ciais, politicos e econémicos. Mesmo sem uma intengdo
propriamente voltada para a construgao € © exercicio de
uma cultura complexa e diversa, utilizam-se historicamen-
te mecanismos “oficiais € oficiosos” como forma de estabe-
lecer ou impor uma dinamica cultural para a sociedade.
A partir do estdgio evolutivo das politicas publicas é
possfvel identificar e classificar os diversos tipos de rela-
cionamentos do Estado com a cultura no Brasil. Para Mari-
lena Chauf (1994)!, sdo quatro as principais modalidades:
- A liberal, que identifica cultura e belas-artes, estas
Uiltimas consideradas a partir da diferenca classica
entre artes liberais e servis. Na qualidade de artes
liberais, as belas-artes so vistas como privilégio de
uma elite escolarizada e consumidora de produtos
culturais.
- A do Estado autoritdrio, na qual o Estado se
apresenta como produtor oficial de cultura e censor
da producio cultural da sociedade civil.
- A populista, que manipula uma abstragao gene-
ricamente denominada cultura popular, entendida
como producao cultural do povo e identificada com
© pequeno artesanato € 0 folclore, isto é, com a ver-
so popular das belas-artes e da industria cultural.
~ A neoliberal, que identifica cultura e evento de
massa, consagra todas as manifestacdes do narcisis-
mo desenvolvidas pela mass media, e tende a priva-
tizar as instituigdes publicas de cultura deixando-as
sob a responsabilidade de empresarios culturais.
1 CHAUL, Marilena. Cidadania Cultural
47
48
Do lado dos produtores e agentes culturais, segundo
Chauf “o modo tradicional de relacéo com os érgaos pu-
blicos de cultura é 0 clientelismo individual ou das corpo-
racées artisticas que encaram o Estado sob a perspectiva
do grande balcdo de subsidios e patrocinios financeiros’.
Para compreender melhor como essas dindmicas foram
estabelecidas, co-habitando o nosso sistema de governancga
publica, tentaremos pontuar épocas, contextos historicos e
agdes governamentais na area da cultura, sobretudo a par-
tir da criacdo de organismos e instituicdes. Além de revelar
os paradigmas e intencionalidades por tras das acoes, bus-
caremos propor maneiras contemporaneas de lidar com
esses importantes legados.
O império e a miss&o civilizatoria
Desde o momento em que os portugueses chegaram ao Bra-
sil foram registradas diferentes caracteristicas no modo de vida
e dos costumes dos indigenas que aqui viviam. Individuos que
logo foram alvos do processo de aculturacaéo forcada, como em
todo o periodo da colonizagao européia na América.
A ocupacao portuguesa se baseou num processo de im-
bricamento de diferentes manifestagées culturais, marca-
das também por formas diferenciadas de organizacéo so-
cial. Diferencas que ao longo do tempo acabaram gerando
na sociedade constantes manifestagdes de contestagdo ao
modelo colonizador, aumentando a preocupacéo das go-
vernancas portuguesas com o “descontrole” e com a “falta
de civilidade” dos dominados.
A auséncia de mecanismos de forma¢éo para a popu-
lagdo naquele momento era um atrativo para a coroa, jé
que, como explica Souza (2000), “sem massa critica in-
telectual, uma colénia jamais se transforma em pais’. A
educacao se limitava as familias que reuniam condicées
de mandar seus filhos para estudar na capital da colénia,
mas que, ao retornar, deparavam-se novamente com a
O poder do Estado
precariedade e a miséria cultural, intelectual e tecnoldgica
da col6nia portuguesa.
Essa precariedade também pode ser entendida como
responsavel pelas primeiras a¢oes no campo da cultura no
Brasil, o que viria ocorrer aps a chegada de Dom Joao Vie
a corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Segundo Souza, com
a extrema falta de infra-estrutura, entre os anos de 1808
e 1819, a coroa tentou “introduzir algum conhecimento
técnico que lhe permitisse um certo conforto”. Naquele
instante, precisava criar mecanismos de desenvolvimento
cientifico e intelectual, como forma de amenizar a miséria,
causada por ela mesma, e as desvantagens de estar longe
da “civilizagdo”. Entretanto, também era necessdrio criar
mecanismos de manutengio da “superioridade coloniza-
dora’, restringindo cultura e educacéo somente a elite.
A criacao da Biblioteca Nacional, da Escola Real de Ci-
éncias, Artes e Oficios e do acervo do Museu Nacional de
Belas Artes sao acdes implementadas pela coroa para ame-
nizar a distancia da “civilizagdo” e a convivéncia com os
“iletrados”. O museu teve origem no conjunto de obras de
arte trazido por D. Jodo VI de Portugal em 1808, ampliado
alguns anos mais tarde com a colecéo reunida por Joachin
Lebreton, um dos representantes da “Missao Francesa’, que
trouxe ao pais uma série de artistas do velho continente.
O acervo original contou com importantes incorporagoes
ao longo do século XIX e inicio do século XX. Com a cons-
trucdo da nova sede da Escola Nacional de Belas Artes, em
1908, que teve projeto elaborado pelo arquiteto Moralles de
los Rios, 0 acervo passou a ocupar parte do novo prédio, sen-
do 0 Museu criado oficialmente em 13 de janeiro de 1937.
Em relacio 4 Academia Imperial de Belas Artes, como a
instituigdo foi chamada no inicio, o pesquisador Tadeu Chiar-
relli entende que “o partido estético adotado pela Academia,
os vinculos com o classicismo e a experiéncia artistica e cul-
tural de seus integrantes estardo diretamente imbricados com
0 problema da construgao da civilizagéo no Brasil da primeira
49
50
metade do século XIX” Para o autor, a institucionalizacéo do
Estado auténomo compreendia, na contrapartida da afirma-
Gao politica, uma espécie de missao civilizatoria.
Apesar da grande e inquestionavel importancia de
tais instituigdes para a identificagéo dos primeiros pas-
sos do trabalho cultural no Brasil, vale observar certo
viés nas informacées historiograficas, que nao levam em
conta as condicdes materiais e concretas por tras desse
“proceso civilizatério”. A exaltacdo da “boa vontade" das
elites “preocupadas” em formar uma nacéo brasileira é
um fator até hoje preponderante no pais. Deve-se ainda
ressaltar que essas “benesses” foram forjadas unicamente
para manter o padrao e o poder de conhecimento sobre
os “colonos”.
Com efeito, a “Missao Francesa” iniciou oficialmente o
ensino artistico no Brasil, uma estrutura cultural que per-
durou até a Semana de Arte Moderna de 1922. O trabalho
cultural se caracterizou pelo “rompimento” com o passado
colonial através da vinda ao pais de nomes como Debret, os
irmdos Taunay e Carlos Pradie, entre outros. Também ficou
marcado pela a inovaco estética trazida por esses artistas,
registrada a partir da primeira exposicao de artes plasticas
ocorrida durante o periodo imperial no Brasil, em 1829.
O trabalho artistico brasileiro ficou impregnado, segun-
do Souza (2000) pela “preocupagdo com a técnica, [além de
configurar] uma longa linhagem de artistas plasticos, todos
ex-alunos da Academia e com viagens de estudo 4 Europa,
patrocinados pelo governo” O perfodo também marcou 0 flo-
rescimento da musica, que durante a década de 1830 comecou
a dar os primeiros passos, através da formagao de uma Filar-
ménica em 1841 e da Opera Nacional em 1857, apresentando
0 “clima vibrante de uma cidade onde as platéias podiam ou-
vir 6peras estrangeiras cantadas na lingua do pais”.
O fomento de artistas locais também foi uma caracteris-
tica do Império, como jé abordamos aqui. Por meio de bol-
sas de estudo para fora do pais e concesséo de empregos
O poder do Estado
ptiblicos, o Estado promoveu as artes e a cultura, inclusive
apés a Independéncia. Um exemplo foram dos composito-
res Carlos Gomes, enviado para a Europa, e 0 padre José
Mauricio, financiado pela coroa, além do escritor Machado
de Assis, premiado com emprego ptiblico.
Mas nem todas as express6es artisticas eram incentivadas,
ou mesmo aceitas. O érgao estatal responsdvel pelo traba-
Iho teatral no Rio de Janeiro era o Conservatério Dramatico
Nacional, cujas atribuigdes também inclufam impedir a rea-
lizacdo de diversas pecas. Tanto o cinema quanto a foto-
grafia sofriam com a falta de atencao, visto que nao eram
entendidas como forma de manifestacao artistica durante 0
Império, mesmo sendo, este, interessado pelas tecnologias.
A fotografia, segundo Chiarelli (2005), era restrita, no pe-
riodo, apenas como um apéndice da pintura. Talvez esse
fato explique o aparecimento, em 2006, de 1500 fotos iné-
ditas guardadas por filhos e netos da princesa Isabel em
um bati de ferro na casa de uma descendente direta da
princesa, na Europa’
O relacionamento entre Estado € o trabalho artistico no
século XIX também se caracterizou pelo inicio da forma-
cdo de uma “identidade nacional brasileira’, que passou a
fazer parte das tematicas das expressdes culturais e artisti-
cas, mesmo que essas ainda dependessem de referenciais
europeus, sobretudo da cultura francesa.
O cenario cultural brasileiro no inicio do século XX ain-
da estava marcado pela forte influéncia européia, sobretudo
francesa. Esse modelo artistico, absorvido pelas elites por-
tuguesas, acabou por influenciar também 0 gosto das elites
que se formavam no pais. Essa emergente classe abastada
consumia, sem a menor pretensdo de originalidade, os es-
petaculos teatrais, saldes de cinema, concertos e recitais, ou
seja, tudo o que era aceito criticamente pela “civilizagao"
européia. Por outro lado, as manifestagdes culturais das
camadas mais pobres, excluidas pela economia nacional,
2. CE Jomal Estado de. Paulo, Caderno 2, 18 de setembro de 2008.
51
52
eram entendidas como expressées inferiores, sem qualquer
valor para as elites nacionais.
Também reflexo do século anterior, em que a educagéo
de qualidade era privilégio daqueles que tinham condigGées
de estudar em Portugal, a producao intelectual da época
se valia das reprodugGes dos valores da cultura européia.
Assim, de maneira a interromper essa pratica, surgiram di-
versos escritores que realizavam seus trabalhos voltados,
principalmente, para uma visdo mais critica da realidade
brasileira daquele momento. Esses trabalhos tinham como
proposta questionar as causas e as condicdes dos proble-
mas sociais, econémicos, politicos e culturais no Brasil.
Dentre esses autores, podemos destacar Euclides da Cunha,
Lima Barreto e Monteiro Lobato. Mesmo sem estar inteira-
mente associados as correntes literdrias do século XIX, esses
literatos apresentaram temas aproveitados mais tarde pelas
perspectivas de rompimento da intelectualidade modernis-
ta com os tracos culturais que marcaram o século XIX.
Essa preocupacaéo foi um dos pontos que marcaram
a ruptura dos modernistas: o sentimento “nativista” que
comegava a despertar nesses artistas, esbocava caracte-
risticas nacionais em seus trabalhos. Esse traco, segun-
do Amaral (1998), destoava dos “académicos” da Escola
Imperial e Nacional de Belas Artes, com seus trabalhos
voltados, em sua maior parte, “ao mundo governista, por
meio de encomendismo, arte histérica e comemorativa,
retratos oficias etc’.
Vargas e a construgao da identidade brasileira
A situacao cultural sofreria mudangas somente apéds a
revolucao de 1930, a partir do governo Getuilio Vargas. Ca-
racterizado por colocar nas maos do Estado diversas res-
ponsabilidades que até entaéo eram isentas dos interesses
federais, Vargas percebeu as vantagens de usar a cultura
como plataforma politica.
a
O poder do Estado
Os primeiros passos de Vargas nessa drea foram no sentido
de construir instrumentos institucionais voltados para 0 de-
senvolvimento da cultura nacional, a saber, o fortalecimento
de industrias culturais, como a cinematografica, a radiof6nica,
a editorial e a jornalistica, além do surgimento das primeiras
universidades, fator que, segundo Barbalho (2007), permitiu
alguma independéncia aos nossos produtores simbélicos.
Diversas iniciativas institucionais marcaram a atuacéo
do governo Vargas na cultura, como o Servico do Patrimé-
nio Histérico e Artistico Nacional (SPHAN). Segundo Cala-
bre (2007), essa preocupagao, desde a década de 1920, era
levantada pelos modernistas, principalmente em relagao as
cidades histéricas de Minas Gerais.
A criacdo do Servico Nacional do Teatro (SNT), do Ser-
vico de Radiodifuséo Educativa, da Casa Ruy Barbosa, do
Museu Histérico Nacional, de diversas universidades, co-
légios e Liceus federais, do Instituto Nacional de Cinema
Educativo (INCE) e do Instituto Nacional do Livro (INL),
além da efetivagio do Museu de Belas Artes, sdo outras
iniciativas tomadas pelo governo Vargas.
Em julho de 1938, foi criado o primeiro Conselho Nacional
de Cultura. Todos esses érgdos, segundo Miceli (1984), estavam
ligados a vertente cultural do Ministério da Educacao e Satide
Publica, criado em 1930, tendo sua denominago alterada, em
1953, para Ministério da Educacao e Cultura (MEC). Essa es-
truturacdo, segundo Falcdo (1984), fazia parte das pretensGes
do governo em se inserir estrategicamente “no processo de
legalizacio, institucionalizacao e sistematizacdo da presenga
do Estado na vida politica e cultural do pais”
Fatores econémicos e sociais - como a substituigao do
ciclo rural e oligdrquico pelo ciclo urbano industrial e o
consequente crescimento da sociedade — foram caracteris-
ticas que influenciaram fortemente a politica de cultura da
€poca. Com o constante crescimento da massa de trabalha-
dores que comecava a ocupar as cidades, surgiu também
a necessidade de se estabelecer critérios para controlar sua
53
54
insercao na participacdo dos processos politicos do Estado e
da sociedade. Com a criagéo de uma série de novas institui-
c6es culturais ¢ através do apoio a artistas e profissionais da
area cultural, o Estado ampliou suas atividades nesse campo.
A estratégia de fortalecimento institucional na drea da
cultura abriu espacos no governo para uma maior atuacdo
de variados produtores culturais. Atrair intelectuais e artis-
tas renomados para viabilizar 0 projeto politico governista
se mostrou uma ideia bem sucedida, principalmente por se
tratar de um momento de forte efervescéncia cultural.
Artistas e intelectuais estabeleciam um trabalho arraigado
em propostas de “redescobrir o Brasil”. Exemplos caracteris-
ticos do movimento modernista na pintura e na literatura,
ou mesmo encontrados em trabalhos intelectuais nacionais
como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Caio Pra-
do, entre outros, que colocaram-se a buscar uma interpreta-
Gao acerca da realidade brasileira, amparados em tematicas
sociais. A estratégia do governo de aproximacado com a in-
telectualidade e com artistas integrados 4 questéo nacional
foi elaborada, também, na tentativa de inserir a participagao
desses nos diversos 6rgdos criados pelo governo.
O dirigismo ideoldgico do governo fez com que, em 1930,
0 arquiteto Lticio Costa fosse indicado para encabegar a Es-
cola Nacional de Belas Artes. Em 1931, Manuel Bandeira foi
convidado para participar da direcdo do Salao Nacional de
Belas Artes, Em 1932, 0 escritor José Américo de Almeida
assumiu a pasta da Viacéo e Obras Publicas. Gustavo Capa-
nema foi nomeado, em 1934, ministro da Educagao e Satide
Publica, convidando o poeta Carlos Drummond de An-
drade para chefiar seu gabinete, e Rodrigo Melo Franco de
Andrade, para ser o responsdvel pela direcao do Servico do
Patrimonio Historico e Artistico Nacional. O érgdo contou,
ainda, com Mario de Andrade para elaborar e implementar
uma politica de preservacdo.
A “cultura popular nacional” e suas dimensoes afro-brasi-
leira, indigena, da cidade e do campo passou a ser valorizada
O poder do Estado
nas mdos desses intelectuais e artistas de expresséo nacional
e internacional, nas pretensdes ideoldgicas do Estado.
A valorizacdo do trabalhador acabou por influen-
ciar a acdo do Estado na rea cultural, inclusive a de
origem popular, que ganha status de cultura nacio-
nal. Assim, o regime de Vargas se utilizou dos meios
de expresso tradicional, como o samba e 0 carnaval,
para, através deles, reproduzir determinada imagem
do povo brasileiro propicia aos seus interesses de
modernizaco do capitalismo no pais. Manipulando
os simbolos populares, o Estado os transformava em
nacionais e, depois, em elementos tipicos da nova
brasilidade. A transformacao do popular em nacio-
nal e, deste, em tipico corresponde a um movimento
ideolégico, denominado por Marilena Chaui (1986)
de mitologia verde-amarela, elaborada e aplicada
ao longo da histdria brasileira. Inicialmente serviu
as classes dominantes agrarias como auto-imagem
celebrativa do Ser nacional, cordial e pacifico. Num
segundo momento, o mito incorporou as classes do-
minantes urbanas com a idéia do Desenvolvimen-
tismo. Estas duas vertentes se unem para oferecer
a sociedade uma mitologia em que € conservado o
passado bondoso e prometido o futuro grandioso. A
mitologia verde-amarela transveste-se em palavras
de ordem adequadas a cada contexto histérico. No
Estado Novo, por exemplo, era Construir a Nacao,
permitindo ao Estado intervir na cultura como ele-
mento dessa construcéo.*
Segundo Olivien (1984), o Estado interferiu nas produ-
cées culturais “proibindo e censurando aquilo que [eral
visto como prejudicial 4 imagem ‘séria’ do Brasil, mas, em
3 BARBALHO, Alexandre. “Estado autoritério brasileiro ¢ cultura nacional: entre a
tradicdo ¢ a modernidade” In: Revista da associagto psicanalitica de Porto Ategre. 2000, p.
75-74
55
56
contrapartida, [atuou] promovendo a imagem sui generis de
nossa cultura” O Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), responsavel pela estratégia e direcionamento da poli-
tica cultural do governo Vargas, tinha como proposta criar
uma espécie de sentimento de exaltagao das qualidades do
povo brasileiro. Por isso, interferiu e censurou, por exemplo,
a formulagao simbélica que aludia a certa “malandragem”
Presente na musica popular, manipulando sua ideologia
para a valorizacao do trabalho, elemento “necessdrio” para
estimular e disciplinar a massa trabalhadora assalariada.
Outros destaques ainda merecem atencio no projeto
cultural do governo Vargas. Entre eles esta a regulamen-
tacao do sistema de radiodifusao, instituido em 1932 para
controlar questées relacionadas a veiculagao de publicida-
de, com direito a 10% da programacao didria. Programas
governamentais eram apresentados em rede nacional, com
temas sobre educagao, politica, cultura, sociedade, religiao,
economia, entre outros. Durante a apresentacdo do “Pro-
grama Nacional’, segundo Calabre (2007), era proibida a
apresentacdo de outros programas.
Com uma industria editorial em expansao, outro im-
portante veiculo de comunicacao utilizado como estraté-
gia politica de formagao cultural do governo foi a “Revista
Cultura Politica’, editada a partir de agosto de 1941 por
Almir Andrade. Mesmo sendo utilizada como um meca-
nismo do governo Vargas, a publicacio, seguindo a mes-
ma linha da politica cultural oficial, teve a participagdo do
escritor comunista Graciliano Ramos e do militar marxista
Nelson Werneck Sodré.
Os primeiros passos da industria do consumo
O periodo seguinte, compreendendo o final dos anos
1940 e inicio dos 1950, caracterizou-se pelo aumento dos
investimentos no setor cultural realizados por empresé-
rios. Isso ocorreu, pois, na época, o Estado nao atuou na
O poder do Estado
rea de forma significativa, realizando apenas a manuten-
cao de algumas instituigées criadas no periodo anterior e
destinando pequenos subsidios.
Estimulados pelo aumento na década de 1940 do nime-
ro de emissoras de radio e os primeiros investimentos no
setor televisivo brasileiro, juntamente com os crescentes
investimentos para 0 fortalecimento dos meios de comuni-
cacao de massa, ha um crescimento do radio, da televisdo e
do cinema no Brasil. Esse desenvolvimento se acelera, so-
bretudo, a partir do término da Segunda Guerra Mundial,
em 1945, que permitiu a retomada da producao de apare-
Ihos e equipamentos de transmissao em escala mundial.
Os investimentos que possibilitaram o fortalecimento
do sistema de comunicagaéo em massa no Brasil séo carac-
teristicos do momento de “bipolarizacéo” mundial durante
a guerra fria. Como forma de estabelecer sua influéncia, os
Estados Unidos utilizaram estratégias politicas de relacio-
namento para estabelecer parcerias com diversos paises.
Para tal, aplicaram recursos financeiros, que estimulavam
a abertura dos mercados nacionais para entrada de produ-
tos industriais e culturais daquele pais. O personagem Zé
Carioca, criado por Walt Disney para representar a alianga
entre os dois paises, foi fruto daquele momento.
Essa configuragéo econémica mundial permitiu o au-
mento dos investimentos estrangeiros no Brasil, estimulan-
do a diversificagdo da atividade industrial e 0 consequente
aumento da producdo de bens de consumo.
Os meios de comunicacéo de massa viveram sua época
de ouro, com o surgimento de programas de auditério e
telenovelas. Impulsionados pelo fortalecimento da publi-
cidade no pais, esse sistema acabou por consolidar uma
cultura de consumo, sobretudo nos grandes centros.
Mesmo tendo sido o Brasil o primeiro pais da América
do Sul a instituir o sistema televisivo na década de 1950,
segundo Ortiz (2001), devido aos fortes investimentos de
Assis Chateaubriand, o instrumento nao se enquadrou na
57
58
légica do mercado daquele momento, embora atingisse
cerca de 18 mil aparelhos no periodo. Nas décadas seguin-
tes, com o aumento da producao dos bens de consumo,
da propaganda, de investimentos em programas como
novelas e com apoio “indireto” do governo, interessados
na propaganda politica e, mais uma vez, na formatacdo
de uma identidade nacional, a televisdo se fortaleceu e
alcangou indices que influenciaram até mesmo o sistema
econémico brasileiro.
O golpe militar e a politica de integragao
nacional
A cultura sé foi assumida novamente pelo Estado em
1961, na répida passagem do presidente Janio Quadros,
que reativou o Conselho Nacional de Cultura. Compos-
to por representantes do setor artistico e de érgdos go-
vernamentais, o CNC tinha como proposta a formula-
cdo de um Plano Nacional de Cultura. Entretanto, com
a rentincia do presidente e as mudangas politicas que
ocorreram no pais em 1962, 0 érgdo ficou novamente
subordinado ao MEC.
O governo Castelo Branco criou uma comissdo desti-
nada a apresentar sugest6es para a reformulacao cultural
do pais. Essa comisséo recomendou a criacdo do Conselho
Federal de Cultura (CFC). O CFC, ligado ao Ministério de
Educacao e Cultura (MEC) foi criado pelo Decreto-Lei n° 74,
de 21 de novembro de 1966, e instalado a partir do Decreto
n° 60.237, de 27 de fevereiro de 1967.
O 6rgao ficou responsdvel pelas formulacdes de po-
liticas culturais e, futuramente, deveria apresentar pro-
jetos para a criagdo de um Plano Nacional de Cultura. O
CFC também apresentou propostas de criacdo de érgaos
e conselhos de cultura estaduais, buscando a ampliacéo
desse trabalho para os municipios. O Conselho Federal
de Cultura deveria atender as peculiaridades regionais,
O poder do Estado
sem prejuizo em ser o orgdo governamental destinado a
defender, estimular e coordenar, nas suas linhas mestras,
um plano nacional.
Em 1973, durante a gestao de Jarbas Passarinho 4 frente
do MEC, foi criado um documento chamado Diretrizes para
uma Politica Nacional de Cultura, que previa a “necessidade
de criagdo de um novo organismo ou a adaptacéo de érgéo
ja existente, aumentando-Ihe a hierarquia e a drea de com-
peténcia, assim como poderes de planejamento € execugao,
coordenacio e avaliacao, de forma a obter um conjunto har-
ménico e integrado”. O documento afirmava a necessidade
de uma acdo mais efetiva na area, considerada questéo de
soberania e seguranga nacionais, e indicava a importancia da
criagdo de um Ministério especifico para a Cultura.
Ainda em 1973, surgiu o PAC, Programa de Acdo Cul-
tural, afirmando a necessidade da presenca do Estado no
desenvolvimento da cultura. Segundo Miceli (1984), 0 PAC
nao era apenas uma abertura de crédito financeiro a al-
gumas dreas da producao cultural até entéo desassistidas
pelos 6rgaos oficiais, mas também uma tentativa oficial
de “degelo” em relacdo aos meios artisticos e intelectuais.
A atuacdo do governo em assuntos culturais resultou em
1975 na criagéo da Politica Nacional de Cultura (PNC). O
governo Geisel, que tinha Ney Braga a frente do MEC, con-
cretizou o reconhecimento oficial da necessidade de incluir
a cultura no programa de desenvolvimento e seguranca do
governo militar.
Assim como em outros momentos histéricos, as poli-
ticas nacionais dos militares, implantadas para fortalecer
a cultura brasileira, ndo passavam de sistemas de contro-
le e direcionamento do processo cultural. Seus diversos
mecanismos de atuacdo foram criados para neutralizar
manifestagoes artisticas de forcas consideradas adversé-
rias do governo. O governo lancou mao de censura e in-
tervencdo direta, com o objetivo de assumir o controle e
a direcéo da producdo nacional. As iniciativas da politica
59
60
cultural realizada durante o Regime Militar, segundo
Paixao (2008), “tinham como finalidade, ndo apenas con-
trolar o que deveria ser produzido como cultura oficial,
mas adequar essa politica de desenvolvimento aos no-
vos valores trazidos com as transformacées no mundo
capitalista, na tentativa de inserir o Brasil no circulo dos
paises de primeiro mundo’.
O governo militar criou diversos organismos como o
Conselho Nacional de Cinema (Concine), reformulou a Em-
presa Brasileira de Filmes (Embrafilme), criou a Fundacao
Nacional da Arte (Funarte), reestruturou 0 Servico Nacional
do Teatro (SNT). Em 1973 também foi criado 0 Conselho
Nacional de Direito Autoral (CNDA), além da Campanha
Nacional de Defesa do Folclore Brasileiro, entre outros,
utilizando a estratégia getulista de convidar nomes res-
peitados da cultura nacional para fortalecer e viabilizar o
projeto governista.
A criagéo do Centro Nacional de Referéncia Cultural
(CNRO), em 1975, vinculado ao Ministério da Industria e
Comércio adquiriu, segundo Cury (2002), autonomia no
interior do MEC e ja nasceu com a proposta de separacado
entre educacao e cultura. Seu primeiro trabalho, segundo
Cury (2002), foi tragar um sistema referencial basico para
a descrigéo e andlise da dinamica cultural brasileira, por
meio da “organizagéo de programas que delineassem a
cultura brasileira, tais como mapeamento do artesanato
brasileiro, histéria da ciéncia e tecnologia, os levantamen-
tos de documentacao sobre o pafs e que tornasse visivel
parte da cultura excluida até entao, as chamadas manifes-
tag6es populares”.
A centralizagéo pretendida pela Politica Nacional de
Cultura, além de privilegiar 0 fator mercadolégico, tam-
bém fez o governo atribuir para si a responsabilidade de
julgar as novidades que interessavam ou nao, além de
apontar o que era excessivo e estimular o que julgava ser
de qualidade. Com isso, afirma Paixao (2008), “mesmo que
O poder do Estado
na pratica a PNC tenha favorecido o surgimento de diver-
sos Orgaos e instituicdes, o que permitiu a ‘formacdo de
equipes estaveis de técnicos responsaveis pela elaboracao,
acompanhamento e a avaliacaéo de projetos nos diversos
ramos da producio cultural’ temos de observar em que
sentido esses mecanismos tiveram uma efetiva atuacéo
no setor. Para o autor, esse mesmo governo, “preocupa-
do” com a cultura no pais, censurou e reprimiu violenta-
mente diversos trabalhos artisticos no periodo, além de
prender, torturar e mandar para o exilio diversos artistas,
até mesmo aqueles que nao tinham ligagGes diretas ou
mesmo indiretas com projetos que o questionassem.
Esse mecanismo politico ampliou os investimentos
no setor, o que possibilitou o fortalecimento do merca-
do cultural, estimulando “as transformagées ocorridas
na economia brasileira, paralelamente ao crescimento
do parque industrial e o mercado interno de bens mate-
riais, fatores que possibilitaram o fortalecimento da in-
dustria e do mercado de bens culturais” (Paixo, 2008).
Segundo Kehl (1980), a televiséo assume papel funda-
mental durante a década de 1970, tendo em vista novas
perspectivas de integracéo da sociedade no processo de
desenvolvimento econdmico via consumo. A adaptacdo ao
modelo de desenvolvimento politico e cultural foi carac-
terizada através da perspectiva de participagao oferecida,
principalmente, pois “é preciso educar esse novo mercado
de trabalho e consumo” e assim criar novos habitos para
um “homem novo’.
Para isso, segundo a autora, foram criados diversos ins-
trumentos para facilitar 0 acesso da populagdo ao merca-
do consumidor, 0 que obrigou o governo a tomar diver-
sas iniciativas de liberacao de crédito, apresentadas como
“medidas adotadas visando a implantagéo de um merca-
do de bens duraveis e semiduraveis, acompanhado de um
desenvolvimento espantoso das técnicas de publicidade’.
Fatores que transformaram a televisdo no principal me-
61
You might also like
- Cunha - Projetos CulturaisDocument13 pagesCunha - Projetos CulturaisRafaela Goncalves100% (1)
- Olivieri 2010 Producao Cultural BrasilDocument188 pagesOlivieri 2010 Producao Cultural BrasilRafaela GoncalvesNo ratings yet
- PPTs - Capítulo 2Document38 pagesPPTs - Capítulo 2Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Guia de Leitura Simplificada - Programa Funarte Retomada 2023Document24 pagesGuia de Leitura Simplificada - Programa Funarte Retomada 2023Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Capítulo 23 - Gestão em Longo Prazo de Uma Organização de Marketing HolísticoDocument29 pagesCapítulo 23 - Gestão em Longo Prazo de Uma Organização de Marketing HolísticoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 3 Aula 01 02 2022Document18 pages3 Aula 01 02 2022Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Planejamento Tatico Operacional-2Document22 pagesPlanejamento Tatico Operacional-2Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- CArtilha Canvas DetalhadaDocument25 pagesCArtilha Canvas DetalhadaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Roda Interativa Pace Saúde MentalDocument6 pagesRoda Interativa Pace Saúde MentalRafaela GoncalvesNo ratings yet
- UntitledDocument266 pagesUntitledRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Aula - Trabalho de Campo T.8316Document17 pagesAula - Trabalho de Campo T.8316Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocument125 pagesBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Significado Dos Símbolos Do Fluxograma de ProcessosDocument8 pagesSignificado Dos Símbolos Do Fluxograma de ProcessosRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 4749 Demonstracao Do Resultado Do Exercicio Dre Fernando ApratoDocument143 pages4749 Demonstracao Do Resultado Do Exercicio Dre Fernando ApratoRafaela Goncalves100% (1)
- Segnini 2012 Travalho ArtisticoDocument116 pagesSegnini 2012 Travalho ArtisticoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Leitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1Document344 pagesLeitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Rocha 2013 Magia Do CircoDocument306 pagesRocha 2013 Magia Do CircoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 1669840814234e-Book A Experincia Digital Dos Clientes Dos Bancos No BrasilDocument40 pages1669840814234e-Book A Experincia Digital Dos Clientes Dos Bancos No BrasilRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Manual ABNTDocument62 pagesManual ABNTRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Aula 1 EstrategiaDocument5 pagesAula 1 EstrategiaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Cbc,+IXCongresso Artigo 0332Document18 pagesCbc,+IXCongresso Artigo 0332Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- 30399-Texto Do Artigo-119360-1-10-20190925Document36 pages30399-Texto Do Artigo-119360-1-10-20190925Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- Antropologia - Do - Projeto BordieDocument32 pagesAntropologia - Do - Projeto BordieRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Elali CriatividadeDocument9 pagesElali CriatividadeRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Planejamento Mestre Da ProduçãoDocument35 pagesPlanejamento Mestre Da ProduçãoRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Costa 2015Document10 pagesCosta 2015Rafaela GoncalvesNo ratings yet
- 529 1931 1 PBDocument14 pages529 1931 1 PBRafaela GoncalvesNo ratings yet
- Uma Análise BibliométricaDocument18 pagesUma Análise BibliométricaRafaela GoncalvesNo ratings yet
- 1-PCP - Introdução-SLIDESDocument57 pages1-PCP - Introdução-SLIDESRafaela Goncalves100% (1)
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocument125 pagesBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesNo ratings yet