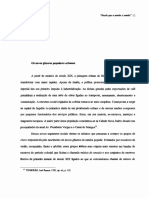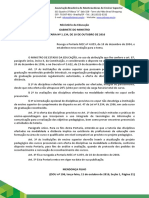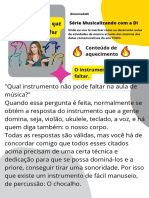Professional Documents
Culture Documents
Vista Do Região, Sertão e Nação - JANAINA AMADO
Vista Do Região, Sertão e Nação - JANAINA AMADO
Uploaded by
Zé Carlos Vocal0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views7 pagesOriginal Title
Vista do Região, Sertão e Nação_JANAINA AMADO
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views7 pagesVista Do Região, Sertão e Nação - JANAINA AMADO
Vista Do Região, Sertão e Nação - JANAINA AMADO
Uploaded by
Zé Carlos VocalCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 7
PONTO DE VISTA
Uma categoria espaci
Ne conjunto da hist6ria do Brasil,
em termos de senso comum, pen-
samento social e imagindrio, poucas ca-
tegorias tém sido tio importantes, para
designar uma ou mais regides, quanto a
de “sertio”. Conbecido desde antes da
chegada dos portugueses, cinco séculos
depois “sertio” permanece vivo no pen-
samento € no cotidiano do Brasil, mate-
rializando-se de norte a sul do pais como
sua mais relevante categoria espacial: en-
tre os nordestinos, é tio crucial, tio pre-
nbe de significados, que, sem ele, a pré-
pria nogio de “Nordeste” se esvazia, ca-
rente de um de seus referencias essen-
ciais. Que seria de Minas Gerais, Goi4s ou
Mato Grosso sem seus sertOes, como
pensé-los? Em Santa Catarina, ainda hoje
se emprega a expressio “sertio” para
referir-se ao extremo oeste do Estado.
Em partes do Paran4, a mesma expressio
identifica uma Area do interior de outro
REGIAO, SERTAO,
NAGAO
Janaina Amado
estado, Sio Paulo, préxima a Sorocaba
(provavelmente, uma reminiscéncia dos
antigos caminhos das tropas). No Amazo-
nas, “sertio de denwo” refere-se a fron-
teira do estado com a Venezuela, en-
quanto, no interior do Rio Grande do Sul,
“sertio de fora” também nomeia drea de
fronteira, porém situada... no Uruguai!
“Sertio” é, também, uma referéncia
institucionalizada sobre 0 espaco no Bra-
sil: segundo o Instituto Brasileiro de Geo-
geafia e Estatistica (IBGE), designa
oficialmente uma das subareas nordesti-
nas, 4rida e pobre, situada a oeste das
duas outras, a saber: “agreste” e “zona da
mata”.
Uma categoria do pensamento
sodal
“Sertio” € uma das categorias mais
recorrentes no pensamento social brasi-
leiro, especialmente no conjunto de nos-
Nota: Este artigo deve muito 20 cucso de p6s-gradiiacio “Regio, Sertio, Nacio", minisirado na Ua por
mim epelos profs. Mireya Suarez ¢ Luiz Tatley de Aragio, do Departamento de Antropologia. Os debates entio
realizados, entre nds como excelente grupo de alunos, inspiraram virias idéias aqui expostas, mesmo aquelas
‘com as quais somente eu concordo.
Estudos Hist6ricos, Rio de Jancio, vol. 8, 0. 15, 1995, p. 145-151.
14% ESTUOOS HISTORICDS - 1995/15
sa historiografia. Esta presente desde 0
século XVI, nos relatos dos curiosos, cro-
nistas e viajanies que visitaram o pais¢ 0
descreveram, assim como, a partir do
século XVI, aparece nas primeiras tenta-
livas de elaboragio de uma histéria do
Brasil, como a realizada por frei Vicente
do Salvador (1975). No periodo compre-
endido entre as tltimas décadas do sécu-
lo XIX eas primeiras do século XX, mais
precisamente enire 1870 1940, “sertao”
chegou a constituir categoria absoluta-
mente essencial (mesmo quando rejeita-
da) em todas as construg6es historiogra-
ficas que tinham como tema bisico a
nacio brasileira.
Os historiadores reunidos em torno
do Instituto Histérico e Geogrifico Bra-
sileiro e identificados com a historiogra-
fia ali produzida, como Varnhagen, Ca-
pistrano de Abreu (1975 € 1988) ¢ Olivei-
ra Viana (1991), utilizaram e refinaram o
conceito. Outros historiadores impor-
tantes do periodo, como Euclides da Cu-
nha (1954) € Nelson Werneck Sodré
(1941), em sua fase pré-marxista, ¢, pos-
teriormente, Sérgio Buarque de Holanda
(1957 e 1986) e Cassiano Ricardo (1940),
trabalharam, de diferentes formas, coma
categoria “sertio”.
A partir da década de 50, 0 tema nao
foi mais tao candente entre os historiado-
res. Permaneceu, entretanto, importante
na aniilise de sociélogos, como Maria
Isaura Pereira de Queiroz, Douglas Tei-
xeira Monteiro e Mauricio Vinhas de
Queiroz, e de alguns poucos antropélo-
gos, como Neide Esterci (1972) e Otivio
Velho (1976).
Na década de 90, reapareceu em obras
de historiadores, como Giucci ¢ Monte
ro. Vivido como experiéncia histérica,
“sertéo” constituiu, desde cedo, por
meio do pensamento social, uma catego-
tia de entendimento do Brasil, inicial-
mente na condigao de colénia portugue-
sae, apés 0 século XIX, como nacio.
Uma categ: cultural
“Sertio” ocupa ainda lugar extrema-
mente importante nallitcratura brasileira,
representando tema central na literatura
popular, especia mente na oral ¢ de cor-
del, além de correntes e obras literdrias
cultas. Como aponturam, entre outros,
Afranio Coutinho (1955), Anténio Candi-
do (1964), Fernando Cristévio (1993-
94), Gilberto Mendonca Teles (1991) €
Walnice Nogueira Galvao (1981), “ser-
to” freqienta com assiduidade a litera-
tura brasileira desde a poesia romantica
do século XIX (Alvares de Azevedo, Jun-
queira Freire, Castro Alves, etc.), passan-
do pela prosa romantica (Bemardo Gut
maries ¢, principalmente, José de Alen-
car, em O sertanejo), atingindo enorme
importincia na literatura realista, em
tores como Franklin Tavora, Coelho
Neto e Afonso Arinos.
Grande parte da denominada “litera-
tura regionalista” tem o sertio como /o-
cus, ou se refere diretamente a ele. A
chamada “geracio de 1930” (Graciliano
Ramos, Raquel de Queirés, José Lins do
Rego, Jorge Amado, etc.), por sua vez, &
a principal responsavel pela construcdo
dos conturbados sertées nordestinos, de
forte conotagao social. Enretanto, talvez
© maior, mais completo e importante
autor rclacionado ao tema tenha sido
Joao Guimaraes Rosa (1965), 0 evocador
dos sertdes misteriosos, miticos, ambi-
‘guos, situados a0 mesmo tcmpo cm €s-
acos externos e internos. O tema conti-
nuou a ser abordado por virios autores
(Ariano Suassuna e Joao Ubaldo Ribeiro
sido apenas exemplos), chamando a aten-
cao de escritores recentemente editados,
como Francisco J.C. Dantas, em Os des-
validos (1993). A literatura brasileira po-
voou os variados sertdes que construiu
com personagens colossais, poderosos
simbolos, narrativas miticas, marcando
com eles forte, funda e definitivamente,
© imaginario brasileiro.
PONTO OE VISTA REGUAO, SERTAO, MAG IO 7
Paralelamente, “scrtao” temestado pre-
sente em outras artes como a pintura, 0
teatro, 0 cinema ¢, em especial, a musica
ocupado espacos amplos nos meios de
comunicacio, antigos eatuais:emrevistas,
jomais, ridios e ambém na televisio,
onde tem inspirado prograsras humoris-
ticos, casos especiais ¢ diversas novelas.
Talvez nenhuma outta categoria, no Bra-
sil, tenba sido consuuida por meios Go
diversos. Talvez nenhuma esteja tao entra-
nbada na bistécia brasileira, tenba signif
cados tio importantes evariadose se iden-
tifique tanto com a cultura brasileira: “O
sertio estd em toda parte; o sertio est4
dentro da gente”, sabia Guimaraes Rosa
(1965).
A seguir, é realizado um exercicio mo-
desto, no sentido de identificar, no perio-
do colonia! brasileiro, algumas facetasdes-
Se primeiro momento histérico de cons-
trugio da categoria “sertio”. Parte de uma
pesquisa mais ampla, representa a primei-
ra tentativa de sistematizacao do tema.
Talvez desde o século XII, com certeza
desde 0 XIV, os portugueses emprega-
vam a palavra, grafando-a “sertio” ou
“certio”, para referir-se a 4rcas situadas
deniro de Portugal, porém distantes de
Lisboa (Cortesao, 1958:28). A partir do
século XV, usaram-na também para no-
mMmear espacos vastos, interiores, situados
dentro das possessGes recém-conquista-
das ou contiguos a elas, sobre os quais
pouco ou nada sabiam: “Para além de
Ceuta, até onde alcangamas vistas, esten-
dem-se os certées...”, escreveu, em 1534,
Garcia de Resende (Godinho, 1990:96).
Segundo alguns estudiosos (Nunes,
1784:428), “sertéo” ou “certéo” seria cor-
ruptela de “desertéo”; segundo outros
(Teles, 1991), proviria do latim clissico
serere, sertanum (trangado, entrelagado,
embrulbado), desertum (desertor, aque-
le que sai da fileira e da ordem) e deser-
tanum (lugar desconhecido para onde
foi o desertor). Desde 0 século XVI, as
duas geafias foram empregadas por nu-
merosos viajantes e cronistas do nascen-
te império portugués na Africa, Asia €
América, com o sentido j4 apontado, de
grandes espacos interiores, pouco ou na-
da conhecidos: “... € os principes dela se
foram a el Rei, requerendo-lhe que fizes-
Se paz com Os portugueses, se nao que
se iriam todos para 0 certio”, escreveu
Damiiio de Géis; “... com que cortam por
esse certao espaco de mais de quinhentas
léguas, se vio meter no mar da China e
daCochinchina”, relatou Ferndo Mendes
Pinto (Godinho, 1983:145,173).
“Sertéo” foi ainda largamente utilizado,
até o final do século XVII, pela Coroa
portuguesa e pelas autoridades lusas nas
colénias. No Brasil, sio numcrosissimos
0s exemplos disso na documentagio of-
cial: “Se lhes fazia certo haver nos sertGes
da América minas de ouro, prata e pedras
preciosas” (resposta de D. Jodo V, em
1721, a0 pedido de licenca de Bartolomeu
Bueno da Silva e outros, para organizar
bandeira rumo a Goids); “Se os ndo puder
obter (0s recursos solicitados), Senhor,
nio seio que scrd feito desses Giéis servas
de Vossa Majestade, abandonados a sorte
cruel entre 0s sanguindrios selvagens ha-
bitantes dessescertées.” (Relat6rio do pre-
sidente da provincia de Mato Grosso,
1778).
Note-se que a descoberta, a partir do
final do século XVIVinicio do XVII, de
grande quantidade de ouro, em Minas
Gerais, Mato Grosso e Gois, e as conse-
qientes explosio demogrifica, acumula-
Gao de fortunas, fundagio de nicleos ur-
banos e implantacio da pesada burocracia
Jusa nao foram capazes de modificar subs-
tancialmente os significados de “sertéo”:
“Farto j4 0 dito Raposo (Tavares),
ou tendo ouro que bastava 4 sua am-
148 ESTUDOS HISTORICDS - 1995/15,
bigio (...) ou receoso de que com
aquela £tma se ajuntasse algum poder
maior que o destruisse, se ausentou
com os seus pelo mato dentro para
estes sertdes, tendo minerado no dito
riacho (...) € neste tirou todo 0 ouro
que levou, em que falou sempre com
vivacidade (...)” (Vianna, 1935:81)
Jé em 1813, 0 governador de Goits,
Delgado Freire, em carta a parente em
Lisboa, saudava com entusiasmo sua “pré-
xima saida desses infernais sertécs”.
No inicio do século XIX, “sertio” esta-
va de tal modo integrado @ lingua usada
no Brasil, que os viajantes estrangeiros
em visita a0 pais registcaram a palavra,
utilizando-a varias vezes em seus relatos:
Pohl (1976:249,287), por exemplo, men-
cionou os “vastissimos sertées goianos”,
¢ chamou a atencio para “essa area per-
dida, escondida, esse sertio das Gerais”,
enquanto Saint-Hilaire (1937:378) usou
“sertio” em mais de um livro, sempre
designando “as 4reas despovoadas do
interior do Brasil. Quando digo ‘despo-
voada’, refiro-me cvidentemente aos ha-
bitantes civilizados, pois de gentios e ani-
mais bravios est4 povoada até em exces-
so”. De forma simplificada, pode-se afir-
mar, portanto, que, as vésperas da inde-
pendéncia, “sertio” ou “certio”, usada
tanto no singular quanto no plural, cons-
tituia no Brasil nogio difundida, carrega-
da de significados. De modo geral, deno-
tava “terras sem fé, lei ou rei”, areas ex-
tensas afastadas do litoral, de natureza
ainda indomada, habitadas por indios
“selvagens” ¢ animais bravios, sobre as
quais as autoridades portuguesas, leigas
ou religiosas, detinham pouca informa-
Gio e controle insuficiente.
Nesse sentido, “sertao” foi uma cate-
goria construida primeiramente pelos
colonizadores portugueses, ao longo do
processo do colonizacio. Uma categoria
carregada de sentidos negativos, que ab-
sorveu 0 significado original, conhecido
dos lusitanos desde antes de sua chegada
ao Brasil - espacos vastos, desconhec-
dos, longinquos e pouco habitados -,
acrescentando-lhe outros, semelhantes
aos primeiros e derivados destes, porém
especificos, adequados a uma situagio
hist6rica particular e Gnica: a da conquis-
ta e consolidagao da colénia brasileira.
Assim, no Brasil colonial, “sertao” tan-
10 designou quaisquer espacos amplos,
longinquos, desconhecidos, desabitados
ou pouco habitados —“...seja porque des-
ses imensos certées quase nada ainda
apuraram...” (Sousa, 1974:138) -, como
adquiriu uma significado nova, especifi-
@, estritamente vinculada ao ponto de
observacio, A localizago onde se encon-
ava 0 enunciante, ao emitir 0 conceito.
Disso decorreram conseqiéncias impor-
tantes. Primeiro: como os portugueses,
na expressio de Salvador (1975:35), se
mantiveram muito tempo “arranhando a
costa, como caranguejos”, ai concentran-
do as atividades econdmicas significati-
vas, construindo os nicleos urbanos im-
portantes ¢ instalando as instituigdes €
autoridades responsveis pela coloniza-
Gio, este foi o ponto de observacio privi-
legiado, ao longo dos trés primeiros sé-
alos, para a construgio da categoria
“sertio”. Desde o litoral, “sertio” foi
constituido.
Por isso, desde os primeiros anos da
Colénia, acentuando-se com o passar do
tempo, “litoral” e “sertéo” representa-
fam categorias a0 mesmo tempo opostas
€ complementares. Opostas, porque
umaexpressava o reverso da outra: litoral
(ou “costa”, palavra mais usada no século
XVI) referia-se nado somente a existéncia
fisica da faixa de terra junto a0 mar, mas
tambéma um espaco conhecido, delim-
tado, colonizado ou em processo de co-
lonizacio, habitado por outros povos (in-
dios, negros), mas dominado pelos bran-
cos, umespaco da cristandade, dacultura
¢ da civilizacio (Freyre, 1977; 1984).
“Sertdo”, j4 se viu, designava no apenas
PONTO DE VISTA - REGIAO, SERTAO, MACAO 149
os espacos interiores da Colénia, mas
também aqueles espacos desconhecidos,
inaccessiveis, isolados, perigosos, domi-
nados pela natureza bruta, e habitados
por barbaros, hereges, infiéis, onde nao
haviam chegado as benesses da religiio,
da civilizagao e da cultura. Ambas foram
categorias complementares porque, co-
mo em um jogo de espelhos, uma foi
sendo construida em fungao da outra,
refletindoa outra de forma invertida, a tal
ponto que, sem seu principal referente
(itoral, costa), “sertio” esvaziava-se de
sentido, tornando-se ininteligivel, e vice-
: “., determinou que enurassem pe-
los certdes, para alierigir litorais” (Prado,
1961:137); “Sem ele (0 sertdo) nao se
concebe a vida: ‘por os moradores nio
poderem viver sem 0 sertio’, procla-
mam-no os oficiais da Camara numa ve-
reagio de mil € seiscentos e quarenta
anos” (Machado, s.d.: 231).
Parao colonizador, “sertao” constituiu
o espaco do outro, o espaco por excelén-
cia da alteridade. Que outro, porém; se-
nio 0 proprio eu invertido, deformado,
estilhacado? A partir da construgio de
alteridades, durante os processos de co-
lonizacio, os europeus erigirame refina-
ram as proprias identidades: “A assimila-
Gao conceitual do Outro geogrifico intro-
duziu uma tensao dialética dentro do
ponto de vista do mundo europeu que
determinou como a Europa percebeu 0
mundo de fora e, mais importante, tor-
nou-se virtualmente indispensvel para a
concepgio de si mesma”, explicou Bassin
(1991:764), complementado por Hur-
bon (1993:205-16) e Mazzoleni (1992:
22), entre outros.
Como 0 conceito de “sertao” foi cons-
truido pelos portugueses, dependendo,
para ser expresso, da localizacdo do seu
enunciante - geralmente um coloniza-
dor -, disso decorreu outra conseqién-
cia importante: durante a época colonial
(a medida, portanto, que a colonizagao
avancava sobre as terras), “sertio” f
empregado para nomear areas tio distin-
tas quanto, por exemplo, o interior da
capitania de Sio Vicente (Prado,
1961:234), a atual Nova Iguacu, no Rio
de Janeiro (Santos, 1965:118), a Amazé-
nia Jobim, 1957:179), a cidade do Recife
(Ereyre, 1977a:147), acapitania de Minas
Gerais (Goulart,1961:49), as areas conti-
guas ao Recéncavo Baiano, plantadocom
cana-de-agicar (Brandio s.d.:28), 0 al-
deamento indigena de Mossimedes, no
atual Goifis (Souza, 1978:12), a ilha de
Santa Catarina (Prado, 1961:337)! Se,
para um habitante de Lisboa, o Brasil
todo era um grande sertio, para o habi-
tante do Rio de Janeiro, no século XVI,
ele comecaria logo além dos limites da
cidade (por exemplo, na atual Nova Igua-
Gu), no obscuro, desconhecido espacgo
dos indigenas, feras € espiritos indomé-
veis; para o bandeirante paulista do sécu-
Jo XVII ou XVII o sertio eram os atuais
Minas, Mato Grosso e Goifs, interiores
perigosos mas dourados, fontes de mor-
tandades € riquezas, locus do desejo;
para Os governantes lusos dessas mesmas
capitanias, entretanto, 0 sertio era 0 exi-
lio a que haviam sido temporariamente
relegados, em seus téo bons servicos
prestados a Coroa... Variando segundo a
posigao espacial e social do enunciante,
“sertio” péde ter significados tio amplos,
diversos e aparentemente antag6nicos.
Finalmente: se foierigido como catego-
ria pelos colonizadores e absorvido pelos
colonos, em especial pelos diretamente
relacionadosaos interesses da Coroa, “ser-
tio”, necessariamente, foiapropriado por
alguns habitantes do Brasil colonial de
modo diamewalmente oposto. Para al-
guns degredados, para os homiziados,
para oS muitos perseguidos pela justica
real e pela Inquisic’o, para os escravos
fugidos, para os indios perseguidos, para
© varios miseraveis e leprosos, para, en-
fim, os expulsos da sociedade colonial,
“sertio” representavaliberdade ¢ esperan-
a; liberdade em relacdo a uma sociedade
150
dade que os oprimia, esperanga de outa
vida, melhor, mais feliz. Desde o inicio da
histéria do Brasil, portanto,
figurou uma perspectiva dual, contendo,
em seu interior, uma victualidade: a da
inversio. Inferno ou paraiso, tudo de-
do lugar de quem falava.
do século XIX, em Portugal a
palavra “sertio” esvaziou-se dos signifi
cados que tivera para os portugueses (es
pacos amplos, desconhecidos, longin-
quos), tomando-se sindnimo de “inte-
rior”: “Sertio, sm. O interior, 0 comgio
das terms, opGe-se ao maritimo, ¢ costa; O
sertio toma-se por mato longe da costa”
(Gilva, 1922:693); a mesma fonte registra
uma segunda acepcio da palavra, bastante
curiosa: “O sertio da calma, ié., o lugar
onde ela é mais ardente; Lobo: ‘metendo-
se pelo sertio da calma, que naquele tem-
po Exit”. Ji 0 Diciondrio portugues, de
4874 (p. 625) registra apenas a primeira
acepgio: “Sertio ou certo, s.m. O inte-
rior, 0 coragio das terras, 0 coragio medi-
terrinco, em oposicio ao maritimo”.
£ possivel que, em Portugal, “sertio”
tenha sido uma categoria muito impor-
tante, para a classificagio ¢ hicrar-
quizicio dos espacos do império portu-
gués. A medida que este império se de-
compunha, “serio” perdia seus signifi-
cados, até guacdar apenas o original, an-
terior A constituigio das coldnias: 0 de
“interior”.
Enquanto isso, no Brasil, durante o
século XIX, ocorria processo inverso: os
brasileiros no apenas absorveram todos
8 significados construidos pelos portu-
Queses a respeito de “sertio”, antes e
durante a colonizagio, como, a partir da
Independéncia, em especial a partir do
tillimo quartel do século XIX, acrescenta-
ramdhe outros, transformando “sertio”
numa catcgoria essencial para o cntendi-
mento de “nagio”.
Mas isso é outra hist6ria, ou, a0 me-
nos, uma continuagio desta: fica, portan-
10, para outro artigo.
ESTUDOS MISTORICOS 1995/15,
Notas
1, Para uma andlise semethante A aqui de-
senvolvida sobre essa acep¢io de “sertio”, cf.
Amado (1990) ¢ Dean (1990).
ABREU, Capistrano de. 1988. Capitulos de
bist6rta colonial. Sao Paulo, Edusp.
—. 1975. Caminbos antigose povoamento
do Brasil. Rio de Janeiro, Civilizacio Bra-
sileira.
AMADO, Janaina. 1990. “The frontier in com
parative perspective: the United States and
Brazil”, em Frontiers in comparative pers-
pectives. Washington D.C., The Woodrow
‘Wilson Center.
BASSIN. Mark. 1991. “Inventing Siberia: vk
sions of the Russian East”, Tbe American
Historical Review, v.96, 03.
BRANDAO, Ambrésio Femandes. s.d. Diélogo
das grandezas do Brasil. Rio de Janeiro,
Dois Mundos.
CANDIDO, Antinio. 1964. Formagéio da lite-
ratura brasileira, 2* ed. Sio Paulo, Mar-
tins.
CORTESAO, Jaime. 1958. Os descobrimentos
‘portugueses. Lisboa, Arcidia. v. 1.
CRISTOVAO, Fernando. 1993-94. “A uansf-
guragio da realidade sertaneja € sua passa-
gem a mito”. Revista USP, dezJjanffev.,
(20):43-53.
COUTINHO, Afrinio. 1955. Literatura no
Brasil. Rio de Janciro, Sulamericana. v. 2.
CUNHA, Euclides da. 1954. Os sertées. 23* ed.
Rio de Janciro, Livraria Francisco Alves.
DANTAS, Francisco C. 1993. Os desvalidos.
Sio Paulo, Companhia das Letras.
DEAN, Warren, 1990. “The frontier in Brazil",
em Frontiers in comparative perspectives,
Washington D.C, The Woodrow Wilson
Center.
DICIONARIO PORTUGUES. 1874. Lisboa, Ed.
do Ponto.
PONTO DE VISTA - REGIAQ, SERTAO, MACAO 151
ESTERCI, Neide. 1972. O mito da democa-
ciano pais das bandeiras. Rio de Janciro,
Museu Nacional (mimeo).
FREYRE, Gilberto. 1977. Sobrados e mocam
bos. 5* ed. Rio de Janciro/Beasilia, José
Olympio/MEC. «. 1.
— .1977a. Ingleses no Brasil. 2* ed. Rio de
Janciro/Brasilia, José Olympio/MEC.
— . 1984. Casa grande e senzala. 24* ed.
Rio de Janeiro, José Olympio.
GALVAO, Walnice Nogucira. 1981. Gatos de
outro saco. Sio Paulo, Brasiliense.
GODINIO, Vitorino. 1990. Mito e mercado-
ria, ulopia e pratica de navegar. Lisboa,
Difel.
—. 1983. Os descobrimentos e a economia
mundial. Lisboa, Peesenga. v. 1.
GOULART, José Alipio. 1961. Tropas e tropet-
ros na formacéo do Brasil. Rio de Janciro,
Conquista.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. 1945. Mon-
‘¢6es. Sao Paulo, Cia. Editora Nacional.
—— 1957. Caminhose fronteiras. Sio Paulo,
Brasiliense.
——. 1986. 0 extremo oeste. Sio Paulo, Bra-
iense.
HURBON, Laénnec. 1993. El bdrbaro tnagt
nario. México, Fondo de Cultura Econé-
mica,
JOBIM, Anisio. 1957. O Amazpnas: sua bisté-
ria (ensaio antropogeogrdjico e politico).
So Paulo, Companhia Editora Naconal.
MACHADO, Alcintura. sd. Vida e morte do
bandeirante. S30 Paulo, Martins.
MAZZOLENI, Gilberto. 1992. O pleneta cul-
tural, Sao Paulo, Edusp.
NUNES, Duarte. 1784. Ortografia da lingua
‘portuguesa. Lisboa, s.ed.
POHL, Johann Emanuel. 1976. Viagem ao
interior do Brasil. Sao Paulo, Edusp; Belo
Horizonte, (tatiaia.
PRADO, J. F. de Almeida. 1961. Sdo Vicente e
as capitantas do Sul do Brasil. Sio Paulo,
Gia. Editora Nacional.
RICARDO, Cassiano. 1940. Marcha para 0
Oeste, Rio de Janeiro, José Olympio.
ROSA, Jodo Guimaries. 1965. Grande sertao:
veredas. # od. Rio de Janeiro, José Olym-
pio.
SALVADOR, Frei Vicente do. 1975. Histéria
do Brasul. Sao Paulo, Melhoramentos; Bra-
silia, INL.
SAINT-HILAIRE, Auguste de. 1937. Viagem as
nascentes do rio Séo Francisco e pelapro-
vincia de Golds. Sio Paulo, Cia. Editora
Nacional. t 2.
SANTOS, Noronha. 1965. As freguestas do Rio
antigo. Rio de Janeiro, O Cruzziro.
‘SILVA, Antonio de Moraes. 1922. Dicclonario
da lingua portugueza (fac-simile da 2*edi-
G40, 1813). Rio de Janeiro, Oflidnasda S.A.
Litho-Tipographia Fluminense.
SODRE, Nelson Wemeck. 1941. Oeste. Rio de
Janeiro, José Olympio.
SOUSA, Gabriel Soares de. 1974. Noticia do
Brasil. Brasilia, MEC.
SOUZA, Luiz Anténio da Silva. 1978. Meméria
Sobre o descobrimento, governo, popula-
fio e coisas mais notdveis da capitania
de Goids. Goifnia, Sudeco/Governo do
estado.
TELES, Gilberto Mendonca. 1991. “Olugar do
sertio na poesia brasileira”, em Silvia Me
nezesleroy. Sertdo: realité, mytbe, fic-
tion. Rennes, Colloque International, mi-
meo.
VELHO, Otivio. 1976. Capitalismo aulorité
rio e campesinato. Sio Paulo, Difel.
VIANA, Oliveira. 1991. Bnsaios tnéditos. Sio
Paulo, Unicamp.
VIANNA, Utbino, 1935. Bandeiras e sertanis-
tas babiavos. Sio Paulo, Cia. Editora Na-
ional.
(Recebido para publicagao em
junko de 1995)
Janaina Amado é professora no Departs-
mento de Hist6ria da Universidade deBrasiia
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- O Aluno Virtual PDFDocument10 pagesO Aluno Virtual PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Reações Às Mudanças PDFDocument8 pagesReações Às Mudanças PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Histórico Da EaD PDFDocument14 pagesHistórico Da EaD PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- RESOLUÇÃO CEPE-UEMS #1.881 - de 21 de Junho de 2017 PDFDocument6 pagesRESOLUÇÃO CEPE-UEMS #1.881 - de 21 de Junho de 2017 PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Deliberação CEE 9000 - 2009 - Dispositivos e Regulamentação Da EaD em MS - Sem Marcações PDFDocument17 pagesDeliberação CEE 9000 - 2009 - Dispositivos e Regulamentação Da EaD em MS - Sem Marcações PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Zan, José Roberto. Do Fundo de Quintal À Vanguarda - Novos Gêneros Urbanos PDFDocument11 pagesZan, José Roberto. Do Fundo de Quintal À Vanguarda - Novos Gêneros Urbanos PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Situando A TematicaDocument5 pagesSituando A TematicaZé Carlos VocalNo ratings yet
- 9b - Portaria - Mec - 1134 - 16 - Revoga 4059 - Disciplina o Semipresencial PDFDocument1 page9b - Portaria - Mec - 1134 - 16 - Revoga 4059 - Disciplina o Semipresencial PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Comunidade Virtual PDFDocument15 pagesComunidade Virtual PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Educação, Comunicação e Tecnologia PDFDocument32 pagesEducação, Comunicação e Tecnologia PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Primeiros Passos No Ambiente Virtual de Aprendizagem - O Moodle PDFDocument8 pagesPrimeiros Passos No Ambiente Virtual de Aprendizagem - O Moodle PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- CONTEXTUALIZANDO - O Professor, o Aluno e o Ambiente Virtual PDFDocument4 pagesCONTEXTUALIZANDO - O Professor, o Aluno e o Ambiente Virtual PDFZé Carlos VocalNo ratings yet
- Almada Arranjo Cifragem Harmônica Absoluta e Analítico Funcional P. 375 377Document3 pagesAlmada Arranjo Cifragem Harmônica Absoluta e Analítico Funcional P. 375 377Zé Carlos VocalNo ratings yet
- Políticas Públicas Educacionais e Realidades Da EaDDocument15 pagesPolíticas Públicas Educacionais e Realidades Da EaDZé Carlos VocalNo ratings yet
- Quadros Júnior, João. Musica - Brasileira - Brasil ColôniaDocument10 pagesQuadros Júnior, João. Musica - Brasileira - Brasil ColôniaZé Carlos VocalNo ratings yet
- Harmonia Funcional para Musicos CuriososDocument76 pagesHarmonia Funcional para Musicos CuriososZé Carlos VocalNo ratings yet
- Exercicios Percussao 24 A 30 Prof AbimaelDocument1 pageExercicios Percussao 24 A 30 Prof AbimaelZé Carlos VocalNo ratings yet
- Atividades em Ambientes Virtuais de Aprendizagem Parâmetros de QualidadeDocument11 pagesAtividades em Ambientes Virtuais de Aprendizagem Parâmetros de QualidadeZé Carlos VocalNo ratings yet
- GROUT PALISCA História Da Música Ocidental-479-484Document7 pagesGROUT PALISCA História Da Música Ocidental-479-484Zé Carlos VocalNo ratings yet
- Ebook 2023 MACEDO Fazendo Ciencia Nos Sertoes Experiencias e Idealizacoes No SeridoDocument168 pagesEbook 2023 MACEDO Fazendo Ciencia Nos Sertoes Experiencias e Idealizacoes No SeridoZé Carlos VocalNo ratings yet
- EDITAL PE 006 PDF - CompressedDocument40 pagesEDITAL PE 006 PDF - CompressedZé Carlos VocalNo ratings yet
- PDFS para InscritosDocument11 pagesPDFS para InscritosZé Carlos VocalNo ratings yet
- PDFS para Inscritos - PDF 2Document9 pagesPDFS para Inscritos - PDF 2Zé Carlos VocalNo ratings yet