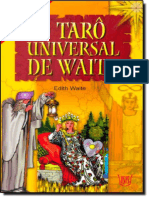Professional Documents
Culture Documents
À Sombra Da Jurema Encantada
À Sombra Da Jurema Encantada
Uploaded by
Morgana Maré0 ratings0% found this document useful (0 votes)
429 views126 pagesOriginal Title
À Sombra da Jurema Encantada
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
429 views126 pagesÀ Sombra Da Jurema Encantada
À Sombra Da Jurema Encantada
Uploaded by
Morgana MaréCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 126
Ceeeer ocd
eer
eee eon
eer Pee eee)
pe eM Sc teat
= eee es eraee
oy eee
a
e
ry
2
_ A SOMBRA DA JUREMA ENCANTADA |
> Mestres juremeiros na
° Umbanda de Alhandra
°
»
3
> Ryeaeeienneee nie His i i doribra Gasiteteleneamaoe
> a eT : IAC
y ; parse eer a Peta ea 14977/40 SPBCMON
“2 rere : ia }
° Sea ie ei |
>
eee at)
’ Pee er ee ea)
ee ae)
PL een
Agradecimentos
Agradeso 20 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tifico e Tecnol6gico (CNPQ), que financiou esta pesquisa; a Fun-
darpe ¢ ao Funcultura, que tornaram possivel sua publicacao;
a0 Programa de Pés-Graduagdo em Ciéncias Sociais da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); ao Programa
de P6s-Graduagdo em Antropologia da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE); minha esposa, Canceicso G. Nobrega
L. de Salles, pelas sugestées e pelo apoio; a Luiz Assungao, que
orientou a pesquisa; aos Guimaraes de Salles: Sandra, Soraya,
Suely, Semiramis (mae) e Semiramis (filha); A Consultexto; a
Carlos Sandroni; Eric Pontes; Juliano Oliveira; Dona Elza; Patri-
«ia Lima; Silvia Melo; Jodo Assis; Sandra Pequeno; Sheila Accio-
ly; Elisete Schwade; Alipio de Sousa; Mundicarmo Ferretti; Re-
nato Athias; Roberto Motta; Jos¢ Fernando; José Amaro; Maria
do Carmo Brando; David Pimentel; Climério Santos; Joaquim.
Izidro; Hugo Pordeus; Kelly Oliveira; Karina Miriam; Keila Cris-
tina; Inalda Santos; Tatiana Aragjo; Helena de Lacia; Katarina
Menezes; Ana e Sérgio Abranches; Alexandre Simao; Degjslan-
do Nébrega; Sérgio Vasconcelos; Juliano Loureiro de Carvalho;
«José Maria Borges. Aos juremeiros de Alhandra, especialmente
0s mestres Sebastidio, Deca, Edu, Joo Ciriaco, Inacio Gabriel
(da Popoca), Maria das Dores, Lia e Maria Grande, pela atengao,
confianca ¢ amizade, que tornaram possivel a realizagio deste
trabalho, Finalmente, a Dorinha do Acais e Dona lvete, pela ami-
zade e disporibilidade em contribuir para a pesquisa.
Digan com Camseanner
SuMARIO
Prefacio, 13
Apresentagao, 15
lucdo, 17
Seer sobre a discussio do tema, 19
Alguns estudos recentes, 29
Repensando a Jurema:
questées tedrico-metodolégicas, 32
Contexto e sujeitos da pesquisa, 35
Plano dos capitulos, 37
Capitulo I |
O Legado Indfgena, 39
Consideracdes iniciais, 39
Avila de Alhandra, 47
Os aldeamentos, 49
Aratagui, 51
Do aldeamento a vila:
© Diretorio dos Indios e a vila de Alhandra, 53
A extingao dos aldeamentos, 57
Capttulo 1
© Culto da Jurema em
Ola do Acais, 63
O Catimbs, 79
A Umbanda, 84
Alhandra e Suas Interfaces, 63
4
4
4
ad
4
a
d
q
1
Digna com CamSeanner
A sonann Da yuna enscantana
Capitulo I
© Cosmos Religioso, 99
O sistema de crengas, 99
As cidades da Jurema, 104
© universo mitico e simb6lico, 114
© panteio: caboclos, mestres ¢ reis, 122
As obrigacées, 134
O vinho da jurema, 138
A misica ritual, 142
Capitulo IV
O Espaco de Celebracao, 159
Terreiros e Centros, 159
Centro Espirita do Mestre Zé Pilintra, 165
Templo Religioso Orixé Sao Joao Batista, 168
Centro Espirita Ogum Beira-Mar, 172
A relagdo entre os terreiros, 175
Capitulo V
Os Rituais, 179
Os toques, 179
Toque para Jurema no
Centro Espfrita do Mestre Zé Pilintra, 181
Toque para Jurema no
Templo Religioso Orixé Sao Joao Batista, 196
As sessdes de mesa, 210
PREFACIO
CO livro de Sandro Guimaraes de Salles A sumbra da Jurena
encantada: mestres juremeiros na Umbanda de Alhandra, resul-
tado de investigacoes desenvolvidas no mestrado em Ciéncias
Sociais/ Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), reflete sobre o culto da Jurema em Alhandra,
para compreender 0 encontro dessa tradigao com a Umbanda,
Os estudos das chamadas religides ufro-brasileivas, desde
Nina Rodrigues, voltaram suas atengOes para as tradic6es con-
sideradas mais auténticas, mais puras, como as jeje-nago, dei-
xando de lado as qualificadas de cultos misturados, como 0 Ca-
timb6-jurema, considerado forma impura. Nesse percurso, nos
anos de 1930, Mario de Andrade, em sua busca por elementos
que representassem a identidade nacional, vai ao encontro das
manifestacGes folcl6ricas, das artes populares, dancas e mtsi-
cas tradicionais, como também da religiosidade, descobrindo
© Catimbé nordestino. Outros estudiosos seguem 0 modernis-
ta no interesse por praticas da religiosidade popular: Camara
Cascudo, Gongalves Fernandes, Roger Bastide.
Mais recentemente, o Catimb6 volta ao foco de interesse dos
estudiosos sob a denominacao de Jurema e em um contexto mar-
cado pela presenca da Umbanda. Em seu dinamico processo de
construco/reconstrucado, a Umbanda vai selecionando elemen-
tos religiosos de tradic&es diversas e reorganizando-os em novas
concepgdes de crencas e praticas rituais, absorvendo os cultos re-
Digan com Camseanner
Consideragées Finais, 221 is, dil igiosi
gionais, difusos na cultura e religiosidade, ao mesmo tempo
éassimilada por eles, produzindo um encontro. de inter-relaghes
€m que elementos religiosos sao reelaborados mutuamente.
jen SS* Contexto dindmico e dialético, marcado pela
timagao da Umbanda e pelo declinio das mesas de
seguindo essa linha de reflexao, que o trabalho vai
plorando com densidade a tematica proposta,
der a perspectiva de ser “um campo fecundo,
Relacao dos indios, 235
Observagies feitas por Antonio G. da Justa Aradjo, 238
Referencias bibliograficas, 242
'A SOMDRA DA JUREMA ENCANTADA
. desafiador”, como i
angie © proprio autor afirma: “sobre o qual temos,
mais perguntas do que respostas”,
Durante a realizagao da pesquisa, segue um caminho
Lodologio qu combina gm Beas etre elicona:
seinem ea gee interlocutores, fazendo. uso tanto da
su ygrafia, observacdo e entrevista, como de revisao bibliogrs-
He Bers
as Tae arquivos e utilizando-se do registro em v‘-
arog] is Br Be mend um rico acervo documental sobre
O trabalho de Sandro traz significativas contribuigses para
a compreensio do contexto e da dinamicareligiosa da Jurema
‘na atualidade, seja através da narrativa histérica sobre 0 Tegado
fade Alhandra, o cla do Acais estas interfaces com 0 uni-
verso mitico e simbélico ali constituido, seja nas deserigdes etno-
\s dos terreiros, dos espacos de celebragdes & dos rituais.
(© primeiro aspecto condiuzo leitor a conhecer os meandros
da hinbria local, do aldeamento de Aratagui, dos indios taba.
,, das guerras, da demarcacdo das terras indfgenas, como
Mio ailtimo regente dos indios de Alhandra, mestre Inécio Gon-
falves de Barros, seus descendentes, dente eles a mest Ma-
$a do Acais. O outro aspecto nos leva a conhecet 2 pratica da
Jurema em um contexto marcado pela presen da Umbanda,
‘gem, no entanto, perder 0s vinculos miticos & simbélicos com 0
‘Catimbé do Acais. Alias, como bem demonstra, € exatamente
olegado da tradicao de Alhandra que dotara de uma certa sin~
gularidade a Umbanda local.
Por fim, em um momento em que
articula diante da destruicao do seu
edificagdes do sitio Acais e as cictades
Caines cals por exemplo — 0 livrozeafirma a importanes
ar as Tatas e 08 processos de resistencia secularmente
Ge idos por essas pessoas, ao mesmo tempo que sistemaliza
siveonhecimento construido através do didlogo permanente,
sa Shuindo para que esses escritos possam set compartilha
Goscom essas mesmas pessoas que ajudaram a construi-lo — 0
‘povo das comunidades de terreiro, 0 povo da Jurema
Luiz Assunga
Deparament de Anaopologia da UFEN
comunidade religiosa se
atriménio cultural — a3
‘da Jurema cultuadas por
“APRESENTAGAO jeune?
ste livro é uma versdo pin
i logia,
estado em Ciencias Soiais/ ANSE’ Tn
Universidade Fet
abril de 2004, sobre 0 cu
© objetivo central do Pre:
contro entre a tradicio dos mestres j
gos indios da antiga aldeia Aratagui,
preender 0 €D-
gente trabalho € com]
que remonta
juremeiros,
‘ea Umbanda, cuja ©
nsdo acompanha a bt! rocratizagao das instituicoes religiosas
Pastado, 0 cendrio religioso de eMIhandlra, ao Longe dos anos
1970, seré marcado pelalegiti Jmbanda frente a CO-
munidade de jjuremeiros € pelo declinio das chamadas mesas de
4 subme-
Catimbd. No contexto do “novo” culto, a Jurema seri
ao mitologica e ritual. Essas mudar-
tida a uma reinterpretacs
tas, contudo, nao ocorreram de moclo passivo, mas dentro de
um proceso dinAmico ¢ dialético. O encontro entre esses dois
3s, portanto, sera caracterizado por uma interinfluen-
dia ativa, uma circularidade. Assim, procuro mostrar, © partir
oe escrito dos rituais ¢ dos relatos dos seus protagonistas, a
importancia, na configuracao dos atuais cultos ‘umbandizados,
sae tradicao, que fez de Alhandra uma das principais refe-
réncias da Jurema nordestina.
Faz-se necessario, no entanto, uma breve adverténcia: 0
re ete
coc baleen oP CE eee e finalizado no inicio de
modo que muitos dab seus : nose gate ano> pe, Se
de eae OL eee
Ea ee 10 pode ser dito em relacao a alguns
los sagrados para os juremeiros — que
univ
£6.05;
eeceeee
BEKEREEKEOEE
(
@HOOOROKE
igh
foram destruidos nos ultimos anos. Apesar de algumas modifi-
cages e acréscimos, procurei manter as caracteristicas ¢ 0 con-
tetido do texto original, mesmo consciente de que poderia té-lo
escrito de outro modo e que o cendrio que descrevo ja ostenta
novas caras e paisagens.
6
IntRopu¢é0,
© culto da Jurema tem sido objeto de um debate signifi-
cativo no Ambito das Ciéncias Sociais nos tiltimos anos. Esse
expressivo interesse pelo tema, no entanto, surge ap6s quase
meio século dos trabalhos pioneiros de Mario de Andrade e
Goncalves Fernandes. Nessa (re)descoberta do tema em nossos,
dias, um dos seus enfoques me parece bastante significative
© culto da Jurema no Ambito da Umbanda. Esta, desde o seu
surgimento, na primeira metade do século XX, tem se repar-
tido em uma multiplicidade de versdes, que reflete a propria
diversidade do ovo brasileiro. © presente trabalho discute ©
encontro, no municipio de Alhandra, Paraiba, entre esses dois
‘universos, perscrutando suas implicagdes na configuracao dos
atuais cultos umbandizados. Na reflexo aqui proposta, pro
curo mostrar que a singularidade da Umbanda praticada na
regio, apesar das mudangas que essa nova orientagao religi-
sa vai desencadear, reside, sobretudo, na importancia para 08
seus adeptos de um legado mitico e simbolico, advindo da tra~
dicao dos mestres juremeiros. Mapear os alcances dessa tradi
‘cao 6 um dos objetivos da pesquisa ora apresentada.
Na teniativa de uma apresentagio preliminar, podemos de-
finir a Jurema como um complexo semistico, fundamentado nO
culto aos mestres, caboclos e reis, cuja origem encontra-se NOS
povos indigenas nordestinos. As imagens e 0s simbolos Pre
sentes nesse complexo remetem a um lugar sagrado, descrit?
pelos juremeiros como um “reino encantado”, os “encantos
ow as “cidades da Jurema”. A planta de cujas raizes ou cascaS
se produz a bebida tradicionalmente consumida durante 2
sessdes, conhecida como jurema, 6 0 simbolo maior do culto.
igh
[A sown oa JoneaA ENCAITADA
ela a “cidade” do mestre, sua “ciéncia”, simbolizando ao mes-
‘mo tempo morte e renascimento.
‘A expressiva presenga desse culto em Alhandra, sobretudo
nna propriedade denominada Acais, vam senco registrada,dire-
ta ou indiretamente, desde a década de 1930 por autores como
‘Fernandes (1938), Bastide (1945), Vandezande (1975), entre ou-
tros. Todos, no entanto, se ocuparam da Jurema no ambito do
‘Catimbé, culto ainda muito proximo da influéncia indigena,
‘cujo cerimonial consistia basicamente em “trabalhos de mesa”,
‘as chamadas mesas de Catimbd. Passados quase trinta anos da re-
alizacao da altima pesquisa na regia0_ (VANDEZANDE, 1975),
‘ocenario religioso de Alhandra passou por mudancas significa
tivas, remetendo a novas pergunias e inquietasdes sobre o culto.
No presente trabalho, parto dessas inquietagdes para rediscutr
‘a Jurema tradicional, a importincia do legado dos antigos mes-
tres juremeiros nesse contexto, e compreender os sentidos dessa
‘gadicio para a Umbanda local. Vale salientar que empreg0 9
tezmo Umbanda designando as crengas e praticas aqui descritas
vassim as denominam seus protagonistas.
“D teadicao da Jurema na regiio esta intimamente ligada
‘aoe tnciioe da antiga aldeia Aratagui, especialmente 20 dino
Segente desses indi, Indcio Goncalves de Barros « seus doe
TeBrntes. Denire esses, destaca-se Maria do Acais (FERNAN-
Sas 1998), mestra falecida na decada de 1930, que viveu entre
Rani 2 Alhandra, cujo prestigio ultrapassou as fronteras da
Paratbs!, Ocalto por eles praticado, 0 Catimbs, entra em deel
Fipa partir da década de 1970 (VANDEZANDE, 1975). Houve,
Tune da localidade (Anis de Baixo) « da fazenda onde resid
ce ope ten wen mamuscrito do stculo XIX de autora de uma antigs
saris Os propriedade, ela ¢ denominada Acay. Segundo Dorinha atual
ne oe Perlige nome da fazenda era Acat Tambem ouvi de juremeiros
PP thos que o nome da prestigiosa mestra era Maria do Acat. Parte dio
rae roan, Cobatzna, em mapas do século XVI, denominado, em 1865,
deere reperrilicas elaboradas pelo engenheiro Anténio Goncalves da
fast Arno, como Rio Acs. Nas referias carta, slo também descrtos os
Teesrotes ou alton” @as terras do Acais.
Taewe
es
‘Somono Guneaniss os Sat
‘em contrapartida, um crescimento consideravel da Umbanda,
que, nas tltimas décadas, tem se configurado como um rove
valor na escala axiolgica da comunidade de juremeiros.
’A seguir, procurarei sitar, de modo introdutério, a8 <5
cusedes cobre 0 cullo da Jurema no contexto das chamadas
religies afto-brasieira®. O periodo analisado vai d2 decada de
1960, quando surgem os primeiros trabalhos sobre 0 TST ate
oe ance 1990, com o advento das primeiras pesquisas sobre ©
© 0s ntexto da Umbanda. A apresentacho das pesqi50"
mais recentes sobre o assunto, por sua vez, também n29 pre
tende ser exaustiva. Limitar-me-ei aos primeiros estudos de-
senvolvidos em programas de pés-graduacso.
= CONSIDERAGOES SOBRE A DSCUSSAO DO TEMA
aparece muito tardia-
Ointeresse pelo fendmeno da Jurema
de popular no Brasil
mente entre os estudiosos da religiosida
Nicamo sua presenca nos “candomblés de caboclo”, registrada
por Arthur Ramos ¢ Edison Carneiro, passa q492° despercebi-
rivou ignorada por eases autores. Este dltimo, embors tenha
Sppistrado varias referéncias a Jurema nos cantices POF ele co-
Ietados, faz este nico e breve comentario:
(0 feitico direto, hoje praticamente abolido, no nos interess%
particularmente aqui. Apenas hd a notat, entre as espcieS Y<-
yume reasakar a Importincia, a partir da década de 1980, dos estudos sobre
Joram em contentos contempordneos indigenas, Esses estudos se inseresy
aervente nas penquisas sobre os sistemas de identificacdo étnica dos indios
Uo Nordeste. Nesse contexto, a Jurema — como o toré, ao qual esté intima:
‘fant lida ~ figura como sinal diaritico na afirmacéo dessa identidade.
{nes trabalhos também tem se ocupado de outras questOes, como as praticas
ifgicoreligiosas e medicinals da Jurema e a penetracio de elementos ad-
‘indos dos eultos afro-brasileiros em contextos indigenas. Como referencia,
‘ug etura de Trombon 95), sobre os Kur Granewald (2006), sobre
os Athan « Mota G07, sobre oe Kod Kai Xac, Enbort o presente
0 trate da Jurema nessa perspectiva (dos indios contemporaneos), Ro
pphincio ceptulo procuro situa o culto a partir da sua origem entre indi
ras no periodo colonial oa
19
*
¢
5
E
i
COOLER EGS BBS
ae
igh
A sonena 04 junswa ENeanrann
r Do mesmo modo, Manuel Querino, em 1938, embora men-
-cione a presenca da Jurema e a influéncia indigena nos can-
domblés de caboclo da Bahia, limita-se ao seguinte relato:
‘5 encantos chegam as cabecas das mulheres conforme o rito
africano, notando-se que o preparo das ervas difere na quan-
tidade e na qualidade, pois sdo empregadas apenas duas ¢
‘entre estas se-distingue o arbusto silvestre denominado Jure
ma (QUERINO, 1985, p.74).
O fato é que, desde Nina Rodrigues, as atengdes estavam
voltadas para as religides afro-brasileiras, sobretudo as de tra-
dicao jeje-nagd (DANTAS, 1988; FERRETTI, 2001), considera
das mais “auténticas”, mais “puras”; 0 que levou Bastide a afir-
mar, com relacdo aos congressos sobre o negro, realizados na
década de 1930 em Salvador e no Recife, que neles 0 interesse
pelo afro-brasileiro era sempre mais pelo afro que pelo brasilei-
ro. Essa insisténcia em uma tradi¢do imemorial incorrompida
se mantém indiferente ao fato de os sistemas sociais das cultu-
ras afro-brasileiras — ¢ da cultura afro-americana de um modo:
geral, como tém procurado mostrar desde a década de 1970
Mintz e Price (2003) — terem sido receptivas a condigdes so-
ciais mutaveis.
Com efeito, os africanos trazidos para a América estabele-
ceram-se no novo ambiente apropriando-se tanto dos novos
instrumentos disponiveis quanto da memoria da Africa, trans-
mitida e reelaborada de modo complexo e por caminhos diver-
sos, Esses argumentos, no entanto, ndo devem ser usados para
minimizar a opressao e a exploracdo dos negros nem a desu-
manidade dos sistemas opressores (MINTZ e PRICE, 2003),
No Brasil, essa busca incessante da Africa passa a ser posta
em questo, em uma perspectiva desconstrucionista e icono-
clasta, a partir da década de 1980, especialmente a partir do tra-
o 10 (1988).
balho de Beatriz Géis Dantas, Vous Nagd ¢ Papai Brarc ac 2,
Como procurou mostrar a autora, 0 modelo nage #678,
gh or aA gee pepe
cnn eda ris a so ede
por afticanistas como categoria analitica para se PeNS®T
de resistencia, sem se dar conta de que “trasos ALTE,
an ee” (i ery (O discurso de
diversos na sociologia brasileira” (ibid, p. 20) cee
conde dis ne acoso
so afneana se auto PerP ee ger eo
wntes sobre cultos de
de Port (2005).
oe Be o :
matriz africana, como observou Matti; oer
ss e ficacdo liga-se a outro aspect A
Be eae niaee ecbre' a Rictoria dos OVS dia
bém presente nas pesquisas sol ae
a mteiro , zi
genas, como tém procurado mostrar Monteir ce ae
(2003), Boccara (2005), entre outros —, que ago-
th ae ae e brancos em categorias mopalltiats erie
nicas. Nessa perspectiva, 0 negro é visto ou como aquele 1"
resiste, mantendo sua identidade étnica ¢ cultural, sua Per'etl
¢a 20 mundo dos orixis, ou como sujeito aculturado, vstina
destruicio, pelo branco, dos seus verdadeiros valores culturais
e tradicionais. Nessa logica bindria, 0 negro deixa de ser const
derado como sujeito historico, inserido em negociagbes, estrate-
sgias de poder, de afirmacao politica e reformulacdes de identi-
dade em face das transformacées do contexto social e cultural.
Mas a questao que me parece mais importante para a xe-
flexdo aqui proposta é o fato de essa busca incessante pelos
africanismos, como se deu também no Recife, com 0 grupo or-
ganizado por Ulysses Pernambucano®, na década de 1930, ter
cidade da civilizaga :
de vinte anos da introdugae dos questi
it ritos rece!
ciados, permanece em muitos esc!
a js van
An na década de 1930, criou no Recife o Servigo de Hi-
Cito afer sistncia a Psicopatas, reunindo diversos estudiosos dos
to. Em gerd, © pron Promovendo a aproximacio destes com os pais de sar.
Pit © Brupo seguia.aIégica de Nina Rodrigues, de quem Ulysses
igh
A sonra 04 juneaa eNCANEADA
desencadeado uma série de if
3 i aces purificadoras. Nelas, cultos
‘misturados”, como o Catimb6 e outras formas de “impure-
Zas”, a0 is”. 3,
alee SRS ees xangos mais “autenticos” (0s quais equi-
ae a candomblés mais “puros” ds Bahia),
Saas a Bnei estudiosos, considerados “ilegitimos”,
Riera obra de charlatdes e exploradores (DAN-
te }). O Catimbé — que jé nao era visto como uma tra-
ligao indigena Pura, tampouco como culto africano, sendo,
portanto, a mistura por exceléncia — viria despertar apenas
© interesse de alguns poucos pesquisadores. E assim que, ao
referir-se ao cenério religioso do Recife dos anos 1930, René
Ribeiro faz o seguinte comentario sobre o culto:
Intimeras outras casas, no mais com o carter de grupos de
‘culto estruturados, com hierarquia de dignitarios e figs, rituais,
de iniciacao e calendario religioso, porém de afiliagdo flutuante
polarizada apenas em torno da figura de umn sacerdote magico-
adivinho, funcionavam nessa época. Eram centr de eatimbs,
de caboclos, onde o sincretismo religioso parece ter avancado
mais, e em que parecem ter se transformado as antigas “casas
de angola” seguindo rumo um tanto diversificado do que no
Rio de Janeiro viria resultar na macumba (1978, p.57).
O primeiro a escrever sobre 0 Catimb6 foi Mario de Andra-
de, no inicio da década de 1930. Um dos principais nomes do
Modernismo brasileiro, ele ndo vinha da linhagem de estudos
sobre 0 negro que surge com Nina Rodrigues, a cuja preocu-
1s africanas me referi acima. Como
pagalo com as sobreviven:
uum expoente do nacionalismo brasileiro, Andrade buscava
elementos que representassem a identidade nacional. Assim,
vai estudar as manifestacdes folcl6ricas, as artes populares, as
dangas e miisicas tradicionais, tendo mantido uma estreita li-
gacdo com o pesquisador potiguar Camara Cascudo, a quem
incentivara escrever sobre 0 Catimb6. Os resultados dos estu-
era discipulo. Compunham o grupo nomes como Waldemar Valente, René
Ribeiro e Goncalves Fernandes.
2
Saworo Guincanhes DE SAULES
dos de Andrade foram apresentados em uma conferéncia Pro-
ferida pelo autor a Associacao Brasileira de Masica, em 1939,
com 0 titulo Miisica de Feiticaria no Brasil. Ap6s sua morte, esse
material foi publicado por Oneyda Alvarenga. Como 0 proprio
autor adverte, o livro consiste em um estudo preliminar sobre
tema, com sugest6es para trabalhos posteriores:
O Segitestro da Dona Ausente e Miisica de Feitigaria no Brasil i
dem ser publicados tal como estao, com a advertencia em su
titulo “conferéncias literdrias” porque o trabalho definitive er2
muito mais sério e cientifico. Tal como esto nao passam de
sugestdo para o trabalho de outrem (ANDRADE, 1983, 11).
Em sua pesquisa, Andrade ird enfatizar a influéncia indigens
no culto, distinguindo-o, no entanto, da Pajelanca. Sua obra ce
primeira a mencionar a existéncia de uma mitologia no Catimb6,
fundamentada no “Reino da Jurema”, que seria “uma das gran
des regides maravilhosas dos ares” (ibid. p. 30). Senco um estas
do, mormente, musicol6gico, 0 livro traz, ainda, uma andlise de
canticos rituais e 43 melodias dos catimbés da Paraiba, de Per-
nambuco e do Rio Grande do Norte registradas em partitura
Mario de Andrade ainda teria participagao importante, em-
bora indireta, em um registro do Catimb6 da Paraiba, em 1938.
Trata-se da pesquisa realizada pela Missao de Pesquisas Fol-
cloricas, criada por ele no periodo em que esteve como diretor
do Departamento de Cultura e Recreacdo da Prefeitura Muni-
cipal de Sao Paulo. Na Parafba, que foi o Estado mais coberto
pela Misséo, foram registrados trés casos de Catimbé. Dentre
eles, 0 do mestre Manoel Laurentino, no qual foi realizado um
dos primeiros registros da entidade Zé Pelintra, uma das mais
presentes no contexto da Jurema nordestina. Os resultados da
pesquisa foram publicados em Catimbé, escrito por Oneyda Al-
varenga, ¢ em Cachimbo e Marncd, 0 Catimbé da Missao, de Al-
varo Carlini. Este tltimo, que seria a publicagao, na década de
1990, da tese de doutoramento do autor, inclui relatérios de
Luiz Saia, chefe da equipe, a Sociedade de Etnografia e Folclo-
S888
BAQAASSOESe
Nd a a at
gee
ae
SRARAAKAHERAEERE
Digna com Camseanner
teressasse, uma espécie
‘CARLINI, 1993, p. 64),
Essa dificuldade na localizacio dos cultos deve-se a forte
repressao policial de que eram vitimas os catimbozeiros. Como
observou Fernandes na década de 1930: “Abordar mesa de Ca.
fimbo, mesmo das mais conhecidas, sem a fianca de pessoa de
dentro, € tempo perdido. A acdo repressiva da policia faz com
que retraiam as reuniGes” (1938, p. 89). Quanto ao fato de ter
sido informado de que havia “forte nticleo catimbozeiro” exis-
tente em Alhandra, Saia afirma nao ter visitado a regiao por-
que soubera, através de Goncalves Fernandes, do falecimento
da mestra que ali residia. Claro que ele referia-se a Maria do
Acais, que falecera um ano antes da visita da Missao.
Outra referéncia ao Catimb6 de Alhandra e ao culto pra-
ticado na propriedade do Acais jé havia sido feita por Azthur
Ramos, em 1934, Ao contrario de Andrade, de quem foi contem-
Poraneo, Ramos, discipulo de Nina Rodrigues, esta bem inseri-
do na l6gica da purificacdo que marcou 0s anos 1930. E é nessa
Petspectiva que ele faz uma das primeiras referéncias, embora
acidentalmente, a Jurema de Alhandra. Em O Negro Brasileiro,
24
Sawouo Guinaandes 01 Sates
no capitulo sobre o sincretismo religioso, o autor cita um tex-
{0 Publicado em 28 de marco de 1934, no Jornal de Alagoas, e™
ue é relatada uma caravana de Maceié com destino a0 Acais
A matéria, marcadamente preconceituosa ¢ ironica, do eae
Pedro Paulo de Almeida, descreve uma sessao de cura, na ie
teriam sido utilizados o fumo e o-vinho da jurema. O Jornal
explore, sobretudo, 0 fato de ter a mestra (provavelmente Mere
do Acais) zepreendido um dos visitantes que descansava SOP WT
Pé dejurema, alegando que tal ato seria a causa do insuces
odo texto:
teabalho de cura por ela realizado. Vejamos parte do text ae
— Meu sino, pru seu caso, ndo pude curar 0 meu
Continuous “Saia de ribadomestie” iano,
= Qual mesire, minha senhora? — retorguis 9 GrasSe
~ “Do mestze Espiridiao, que morreu, mas
do” nesse pé de jurema”! na mao, beljou
[..] E para satisfazer a feiticeira, de sees
humildemente o tronco da arvore, exclaman‘
= Perdao, spiridiao!*
Perdao, mestre Esp ie
ncia ao fato,
Assim, mesmo nao tendo dado importa ceatisdrios existentes
© primeiro registro das cidades da Jurema, s: ‘ona regio.
em Alhandra, de fundamental importancia para 0 W''0 "" grupo
Goncalves Fernandes, ligado a Arthur Ramos ¢ 4)
organizado por Ulysses Pernambucano, € 0 primeizo © a
gem afticanista que surge com Rodrigues a interessot 7" 7,
estudo do Catimbé. Em 1938, ele escreve 0 Folclore 1
Nordeste, uma das publicagdes da Biblioteca de Divules!
tifica, dirigida por Ramos. Apesar de nao tratar exclus Be
mente do Catimbé, é esse o tema central do livro, Ele traz. rela"
tos biograficos de mestras prestigiosas (como Maria do Acai
Joana Pé de Chita), descrigdes detalhadas da Fazenda do Acais,
além dle sessdes de mesa e “Jurema de chao”. A influéncia dos
estudos sobre as tradigdes africanas no Brasil, preocupagao
central do grupo ao qual estava ligado Fernandes, ainda se faz
*Apud RAMOS, 1988, p. 112-113.
25
A somana 09 JURBNA BNEANTADA.
__ notar pela énfase na presenca das sobrevit
f E 5 obrevivencias afric
Catimb6, especialmente as de origem jeje-nago. eee
Castigado durant
Costes te largo tempo de incompzeensio privagSes
Hnuas, pouco refeito pelos de sua raca, 0 negro perdeu 2
continuiidadl religiooa na Paraiba, De toda a ua riquezacimbs-
lia ficou a pratica do ebs, hipertrofiado como reasio ini para
efeitos magicos imediatos, tomando tio necessario era sentido,
todo 0 campo que restava duma organizacao mistica, Nao hou-
‘ve fuga para o culto dos orixés (FERNANDES, 1938, p. 8).
_ Otrabalho de Fernandes ¢ um marco no estudo do Catim-
66, sobretudo pela riqueza de suas descrigdes: a propriedade
do Acais, sua capela repleta de “santos bonitos”, a altivez da
mestra Maria do Acais, por ele descrita como “notavel, enri-
quecida, de modos de grande senhora” (id. p 86), entre ou-
ag. O Folelore Mégico do Nordeste vai orientar diversos estudos
sexe o tera, dentze eles os de Roger Bastide, 0 qual vai 0"
oor a questao colocada por Femandes sobre os fatores git le
Diam onegro na Parafba a “aceitar” o Catimbe como religifo.
ar putes estudiosos buscavam as sobrevivéncias africans
no Brasil, olhando 0 Catimbd com lentes purificadoras, Cama-
Be cascudo vai procurar os vestigios da magi europeia nessa
Te digao. Embora em Meleagro ele tambént aponte a presenca
narcan! ‘contexto, as influéncias da magia
te do negro nesse
Seveania — a magia branca europeia — 80, de fate,
Sree tp da obra Assim, descrevendo inicialmente © Catimb6,
oe firma: “[..] € uma soma de influéncias © convergéncias,
He > todos 09 cultos. A feigfo mais decisiva ¢ da feitsaria =X
Sopeia’ (1978, p.19). Cascudo descreve oragoes fortes, sess6es,
7OPFolos, a mesa e.0s objetos sagrados do Catimbéy sendo wm
dos primeiros a chamar a atengio para o fato de que muito do
que se pensava ser de origem africana nas préticas md igico-re-
ligiosas do Brasil tem, na verdade, uma origem euroPe Essa
aproximasao com 0 universo da magia greco-romar 6 funda-
puontada pelo autor tanto pela presenca, no Catimbé, de leis
‘universais” da magia, como as formuladas por Maus, Hume
Simos Gurmaadas ve Sates
e Frazer, por ele citados, quanto pela presenca de elementos de
origem europeia: oracdes, como a da Cabra Preta, esconjuro%,
como o “vai-te pro mar coalhado”, e simbolos, como o Selo le
Salomao ea chave de ago virgem.
‘Ao referie-se, no final de Meleagro, a “ciéncia catimbozeira”
de um mestre de Serraria, que empregava 0 “Sino Salamac” <
Sutros elementos da feitigaria branca, Cascudo afirma, “Feline
fo Saldanha, 0 catimbozeiro de Serraria, s6 empregou 28%
poe e europein, facile sabida, Nem uma reminiscencia 4
negra cu da América indigena” (ibid.,p. 207).
Tanbors Roger Bastide, como mencionado, tenha chal
atencao dos estudiosps dos cultos afro-brasileiros P&T Tt,
cessidade de olhar nao $6 0 “afro”, mas também “brasileiro”,
jmanteve um especial interesse pelas formas de ‘conservagao dos
tragos africanos no Brasil. Nessa diregdo, ocupow-s= £77 mostrar
a superioridade — em termos de pureza — 49 tradigdo nago-
EuPefato, o Candomble foi seu principal objeto de exnge,
ginda que tenha procurado dar conta do cenério das religiOes
ain i jleiras como um todo, no que chamou de Geograt ae
Religides Africanas no Brasil. O Candomblé, por cle considera-
do o paradigma das religides de matriz africana em nosso Pais,
Sia fem terinos durkheimianos) uma “verdadeira” religi80 ao
ae nia dos ealtos de tradicao banto, como a Macumba, aie
teria se “degenerado”, passando de religido a magia. Seguindo
a discussio iniciada por Fernandes (1938) sobre a presens® dos
negros no Catimbé da Parafba, Bastide argumenta que esS°5 °°"
Hem, em sua majoria, de origem banto, 0 que significaria ter
tuna mitologia menos "desenvolvida” e mais inclinada a magia
do que a daqueles da Guiné. Assim, diré que 0s primeiros, que
no teriam ultrapassado 0 estado de “animismo ou manismo”,
ma mitologia tao ricamente organizada
as divin-
mado
a ne
que nao possuiam “un
como a dos Yorubé, aceitaram com mais facilidade
dades da nova patria” (1945, p. 188). Como em Ribeiro (1978),
vemos aqui a mesma l6gica que associa os cultos bantos a uma
tendéncia a degeneraco, a impureza, ao sincretismo.
~-=222228866004
‘Asounna on yortun micawrann
__ Bastide também argumenta que o negro teria aderido a rel
ido do indio como uma estratégia para a ascensao social, uma
vez. que o primeiro estaria, desde 0 periodo colonial, abaixo do
segundo na estrutura social. Por outro lado, o Catimbd seria uma
“‘desforra” contra essa situagdo de “inferioridade”: “E ele [0 ne-
gro], em verdade, que se torna catimbozeiro, que dirige a sessio,
que comanda o grupo dos caboclos; ele inverteu a situacdo total-
‘mente; pela religio, tornou-se o chefe” (BASTIDE, 1945, p. 252)
‘A presenca dos negros no Catimbé seria, na perspectiva do
autor, uma escolha, um ato consciente, no qual 0 sujeito tem
plena consciéncia do que esta deixando para tras, de que sua
“verdadeira” cultura é a africana. Assim, essa aceilagao do ne-
‘gro em relacao a nao de uma
formagoes dos dois autores acima mencionados,
3 ‘brilhante em
exquiisa de campo propriamente dita. Embora 8 Ty. aces
vad andlises,‘chega, assim, a algumas conelusoes eee an
Stressadas, apresertadas em Jmagens do Nordeste Mir,
Bomee ¢ Preto e no primeiro capitulo de As Religioes AIT
no Brasil, Contudo, a obra de Bastide, cujas contibulske *
podem ser desconsideradas, consiste na primeira ano
Giologica do Catimbé. Suas ideias sobre o transe, POF 0
ctastendo-se da tendéncia ento vigente que o concebe © *9
fendmeno meramente patolégico — aproximando-se, Ness
pecto, das ideias de Herskovits —, foram fundamentals P
tim novo olhar sobre as religides de possessao no Brasil. Com
sidere-se, ainda, que me limitei, aqui, aos escritos de Bastide
sobre o Catimbé, longe, portanto, da pretensao de analisar sua
contribuigdo para o estudo da religiosidade popular brasileira
como um todo. O mesmo pode ser dito em relagao aos demais
autores citados,
ALGUNS ESTUDOS RECENTES
anc aS ees Primeitos trabalhos, a Jurema s6 viria a tornar-se
bjeto de pesquisa na década de 1970, com Roberto Motta, que
igh
A sowans Da juncNa ENCANTADA
ie ee
are -pernambucanos, tendo perscrutado a pra-
ma nos centros de Espiritismo popular nos terrei-
ros de Umbanda e Xango do Recife. pera
. Em suas pesquisas, Matta
constatou que o modelo considerado “classico” de religiao alti-
cana encontrado nessa cidade, o Xang@, era praticado apenas em
aproximadamente 15% dos terreiros, A Jurema, por sua vez, era
praticada em cerca de 60% dos centros de Espiritismo popular
(MOTTA, 2005). O autor inaugura, por assim dizer, uma nova
‘perspectiva nos estudos sobre a Jurema no contexto dos cultos
afro-brasileiros. Seus trabalhos, publicados em diversas revistas
especializadas e difundidos em encontros e congressos, vao con-
tribuir com a insergao do tema nos programas de pés-graduacao
‘Ainda na década de 1970, sob a orientacdo de Roberto Mot-
ta, é realizada a pesquisa de René Vandezande. O autor toma
como campo empfrico 0 litoral sul da Paraiba, mais precisa
mente os municipios de Alhandra, Caapora, Conde e Pitimbu.
Ele faz referéncia aos indios que habitavam a regido, situando-
08 a partir do contexto e das tensdes que marcaram 0 perfodo
Colonial. A tradicao da Jurema na regio, especialmente em
‘Athandra, é descrita e analisada enquanto uma pratica manti-
da pelas famlias descendentes desses indios. Vandezande des
tack, nesse contexto, a importancia do mestre Inacio Gongalve
Ge Barros, iltimo regente dos indios de Alhandra, e seus des-
Cendentes — dentre eles, a prestigiosa mestra Maria do Acais
© trabalho de Vandezande, tanto em seus aspectos etno-
gralicos quanto te6rico-metodolégicos, configura-se, ainda
hoje, como uma das principais referéncias sobre o culto em
‘Alhandra, Ele 6 0 primeiro a estudar o fendmeno das cidades
da Jurema ea chamar a atengdo para a destruicao desses san-
tudrios. Embora tenha enfocado, sobretudo, a tradigao do Ca-
timbo, tendo descrito as sessoes de mesa que predominavam
no cenério religioso dos anos 1970, 0 autor aponta a crescente
¢ inevitavel expansdo da Umbanda na regiao. Com efeito, no
postéicio da sua dissertacao, lé-se o seguinte comentario:
0
Sanpro Gunwanes 08 Snubs
[J estamos assistindo a0 nascer de uma religito tipicamente
brasileira, a umbanda, onde os simbolos de outras religioes
no Brasil so assimilados a tacos culturais diversos ¢ labo
ados em um novo conjunto religioso (1975, p- 208)
Em 1991, durante a II Reunido de Antropdlogos do Norte €
Nordeste, realizada no Recife, Luiz Assungdo apresenta uma
comunicacdo sobre 0 universo religioso afro-brasileiro na ©
Sade de Natal, destacando o culto da Jurema nese contexto &
chamando a atencao para a realizagao de pesquisas sobre essa
tematica (ASSUNCAO, 1991). Anos depois, o tema € retomado
Toautorem sua tese de doutorado, intitulada O Reino dos En-
Caminhos: Tradigdo e Religiosidade no Sertaio Nordestino
‘bre a Jurema, no contexto dos
sido realizados em terreiros lo-
‘como Recife, Natal,
o autor vai estuda-
cantados ~
(1999). Enquanto os éstudos so!
cultos afro-brasileiros, tinham si
calizados em cidades do litoral nordestino,
Joao Pessoa, Alhandra, Pitimbu e Caapora,
a em um novo universo espacial, o sertao nordestino. Assim,
toma como campo empfrico as “casas” de Umbanda situadas
nos sertées da Parafba, do Piauf, do Cearé e de Pernambuco
Finalmente, em 1995, é apresentada a dissertacao de mestrado
de Clélia Moreira Pinto, Sarmod Jurema Sagrada. Seu trabalho con-
siste em um estudo comparativo do culto da Jurema em trés con=
textos diferenciados: 0s terreiros de Xango e centros de Umbanda
do Recife e entre os indios Atkum, em Pernambuco. A autora
nos mostra que a influéncia do Catimbo seria uma das princi-
pais caracteristicas da Umbanda praticada no Recife. Do mesmo
modo, nas casas de Xang6 mais tradicionais dessa cidade, onde
ha uma maior resistencia ao culto da Jurema, este seria praticado
pela maioria dos seus membros em outros espacos de celebragao
‘ou em suas proprias casas. Em sua pesquisa, portanto, Pinto evi-
soe a see resenca dessa tradicio nos diferentes tipos
ee lira existentes na capital pernambucana
xposto, pode-se concluir que, nos estud
: f z dos sobre os
atuais cultos afro-brasileiros do Nordeste, o culto a Jurerr
impo Ac 4 x rama se
ipoe como fundamental a reflexdo, O interesse tardio pelo
A soma Dn JunnMa secatann
‘ema deve-se, mormente, ao fato de as atencdes dos estudiosos,
por muito tempo, terem estado voltadas para as tradicées ditas
mais “puras”, mais “auténticas”. O fato 6 que o cenério descri-
to pelo pesquisador muitas vezes reflete apenas 0 que ele quer
ver. No caso em questo, nao era do interesée dos estudiosos
aquilo que parecia ameacar a autenticidade do seu objeto de
estudo. Afinal, como explicar entidades como mestres, reis ¢
caboclos ocupando o mesmo espaco das divindades africanas,
quando se esté assentado em uma perspectiva de coeréncia e
pureza das tradigbes religiosas? Como escreveu Barth (2000),
9 antropélogo frequentemente se defronta com um cendrio
= cultural sincrético, mas seria “treinado” a suprimir os sinais
o- de incoeréncia € multiculturalismo com os quais se depara,
modernizagao. Desse modo, o pesquisador tende a olhar seu
objeto com um “filtro” que seleciona e descarta o que julga ina-
dequado. Contudo, a Jurema se apresenta na atualidade como
um campo fecundo, pouco explorado e desafiador, sobre 0
‘qual temos, ainda, mais perguntas do que respostas.
@ ~~. Considerando-os como aspectos nao essenciais, resultantes da
£
~~
a
ay REPENSANDO A JUREMA:
‘QUESTOES TEORICO-METODOLOXGICAS
O presente trabalho, escrito no inicio do novo século, reflete
as preocupagées, os limites e desafios de pensar a religiosidade
popular — eem especial o culto a Jurema — na contemporanei-
dade. Nas Ciéncias Sociais, e mais precisamente na Antropolo-
gia, a andlise dos mundos contemporaneos tem sido marcada
por uma tendéncia a autoreflexao e desconstrucéo, pondo em
questo a epistemologia modernista, ante a complexidade de
um mundo ao mesmo tempo integrado e fragmentado (AUGE,
1997). Nesse contexto, a emergéncia de novas conceptualiz.
Ges tem posto em questdo conceitos fundantes da Antropolo-
Bia, como cultura e tradigao, os quais nao seriam possiveis de
serem empregados sem uma ampla discussdo sobre seus limi-
Sawoxo GuIARAES 08 SALLES
tes e alcances. Com efeito, a cultura foi quase sempre tratada
como uma totalidade dada, objetiva, possuidora de uma coe-
rencia intrinseca, situada no tempo e no espaco, capaz. de ser
representada com neutralidade pelo antropologo. Quanto as
nnogoes de tradigao — que neste trabalho ocupa um lugar cen-
tral — ede “sociedade tradicional”, ambas tém sido usadas fre-
juentemente como conceitos nao avaliados. Essas concepcoes,
diré Giddens, poderiam ser explicadas pelos seguintes fatos: ,
Na sociologia, em razio de terem sido contrapostas a primei= \
: rena antropelogia, Por
aoe gis com a modemidade; cna antropelogy Po
aeenepeigo, uma das princpais implicaes da ia do
ee tao muito frequentemente tem sido mesclada
(GIDDENS, 1991, p- 80).
O fato 6 que o conceito de tradi¢ao por muito tempo fa
ligado a ideia de “sociedades da passividade”, cuja panels a
caracteristica seria a estabilidade dos seus fendmencs ©
Como procurou mostrar Balandier (1997), essas cose f
influenciaram ‘durante muito tempo as atividades te8e’a" ©
priticas dos antropélogos, enquadrando as sociedagies, PO
eles estudadas em um “perpétuo presente etnografico”. aed
cdo de tradicio & concebida na reflexio aqui proposta como NT
construto simbolico, definido nao apenas pelo passado, Pe OF
costumes ou elementos da cultura, mas pelo significado au
Ihe é atribufdo no presente, ou seja, pela acao (dos sujeitos Ne!
implicados) que vai reafirmar seus valores. : i
No campo da religiio, observa-se em nossos dias uma diS-
posigéo em compreender os fendmenos religiosos a partir da
transitividade e fluidez que tem assinalado suas praticas. A
questo de como se formam os sujeitos nesse novo contexto
~ em que as individualidades se assentam em uma “pluralida-
de incoerente”, “contraditéria” (CERTEAU, 2003) — e de que
modo sao formuladas as estratégias de representagdo e poder
estdo no centro das novas reflexdes das Ciéncias Sociais (BHA-
BEA, 1998),
Digna com Camseanner
‘A somona Da junema sNcanrTaDA
Essas ene:
nae dee ates sabe Boena dette fx implicayes
ase ae 5 grupos humanos vinham sendo representa-
velhos métodos e epistemologias. Como se sabe, essas
que ao se intensificar a partir dos anos 1980, nos Estados
Inidos, desencadeadas, em parte, pela chamada crise das repre-
sentapdes, tendo como principais protagonistas Clifford Geertz
— mais precisamente em suas conferéncias no Harry Camp Me-
‘morial, na Universidade de Stanford, em 1983 — e membros do
projeto Writing Culture, especialmente James Clifford e George
Marcus. O centro dessa discussao é a pratica etnografica enquan-
to mecanismo textual de produgfo de conhecimento e de autori-
dade sobre os outros e sobre as culturas. Geertz e os participantes
do Writing Culture, apesar de assentados em perspectivas te6rico-
metodol6gicas distintas, partilham a ideia de que a necessidade
de uma revisio da pratica etnogréfica seria uma consequéncia
do fim do colonialismo, enquanto um fenomeno modificador da
natureza da relacdo social entre os observadores e os observados.
‘Assim, a descolonizacao teria alterado as fundagdes morais da
etografia, abalando 0 “estar la”. Paralelamente, 0 “estar aqui”
seria abalado em suas fundacoes epistemoldgicas pela perda da
cconfianca na representagdo etnogréfica (GEERTZ, 2002).
Para Clifford, a caracteristica ambigua e multivocal das so-
zada no que Bakhtin denomi-
ciedades contemporaneas, sintet
nou de heteroglossia, tornaria cada vez mais dificil conceber a di-
versidade humana como culturas independentes, delimitadas
e inscvitas, Desse modo, os procecimentos pelos quais grupos
humarios so representados nao seriam possiveis de serem em-
pregados sem que fossem propostos novos métodos ou novas
epistemologias e sem que fosse considerado 0 debate politico
epistemologico sobre a escrita e a representacao etnografica,
Ao contribuir para o estranhamento e a desnaturalizacao
dessas praticas, 0s eriticos da etnografia, nos anos 1980, inicia-
ram um debate que ainda se mantém aberto, a partir do qual
mnenhum de nds sairé ileso.
Samoxo Guicashe> DE SAS
so meto-
em relagdo ao percu!
to de
Finalmente, é preciso dizer,
dolégico, que no ha um modelo pronto ou um comer A
vonceitgs velhos ou novos que possam ser empregades “it
Solugdes aos desafios da contemporaneidade, "est oe
forma seria uma contradigao com tudo que foi toe ae
Desse modo, cada caso ira nos conduzir a shordagene a
veeso eombinar varias delas, assim como SUBST Tt
ainda ndo experimentados. Toda essa imprevisil ass ae:
se ao fato de nao lidarmos com resis Oe
Tins ALE Tee at
c te. E, portant alida
( constante. E) portanto, CN andra na atualidade:
em {lux
quro pensar a tradigao da Jure
CConcrixtO E SUJEITOS DA PESQUISA
wais interlocutores 0S
tive como princip:
Sire dos ne, terreiros de Alhan-
Grind So Jodo Batista, do pai Bur 0
Zé Pilintra, do pai Jodo, ou Ciriacey
do pai Deca. A pesquisa”
texto dessas casas. As-
jecidas na Fazenda do
= ne-
Durante a pesquisi
sacerdotes e frequenta
dra; 0 Templo Religios
Centro Espirita do Mestre
eo Centro Espirita Ogum Beira-Mar,
‘no entanto, ndo poderia limitar-se a0 con!
sim, informagoes valiosas me foram forn ape
‘Acais, por Maria das Dores (Dorinha) e Beatriz (Cacula)
fas de Maria do Acais (av6 paterna) e da mestra Cassinur® (avo
‘am as conversas Com OS
materna). Nao menos importantes for. :
imestres Inicio da Popoca, Sebastiao, mestra Maria Grande e
dona Ivete.
Minha entrada no cenario da pesquisa di
Fazenda do Acais, a Vila Maria Guimaraes, des
tros, por Gongalves Fernandes (1938), René Vandezande (1975)
e, como mencionei acima, acidentalmente por Arthur Ramos
(1988). O Acais foi residéncia de renomados mestres, como Ma-
ria do Acais, Cassimira e Damiana. Meu contato com as her-
deiras da propriedade (Beatriz e Dorinha) comecou bem antes
do inicio da pesquisa, devido a uma antiga amizade existente
e através da
ta, entre ou-
22.2
ick
As
ae,
Re ee
Digna com Camseanner
meitos cor
oS ee com ee a (Chamados de mestres ou pais
n marcados por uma curiosidade recfproca, de
modo que, muitas vezes, era eu 0 observado, tendo que evpli
car quais eram os meus interesses. Nesses primeites momen
Ss ogate ee eee
santo e “cliente”, co
Além das contribuicdes desses, foram fundamentais as
conversas com os filhos e as filhas de santo, sobretudo aque-
Jas realizadas em suas proprias residéncias, em um ambiente
mais descontraido. Assim, visitei frequentadores das trés casas
estudadas, como dona Judite, do Templo Religioso Orixa Sao,
Joao Batista; dona Antdnia e dona Severina, do Centro Espiri-
ta Ogum Beira-Mar; e, principalmente, dona Ivete, do Templo
Religioso do Mestre Zé Pilintra.
Fora do contexto dos terreiros, seu Sebastido, discipulo do
renomado mestre Cesario, foi um dos que mais ajudaram no
desenvolvimento da pesquisa. Seus relatos, enriquecidos com
© seu modo peculiar de contar histérias, e sua companhia em
varias andangas pela regiao foram fundamentais. Com seus
63 anos de idade, sempre bem-humorado, fez. questo de me
acompanhar até as cidades da Jurema ainda existentes, como a
do mestre Cesério, da qual era zelador, e de mostrar os lugares
conde se encontravam as ja extintas. Foi seu Sebastido quem me
Ievou a propriedade de Estiva — que pertencera a Inacio Gon-
calves de Barros, tiltimo regente dlos indios de Alhandra —,
onde ficava a cidade do mestre Majat do Dia
antigas e renomadas da regio.
‘No menos importantes foram as cOn¥S ca,
Gabriel, também conhiecido como Inicio 38 20 ga. ty
82anvs de idade, 6 0 mais respeitade dos "et ig do
tendo convivido com seu Flésculo, filhe
sua esposa, Damiana, Seu Indcio era Ps
das filhas do casa, a quem chamav
xa, quase inaudivel, ele me recebeu divers2" °C teo na
fornecend informagdes importantes SO°%
especialmente sobre as cidades da Jur soa 0
Durante a pesquisa, entrevistei em JO a
te da Federagao dos Cultos Africano® Cen
Sr. Walter Pereira, que gentilmente HX eS
meiros da capital e dos municipios de Bayt,
‘historia da tradigdo da Jurema em NYT
cionei, esta intimamente ligada ao witim® To
da regio, Inécio Goncalves de Barros, © "°°. dados P
Desse modo, procurei reunir 0 maior nam
veis sobre sua familia, desde os documen’*™
René Vandezande) assinados por AONE
Aragjo, responsavel pela demarcacio das 10
Parafba, referindo-se a Inacio Goncalves, até Mr
recentes sobre suas propriedades e seus desc
goes mi
PLANO pos carfruLos
Or cinco capialos que compiem 0 livro esto organiza dos
da seguinte forma: 0 primeiro, intitulado O Legado ee
aborda algumas questdes referentes aos indios norecet
no periodo colonial, a presenga da jurema (bebida) entre eles;
sua suposta irreligiosidade e as implicagées do seu encontro
com os colonizadores. Em um segundo momento desse capi-
tulo, procuro situar o contexto em que surge o aldeamento de
Assuncao, ou Aratagui, sua elevacio a categoria de vila, até a
extingao definitiva do aldeamento, em 1862.
7
igh
‘A SOMRA DA JUREMA ENCANTADA
O segundo capitulo, O Ci
Interfaces, versa ces ee eel rey lurid o Sua
s ica dos processos de transforma-
so ¢ reelaboragao do cuit. Nele, procuro situ:
do Aca eee eee tuar a propriedade
penonacens reneas z la tradicao na regido, onde viveram
Besgonasene lnpartantes da Jurema, como Maria do Acais,
: ’, Fldsculo e Damiana. No segundo momento, procu-
ro situar a Umbanda, sua expansao no Pais e em Alhandra.
No Capitulo IM, intitulado O Cosmos Religioso, discuto o sis-
tema de crenca dos terreiros umbandizados da regio, a im-
portancia da tradicao dos antigos mestres juremeiros na recon-
figuracio do cenario religioso, seu universo mitico e simbélico
eas cidades da Jurema, Em um segundo momento, analiso a
interpenetragio ¢ circularidade dos elementos advindos dos
antigos mestres e da Umbanda, o pantedo, as obrigacdes, a m'
sica ritual e a bebida consumida durante as sess6es.
No Capitulo IV, intitulado O Espaco de Celebragio, procure
situar 05 trés terreiros nos quais realizei minhas observacbes.
‘Analiso os aspectos socivestruturais dessas casas, sua organi-
zag4o, seus dirigentes ea relagdo entre eles.
‘No Capitulo V, intitulado Os Rituais, descrevo dois toques
(cesses) para Jurema: 0 primeiro no Centro Espiita do Mes-
tre Zé Pilintra e 0 segundo no Templo Orixa Sao Joao Batis-
ta — um mais préximo dos elementos advindos dos antigos
1 csires jurcuieizos, e outro mais umbandizado. Ainda nesse
capitulo, abordo as sessdes de mesa e seus significados para 05
umbandistas de Alhandra e faco uma descrigéo de uma sesso
de mesa branca e outra de consulta.
Capitulo T
O Lecano INDIGENA
CCONsIDERAGOES INICIAIS
ligiosidade dos
‘Ainda conhecemos muito pouco sobre a religiosidaes -
indios nordestinos ¢ menos ainda dos indios do pet
nial. Contudo, nao € necessario muito esforgo para FEN:
que neles se encontram as géneses do culto a Jurem DEBE
a presenca de elementos indigenas nas cerimonias © ® Uo
tincia da Jurema na construgdo/manutencao da ider' 7,
étnica para a maioria dos indios nordestinos (GRONEWATD
2006), entre outros aspectos, evidenciam essa procedehS
fa principal evidéncia advém, sobretudo, da
rios documentos, principalmente a partir do sécul
registram a ligacio desses povos com a Jurema no P'?
a percebe!
encia de v4
existencis
Jo XVI, que
iodo CO-
5 dos Indios
foal O proprio documento que instituio Diretorio dos
em Pernambuco, criddo pelo Marques de Pombal, Cove
mos mais adiante, faz referéncia direta a Jurema, de
do que seja abolido inteiramente seu uso.
Pezessete anos antes do referido documento, em 1741, ume
Prete eas Vie fiaca por Flenvicue Lufo Pereira Freire 2
‘Andrada, Governador da Capitania de Pernambuco, ja alerte
va sobre 05 riscos da bebida. A comunicagao versava sobre 4
prisdo de “indios feiticeiros” na Capitania da Paraiba, relatan-
do que “nas aldeias usaram a maior parte dos indios de uma
bebida chamada jurema”. No anexo da mesma carta, enconta-
se 0 seguinte texto:
[..] nesta junta propos o Excelentissimo ¢ [lustrissimo Senhor
Bispo [que] se buscassem os meios precsos a remediar 05 et-
que se tem introduzido entre os indios, tomando certas
bebidas, as quais
idas, as quais chamam jurema, ficando com elas loucos €
AAARARAE VM AAA AAAAAAHRAAAAKSE
@e@aeaaanen
ig
ae ae
com visdes ¢ epresentasSes diabolicas pelas quais ficam per-
suadidos nao ser verdadeiro caminho 0 que lhe ensinam os
missionarios*
Outro documento, bastante citado na literatura sobre o
tema, também referente ao século XVII, foi descoberto por CA-
mara Cascudo nos Arquivos da Sé em Natal. Trata-se de um
fato ocorrido um ano ap6s a proibigao (no contexto do Diret6-
rio dos Indios) mencionada acima. Como no caso denunciado
pelo Governador da Capitania de Pernambuco, refere-se, este
documento, a uma prisao decorrente do uso da bebida:
Aos dois de junho de mil setecentos e cingtienta ¢ oito anos
faleceu da vida presente Antonio, indio preso na cadeia desta
‘idade, por razao do sumério, que se fez.contra os indios da al-
deia de Mepibu, 0s quaisfizeram adjunto de urema, quesse diz
‘supersticioso; de idade de vinte e dois anos, ao julgar, e pouco
‘mais, ou menos; faleceu confessado e sacramentado; foi sepul-
tado no adro desta Matriz de Nossa Senhora da Apresentacio
da Cidade do Natal do Rio Grande do Norte; foi encomenda-
do peloReverendo Coadjutor Joao Tavares da Fonseca; e pelo
‘seu assento fiz este, em que por verdade me assinei. Manuel
Correia Gomez, Vigério (CASCUDO, 1978. p. 28)
Finalmente, em 1788, o padre José Monteiro de Noronha
faz, em seu Roteiro da Viagem da Cidade do Pari até as Ultimas
Colénias do Sertio da Provincia, o seguinte comentario sobre os
indios Amanaié:
A sua religito é nenhuma, 114 poréi entre elles pithoes, ou
feiticeircs que 66 0 s40 no nome, fingimento e errada persua-
#0 a quem consultio para predig&o dos sucessos futuros, em
ut ge iteresso, recorrem para a cura das suas enfermi-
ace Imuis rebeldes.[..] Nas suas festividades maiores uzi0
ose sic mais habeis para a guerra da bebida que fazem da
mit deceto ‘Pio chamado — Jurema — cuja virtude 6 nimia-
‘mente narctica(apud LIMA, 1946, p, 60).
D 488 (Projeto Resgate/UEPE),
Sansko Gornardes BE SALLES
De um modo geral, é possivel afirmar que a literatura dei-
xada pelos cronistas a partir do século XVI. assim como OS
documentos alusivos ao periodo colonial, ainda que de or
questionayel valor para a iisionoee la oa) ra
sficiais quanto a religiosidade desses p : :
oaiiee ae da questéo indigena no Brasil a oe
‘uitas de no terem registrado nada sobre a c
am durante um longo tempo-
rem os jest
oeta Goncal-
daqueles com os quais conviver
Preocupagio esta ja manifestada em 1848 pelo poeta Tom
ves Dias, que, nomeado pelo imperador para investig5r
o estado da documentacdo hist6rica existente nas ee
io Para, do Maranhao e de outras peering
: dres, los:
do Nordeste, lamentava o fato de os padres, preocuPa2y
cristianizar os indios, ndo terem “desvendado” seus Cou T,
nem registrado nada sobre sua religifio © seus eee
Como escreveu Giucci com relagao a escrita ne ae a
a ra no sao 05 costumes 014 COS)
nial, “O que perdure en
e nos arquivos d
ind bora: §
indigenas, e sim uma série de textos elabo mene
conquista, os quais [...] reduzem a historia 4 meméria $°
de uma época” (1993, p. 88). somal
Ofato € que, desde o primeiro século da colonizasao,
fundida pelos cronistas e missionarios a ideia de que pth
brasileiros ndo tinham religiao, vivendo em completa anOOT
Costumava-se dizer, por exemplo, que estes N40 Ee ai
vam as letras F, Le R porque nao possuiam {é, lei ou rei. COnIO
escreveu Pero de Magalhaes Gandavo sobre a lingua dos ” geF"
tios”, em 1570, “nao se acha nella F, nem L, nem R, cousa digna
de espanto, porque assim nao tém Fé, nem Lei, nem Rei; € des-
ta maneira vivem sem justica e desordenadamente” (GANDA-
VO, 1980, p. 124).
Essa mesma “formula definidora” (GIUCCL, 1993) é reitera-
da por Soares de Sousa (1974) e por Frei Vicente de Salvador.
” Ver preficio da segunda edica 61
setts igo da obra Anais Hi -
nhs dohistorador Bemardo Percia Berredo, "©? Pstado do Mara
Digna com Camseanner
vn onsets cari
‘j Bate escreveu: “nenhuuma fé tém, nem adoram a a 5
nenhuma lei guardam ou precel algum deus;
© a quem obedegam” (
mencionada, ainda,
» P. 78). A formula &
PO Summario das Armatass
jesuita anénimo, ean 1504 de escrito por um
da Parafba, Essa suposta :
sendo associada ao
08, Cuja tradigao de-
tras,
no acreditavam no Diabo, Com,
Castro, “antes de ser ‘
fem efémeras e impr
‘anas, 0s indios deveriam ser sal-
Vos, e no escravizados. Essa ne
recessidade de converstio dos
“gentios”, em que pesem outros interesses, fo! a principal jus-
\ificativa para a colonizacao da terra de Santa Cruz’ ‘A des,
tmatio das Armatias que se fzeram, eguerras que se deram na conquis
ado rio Parahyba,
Como escreveu Laura de Mello Souza, muito fo dito sol
fornecedora dos mecanismos ideolo
brea religiso como
escamoteando o inter
gicos para a conquista das novos terms,
esse econ dmico eas atracidades cometidas tm note de
Deus. No entanto, embora sea inegavel a existéncia de um interesse materae,
poweo foi dito sobre a iy
tsta, dando,
\portanicia da religifo na vida do homem quinhen.
desse modo,
ouea importancia para o mundo complexo da
religiosidade (SOUZA, 2002, p. 33).
a2
Sawono Goinunnes be Sautst
crigo dos indios feita pelos inacianos, portanto, somobasivt
essa justificativa. Vejamos, como exemplo, o seguinte relato do
padre Fernao Cardim, escrito por volta de 1584, em seu Tratado
fda Terra e Gente do Brasil:
Be gn en cote pun it,
znem de cousa dp Céo, ne se ha pena nem gloria depois dee
‘awida, portato nfo tem adoragio nenhuma nem cern”
ins ow cute divine, massabem que ttm alma que ea 5°
more. fom grahde medo do deménio...ndo no adorso, nem
a alguma outra creatura, nem tém {dolos de nenhuma sorte,
{CARDIM, 1978] p. 102).
Como escreveu Pompa,
‘Os cronistas se recusavam a ver fatos de orcen religions onde
a Escoléstica nig manda encontré-los; por isto, 05 San pet
twpinambs so tho birbaros que no tém religito, Mas, Pot
onto lado, com ples precisa oe realizar 0 desenho diving 08
Bregasto do evangelho aos quatro cantos da terra, Por Sst
clesto "gents" acepsto eS. Paulo ousje nosso Har,
nados pela verdaderaf6,mas so pasiveis de recebé-la. Entre
barbaros e gens entre selvagens einooentes, entre austncia
de eg mera a presen de wn fando de hemanidade
que pode tornar o indio um bom cristo, se joge 2 parti
construcdo do indgena na terra de Santa Grwsz (2003, p41).
Um fendmeno ocorrido no Brasil quinhentista, no entanto,
iia por em xeque a ideia deirreligiosidade dos indios. Trata-se
da Santidade, culto registrado através das confissdes e dentin-
cias de baianos e pernambucanos diante do Tribunal da Inqui-
sigdo, em 1591 e 1592, & de dezenas de processos manuscritos
depositados na To:
re do Tombo, em Lisboa. No relato dos
siondrios, a Santid;
ROHAN
igh
Asowana pA juRtMA nearaon
de ordinario algum indio de ruim vida" (1978, p. 103). Segundo
ele, a Santidade tentava convencer os indios a nao trabalharem,
anunciando que, com a sua vinda, chegaria o tempo em que as
enxadas cavariam por si mesmas e os “panic” iriam as rocas e
trariam os mantimentos. .
Existiram varias santidades, sendo a mais conhetida a de
Jaguaripe, regio localizada ao sul do Recdncavo da Bahia. Para
Ronaldo Vainfas, que estudou particularmente esta iiltima, a
Santidade seria o mais importante movimento de resisténcia
amerindia ao colonialismo portugues. Sua expressiva aceitagio
entre os indios teria sido uma consequéncia do forte declinio
das populagies indigenas, vitimadas pela fome, peste e escra-
vidio. Esse culto contradizia, portanto, a ideia de “docilidade”
dos Tupi, que ndo s6 a ele aderiram, como institufram um papa,
ergueram uma igreja ¢ adoravam uma mie de Deus indigena,
que era um fdolo de pedra, a quem chamavam Maria.
Assim como o Catimb6, a Santidade reunia elementos cris-
tos e indigenas e tinha, do mesmo modo, a utilizacio do fumo
como elemento central". Como escreveu Vainfas:
.] 0 4pice da cerimOnia residia na defumagio com as folhas
da erva ou na ingestio de sua fumaga pelos freqlientadores e
condutores da cerimOnia, Razao de ser do culto, era a fumaga
do petum que transmitia a santidade... 08 indios recebiam 0
“espirito da santidade” e diziam que seu deus viria jé livré~
los do cativeiro e fazé-los senhores da gente branca (VAIN-
FAS, 1999, p. 136-137).
© que é fundamental para a reflexdio aqui proposta ¢ 0 fato
da Santdade most, sins no primo eéculo da coloniza-y
2 Esse fumo, que 0s indios chamavam de erca-santa, passou a ser consumi-
do por varios portugueses, que nele se toravam viciadas (CARDIM, 1978, p.
108). Tendo se estendido esse habito aiéas metr6poles, alguns palses europeus
ppessaram a proiti-lo, sobretudo por seu cardter “magico e rebelde” (VAIN-
FAS, 1999). No séeulo XVI, dois papas manifestaram-se contra sua utilizagio
centre os ecesisticos, sob pena de excomunhao,
gue indo etavam one dees te gue, 27
tas ideias e crengas do cristianismo acess
ntrério da apzegoada passividade dos indigenes no Pro
de colonizagio, para se estabelecer nas novas terras, On
sores enfrentaram forte resisténcia desses povos @
+ 2002). AJurema idade, po xe
do texto socioculturs — ae
1 Souz jade por’
wa Souza (2002), o surgimento de uma Feligios Pe
ja lis a to de a
tar ainda no Brasil quinhentista estaria ligado so it 2 de Ee,
pria cristandade brasileira distanciar-se da
se da a
indivel & explora
sobretudo por admitir a escravidao, impressing igma ie
Gio colonial, sendo, desse modo, caracteriz& pel
‘ni fraternidade”. A isso se somaria o fato c8 2
colonial s6 ter se tornado uma preocupasdo 26 0
do século XVII. Até mesmo as visitas pastorais ae oat
gidas pelo Concilio de Trento, 56 teriam acom
a ae. clerono
XIX. Assim, diré a autora que a relacdo entre Roma ee standade
; ach
Brasil teria dado espago para 0 sur} ger oe ada 00 poder
especificamente colonial, muitas vezes SUOT NA 6 negtor!
figos de branco, indio ¢ F
temporal ou aamnicy Es eR sno pelo fato de
ZA, 2002, p- 88)- :
(SOUZA, 2002, P- eae
raveis
‘pacdo em apontar os fatores favoraveis a0 SY
gimento da religiosidade popular no Brasil colonial jé ten
sido manifestada por Maximiano Machado na sua Histor’
Provincia da Parahyba. Para ele, houve, na Parafba quinhentis-
ta, certa tolerancia por parte dos jesuitas, que permitiam nas
aldeias as tradicionais consultas aos pajés e que os indios le-
vassem & guerra certas “divisas” ou “sinais”, com os quais Se
sentiam invulneréveis. Desse modo, o “corpo fechado”
sorte de crencas populares existentes na Parafba teriam deriva-
‘odessa “mistura” de elementos cristéos e indigenas, permiti
do is de elementos cristaos e indigenas, permiti-
Ga pelos jesuitas. Como escreveut esse autor: .
Essa preocu
45
Digna com Camseanner
——S-—ttt—~—N
{somes D4 JURENA EHCANTAEA
+ {J com essa mistura de crengas, ceremonias catholicas e pa-
gis ideavam os jesuftas uma theogonia pela qual tivessem
sempre 0s indios do seu lado, sem todavia serem suspeitos
ao governo da capitania. [..] Ainda hoje na gente rude dos
campos... subsiste a crenga do poder sobrenatural dos sezes
subalternos dos deuses dos selvagens. E ao mesmo tempo
que se confessa, ouve missa e reza o terso, nfo hd quem retire
do seu espirito essas abusdes, toleradas ao principio pelos je-
suitas, confundidas depois nas crengas e por fim transmitidas
as geragées até o presente (MACHADO, 1977, p. 350).
Entretanto, ndo s6 0s inacianos foram acusados de serem
complacentes para com os costumes indigenas. Segundo Frei
Antonio de Santa Maria Jaboatam, em seu Novo Orbe Seréfico
Brasilico, quando os frades menores assumiram a administragiio
das aldeias ao sul da Capitania da Paratba, trataram decombater
nos indios os “maus costumes” tolerados pelos jesuftas. Desse
modo, proibiram que cantassem suas “cantigas barbaras” eque
utilizassem os “sinais” e as “divisas” recomendados pelos pajés
‘aos que iam A guerra, obrigando-os a casar e viver como cris-
tos. Os que se recusavam eram amarrados a um tronco e casti-
gados. Anos depois, o governador da capitania, que precisava
dos indios como soldados em suas batalhas contra os franceses
0s Potiguara, condenou as agdes dos franciscanos, proibindo
que 03 indios fossem obrigados, por “forga e medo", a aderir 20
Cristianismo. Jaboatam, lamentando 0 ocorrido, escreveu:
Diretamente contra aley, ¢ doutrina que 08 religiosos tinharn
pregado, ate aquela hore, quebrando com isso 0 tronco, por
afrontar 0s religiosos, e os desacreditar com 0s indios, man-
dando-lhes pregar liberdades, do que resultou a cahida, que
Se verd adiante. (..] O que visto, e publico, 0 dito capitao se
contenta muito, e satisfaz, dizendo que sio soldados ¢ que
para soldados nao ha mister ser santos (1988, p. 6467).
Esces relatos, como tantos outros sobre os povos indigenas
no perfodo colonial, permitem afirmar, como mencionado aci-
ma, que, a0 contririo da apregoada passividade desses povos
«6
Swore Gumanais ve Saites
no proceso de colonizagio, os indios dlesempenharam um pa-
pel muito mais atuanteje complexo do que se supunha, “in-
teragindo com os demais agentes sociais de diversas formas,
que vio da fuga ao ataque, da negociagao ao conflito, da aco-
modagio a rebeldia” (PORTO ALEGRE, 1998, p. 32). As comu-
nidades indigenas, portanto, mantiveram um didlogo aberto
‘com os novos tempos (MONTEIRO, 2001). Assirn, embora ej
inquestiondvel a natureza contlitante desse encontro, ¢ preciso
livrar-se, como nos diz Pompa,
[uJ do costume difundido entre historiadores e antrop6logo
de configurar o encontro entre os missionérios ¢ 08 indigent
‘como um choque etre dois blocos monoliticos, um imponclo
seus esquemas cultlirais e religiosos ¢ 0 outro absorvendo-os,
sendo destrufdo (op aculturado) por cles ou, por outro lado,
“resistindo” em volta de sua imutével tradigio (2003, p. 21).
Nessa perspectiva, 0 indio ocupava na historia um dos dois
lugares a ele reservado: 0 de her6i resistente, irredutivel, man-
tendo a cocréncia ¢ pureza de sua cultura, ou o de vitima de
exterminio, de “aculturagio”, de destruiao de suas tradicdes.
Uma Jogica bindria, portanto, que deixa de considerd-lo como
sujeito histérico, obliterando suas negociagdes e estratégias de
poder, de afirmagado politica, suas reformulagdes de identidade
frente as transformagSes do contexto social e cultural. A esse pro-
pésito, tem havido, como afirma Boccara (2005), uma disposigao
para uma releitura do passado e do presente das sociedades in-
Pelee Balle de Bit oi odoroe e antropélogos, inclinados a
biel spe recesios pea adaptagao emudanga, aban-
io idvemorial, de “aha eto, ene. @ permanéncia de uma tradi-
se gmat de um lado, ea diluisio da identidade indigena
smos de aculturacao, do outro,
AVILA DEAUIANDRA |
Até meados
da Paraiba cctinha mie XVII toda a historia da C;
1, te ‘apitani:
fea hoje identificada como Mata Pat
ar
O.6 KE
CO
QL
DODAGAREY
igh
‘A sowota Di june Encanrana
raibana. Essa é, sobretudo, a historia dos Indios que 14 habita-
vam e do contato destes com os colonizadores. O municipio.de
Alhandra, antigo aldeamento de Aratagui, situado no extremo
Sul dessa espacialidade — area dé colonizagio mais antiga da
Parafba —, esteve diretamente ligado aessa hist
As terras onde a referida capitania foi criada pertenciam, em
sua maioria, & Capitania de Itamaracé e a uma pequena area da
Capitania do Rio Grande. Para a Coroa Portuguesa, a conquista
da Parafba foi.fundamental ex seu avanco rumo ao norte, que
linha como objetivos, além da conversio dos “gentios” a fé ca-
t6lica, a expansao da atividade canavieira e 0 controle sobre a
extragao do pau-brasil. Os poucos trechos ocupados antes da
conquista tinham sua permanéncia ameagada pelos Potiguara,
que resistiam ao avanco dos colonos luso-brasileiros, a0 mesmo
tempo que mantinham relacdes amigaveis com os franceses. Es-
tes — que nfo reconheciam a divisao das terras entre Espanha
e Portugal, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas — eram
mais um entrave ao avango dos portugueses, construindo ben-
feitorias e extraindo pau-brasil no referido territ6rio.
O fato que deu inicio a uma série de expedig6es militares a
partir de 1575, que resultariam na ocupasiio da Parafba, foi 0
ataque dos Potiguara ao engenho de Diogo Dias", localizado no
vale do Rio Tracunhaém, que pertencia A Capitania de Itamara-
cé. A tltima expedigao, de 1585, contou com a ajuda dos Taba-
jara, que haviam se instalado na Paraiba hé menos de um ano,
vindos das margens do Sao Francisco, na Bahia. Esses indios,
inicialmente, fizeram alianga com os Potiguara (seus antigos ini-
migos) nas lutas contra os luso-brasileiros. Alianca essa, contu-
do, que duraria pouco tempo, tendo os portugueses, em agosto
™ Dos indios Potiguara, da Serra da Copaoba, autorizados pelo Governador
Geral, haviam resgatado uma jovem india, filha do cacique Iniguary, que se
encontrava em poder de um mameluco de Pernambuco, De volta, a0 passa-
rem pelo vale do Rio Tracunhaém, Diogo Dias, encantado com a beleza da
jovem, teria raptado-a. Os Potiguara revoltados mataram Dias e quase todos
(6s habitantes do seu engenho, atacando, ao mesmo tempo, 03 outros povoa-
rmentos de Ttamaracs.
a
a
sano’
cordo com os Tabajara, 4
.ceses, prevalec
€ frances Pe = ito ance
wrap
de 1585, estabelecido a
contra os Potiguara
ates tnimizace entre 03 dois povos
gual 0s colonizadores bem souberamn 870%
Sintra os indios nese processo de OCUPAShS |
registrada no Sumario das Armadas, 20 I ST. (ua
Grito por um jesuita que acompanhou 92 ara.
fe Tabajara) nas lutas sangrentas cont
(Os ALDEAMENTOS ;
capi
‘A Parafba, que surge como
bordinada a Coroa, foi criada ocupanc® ©
do Rio Abias, na bacia do qual surB°,
fal do século XVD, 0 aldeamento de ATASEr
fawdo jor indios Tabajara. Na cape i. Veios if
primeiros Incumbidos da administragéo 1%
0 que significava cristianizd-los e mante- ee
lonos". Esses aldeamentos, de um modo gers) 7
mantidos seguindo a logica eo interesse do coloniz8
mostrou Carvalho, -
Inicialmente, quando a posigo portuguesa ainda
mente fragil e circunscrita, 03 aldeamentos estéo
pequena 4rea ocupada, a protegé-la. A medida que © P
potiguara vai sendo afastado, através de suce:
digdes de guerra, os aldeamentos so deslocados para mais
longe, de forma a permanecer “nas fronteiras” (expressdo
comum na documentagdo), protegendo os estabelecimentos
existentes, e ocasionando 0 deslocamento/desaparecimento
dos aldeamentos mais centrais (2008, p. 29-31).
‘
ina Pato
rapa, como fica ainda neste Fstado 0:
ou Aralagut, que recebeu o nome de.
i io pelos
Em 1746, 0 aldeamento é administrad
108 fra!
sana noes rome que hes FOR AACTEE hose
. Ereanose psuitas regisnamno como Aldet =f0d0r
iscanos ejesutas, regisirar=-10.6O" neste Pe
a sma pertence? alo
‘Assuncio de Aratagui. A mesma pert elevs
o 765, na ocast a.
freguesia de Taquara, S6 em 1: 2 te
° apa de vila, passaa ser denominada de Alhance—
Do ALDEAMENTO A VILA:
RA
fo Dineronio 00s {vores # A viLA DE ALHAND! seqoria 18 aia
A elevacao. do aldeamento de Arata catebdiget
vila de Alhandra) marca o Bim de ue
éculos e que
jras, mais CO-
do de 1755 2 1777,
i el.
iministro do Rei D. Jos: .
al assinou coma Inglaterr#
Sebastido José de Carvalho e Melo, 0 ‘
nhecido como Marques de Pombal, no perio.
em que este esteve como primeiro-s
inicio do século XVIIL, Portug: n ‘
o nat de Methuen, que aumentava sua dependencia om =
Jagdo aos ingleses. A grande dfvida que os Jusitanos conta |
a partir desse tratado, entre outros fatores, leva-os a uma rn
crise econdmica. Com o objetivo de mudar essa situagao, Pom-
bal inicia, a partir de 1755, uma série de reformas radicais em
Portugal e suas colOnias, combinando princfpios mercantilistas
com ideias iluministas. Como parte dessas reformas, a Capita~
nia da Parafba esteve anexada a de Pernambuco de 1756 a 1799.
en qual foi anexada também a Capitania do Cearé e
certo econbmicae polien de oa tommaresse o grande
0 ¢ politico de todo o Nordeste oriental.
53
Digna com Camseanner
S——
|
A onan 08 pa ECANEADA
Para Pombal, Portugal precisava sair do atras
encontrava (em relagio a outros paises europeus), ainda assen.
tado em uma politica feudal. Desse modo, os jesuitus foram
identificados como o grande obstéculo a criagao de um Estado
modero, laico, o que resultaria, em 1759, na sua expulsao da
metropole e das colonias portuguesas,
Distanciando-se da l6gi
0 em que se
tegré-los a
Sociedade portuguesa, transformando-os em vassaloe do ral
et A mesma lei de-
eamentos com um ndmero suficiénte de
ita ossem transformad vilas e que fosse tetirado
2.poder temporal dos missiondrios, sendo estes substituidos
Por governadotes, ministios e pelos principais dos indios. Pou-
© tempo depois, 1757, sob'o argumento de que estes tltimes
(ainda) nao eram capazes de se autogovernar, 6 instituido o
“Diret6rio que se deve observar nas Povoacbes dos indios do
Para e Maranhao enquanto Sua Majestade nao mandar o con-
trario”. Como nos diz Almeida:
sen
Entrava‘se, assim, no dominio do conceito de menoridade
do Indio © da necesséria tutela, Criava-se a figura do “dire.
tor", um servidor secular a ser nomeado pelo governador do
Estado para realizar, a exemplo de qualquer funcionério na
colonia, servigo de interesse publico nas missdes que também
se haviam transformado em éreas de dominio comum. © Di-
eldrio destina-se a instruir esses funciondrios no exercicio de
‘Seu ministério (1997, p.167-168).
No ano seguinte, uma versio adaptada do Diretorio écriada
em Pernambuco: a “Diregao com que interinamente se deve
regular os {ndios das novas vilas e lugares eretos nas aldeias
da Capitania de Pernambuco e suas anexas”. O texto apresenta
alguns
acréscimos em relagio ao de 1757, sendo um deles a
Proibigho direta a6 uso da jurema,
84
ps De SAUL
Sawpno GuIMiAKAt
jos as ebrie-
Advirto aos directores, que para desterrar ee ane da su-
dade os mais abuzos ponderados, uzem dos meen,
avidade e brandura, para que no suceda que, Seger
8 reforma em exasperagto, se retirem dO BO io castigoy
quenaturalmente os convida de sua parte o horror &0 Of
e da outra a inclinago aos barbaros costumes, & ae entindo:o
Ine esto cot instru e exemplo, nao conser
‘cameo dasjuremas contrdio nos bons costames © nada
Util, antes prejudicialissimo a satide das gentes*.
‘Odocumento consiste em uma série de adverténcias sae aie
retores sobre como esses devem “persuadir” os indios ORE
cesso de “civilizagao” e integracao, tomando como m« = a
branco civilizado, catélico, Entre as muitas recomendag oe
(Ores, enicontram-se as seguintes: o incentivo aos casa’ er
tos entre brancos e indios”, a proibicao do uso do termo ea o
para designar esses vassalos e seus descendentes, a proibigao
0 uso da lingua nativa e das moradias coletivas. Mais de urna
vez, 0 texto se refere a “prudéncia”, “suavidade” e brandura’
que os diretores devem ter em todas as suas execugdes, princi-
palmente quanto as reformas dos “abusos”, “vicios barbaros
¢ “costumes”, no sentido de evitar que os indigenas, “estimu-
lados da violencia, tomem a buscar nos centros do mato os tor-
es e abominaveis ertos do paganismo”s,
Somgpct
- coed seca
fete ges tmeegese ae? in
otenes ds graduades dene ican
'POstos, ficam
pags CIM 8 ioe
OBB SE68KE
igh
. a a AA ORAOOHHAL
a aso EO
; ‘Samono GUINA!
A sown Da yunena encarta
Para tal missio 0 juiz de fora Miguel Carlos de Pina Castelo
Branco, o qual ficou responsével por 23 aldeias nas capitanias
do Cearé, da Parafba e de Pernambuco, icando 0 ouvidor-ge-
ral das Alagoas, Manuel de Gouveia Alvares, esponsivel por
24 aldeias ao sul da Capitania de Pernambuco. Como mostrou
Carvalho (2008), na criagdo das vilas paraibanas, doze alde-
amentos foram resumidos a cinco vilas. Os aldeamentos que
nao sofreram elevacio foram transferidos para outros, sendo
misturados, inclusive, os Tupi do litoral com indios do interior,
considerados Tapuia — como no caso de Jacoca, que recebeut
indios Panati, vindos de Piancé, sertéo da Paraiba’, Os indios
do aldeamento Siri, em Pernambuco, foram transferidos para
Aratagui,
A ordem que recebera o governador de Pernambuco para
fundar as vilas determinava que as mesmas tivessem nomes de
lugares e vilas portuguesas. Desse modo, Aratagui, elevada a
categoria de vila em 1765, recebeu o nome de Alhandra -
Joo Martins Vianria Escrivéo nomeado para o estabelecimen-
to das novas Vilas. Certifico que as ordens régias contidas na
cextido retro foi publicado por mandado do Dr. Juiz de Fora
Miguel Carlos Caldeira cle Pina Castelbranco e para constar
oreferido passei z presente. Aldeia do Aratagui a 1°de junho
de 1765, ens fé de verdade.Joto Martins Vianna. [.] Pela mier-
‘cé, que receberam na criacdo desta Vila, que o Doutor Miguel
Carlos Caldeira de Pina Castelbranco, Ministro encarregado
desta diligéncia, apelidou com 0 nome de Vila d’Alhandra,
determinando que junto do Pelourinho, que fez eigis se pas-
assem as arrematagdes e mais autos que se devem celebrar
‘em publico e de tudo para constar fez este termo em que assi-
rout a nobreza da Vila [.®
3 Como visto, essa mistura de ndios Tupi com indios cansideradas Taputajé
hhavia ocorrido em Aratagui, com o descimento, ext 1704, dos Paisex,
2» Apud Carvalho, 208, p. 266.
A BATINGAO DOS ALDEAMENTOS
‘Alhandra, que continuaria ligad2
seria mais tarde integrada ao ae sere exteve
pando muniefpio em 1959. Henry Kost soar
Tnttagine doer sonnet Rien
g partimos para Goiaria, & rca de
‘mana partimos P* 0 en
ioper “Alhandra,aldeia incligena beat eu SD
woado 7% sien peace
tos moradores. Esse Po visto. Em vez wnt Pa que 3
om
10 os outros que tet ruas, rs v'
a tease #forado Pe TS omals POV.
casas de cae ig conservada, nada le! a proxi
rasa tena do roe de Ananda, PIT mo 08 Aue
es indigenas.
: es teguas, nto 80
Soiana core de tees 3
Seman ou rr,
seu meio os mamelucos € ™é
| a eriagdo da vill tos,
Passado mais de meio stele caine 5 documento:
‘go do Diret6rior
ira e 28 anos da extin
cricenciam as dificuldades entrentadas, no 8
imperial, na elaboragao de um “plano 8% ‘pes existentes ent
indios”, revelando a continuidade das tens tro. Dois desses
cesses, de um lado, ea Igreja eo governo, de ON Ba, de
documentos, um de autoria do vigsrio de Alhand®™ Tn
Melo Moniz, de 14 de setembro de 1826, e outro ooo ‘va, data-
tedas vilas do Conde e Alhandra, Felis Correia de Sou7®y rest
do de 9 de setembro do mesmo ano, foram enviados a0 Pl as
dente da Provincia da Parafba, Alexandre Francisco de Seix
Machado. Constam nos documentes informacées solicitadas
pelo Imperadlor, através do citado presidente, com 0 proposito
de ajudar na elaboragao do referido “plano”. Para tanto, eram
requisitados dados sobre a indole, os costumes e as inclinag6es
dos indigenas e sébre os motives pelos quais os esforcos para
nib ee donate despesas da Fazenda Publica”,
do Vigiti Brande tan s. Vejamos, portanto, parte da carta
ao dos
87
igh
tei |
A sounes 24 JURE EXEMTABA ed
Esta Vila de Alkandtra est situada em um terreno apreciével e
muito abundante de pescarias nos rios que a crculam, e man
sguss adjacentes, onde os nos vao diariamente carangucja,
dai tiram seus sustentos, e fazem alguns dinheiros Sand
rarem farinha, por isso que nada plantam....] os indios vi
vem aqui 6 entregues a indoléncia, enada trabalham tudo
falta de policia... ndo tém indole alguma, vivem brutalment,
or isso que nao tem quem com perfeicdo os c
inclinacdo dos indios é 0 écio, onda, peisaus em nada, a
‘ocupamy porém sempre se inclinam mais & arte do ma
De acordo com o document, a vila era c is
de duzentos “fogos” (casas) de indios, Dentre eses pone
fers arate se No tan 0 igs
f \es dos indigenas, acusando-os de
indolentes, de causarem prejuizos aos senhores de engenhos
da vizinhanga e de nao aproveitarem os investimentos que 0
Tesouro Publico teria feito para sua “civilizacio”. Vistos den-
tro de uma perspectiva meramente produtivista, os indios si0
descritos como preguicosos, apesar de ser relatado que estes
“diariamente” caranguejavam e assim garantiam "seu susten-
to”. Para combater os “maus costumes”, tanto o vigrio quan-
to Felis Correia, em sintonia com a politica assimilacionista
da época, propuseram que 0s indios fossem dirigidos por um
‘branco que residisse dentro da prépria vila. O comandante,
sendo ainda mais duro que o vigério, enfatiza as questdes de
insubordinagao e ociosidade dos indios. Vejamos alguns tre-
chos do manuscrito do primeiro ao presidente da Provincia.
CO costume ordindrio destes indios em todo tempo ¢furtar e be-
ber aguardente, por cujo motivo viveu em abatimento ¢ tudo
procede da ociosidade em que vivem, eles nfo temem nem res-
peitam a ninguém sto muito mudéveisna sua conduta,e muito
{nconstantes em todos os seus projetos, no ha quem vigie sobre
cles, para os domar inclinados a civiizarSo. [.] a preguigae in
You might also like
- O Tempo e A TecnosferaDocument2 pagesO Tempo e A TecnosferaMorgana MaréNo ratings yet
- Astrologia: Tudo SobreDocument64 pagesAstrologia: Tudo SobreMorgana MaréNo ratings yet
- Resumo o Taro Universal de Waite Edith WaiteDocument2 pagesResumo o Taro Universal de Waite Edith WaiteSerena GomesNo ratings yet
- UntitledDocument129 pagesUntitledMorgana MaréNo ratings yet