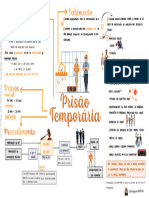Professional Documents
Culture Documents
1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade
1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade
Uploaded by
RAYANE ALIXANDRINO DUARTE0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views10 pagesOriginal Title
1.4_Expressões políticas da crise e as novas configurações do Estado e da sociedade
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views10 pages1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade
1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade
Uploaded by
RAYANE ALIXANDRINO DUARTECopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 10
Expressdes politicas da crise e as novas configuraces do
Estado e da sociedade ci
Elaine Rossetti Behring
Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (VER!)
O significado sic histrico ds transformagBes da socledadecontemporinaa
Expresses politicas da crise e as novas configuracées do Estado e da
sociedade ci
Introdugo
Pretendemos trazer, nas paginas que seguem, alguns subsidios para uma re-
flexio acerca dos impactos da crise do capital, jf caracterizada em muitos de seus
aspectos estruturais nos textos anteriores, sobre o papel do Estado e as relagdes,
entre este e a sociedade civil. A ofensiva burguesa dos anos 80 e 90 do século Xx
até os dias de hoje, tendo em vista a recuperacdo e manutencéo das taxas de lucro,
se deu em trés diregdes centrais, com intimeros desdobramentos: a re-estrutura-
cdo produtiva e a recomposic¢ao da superpopulagdo relativa ou exército indus-
I de reserva como sua condigdo sine qua non, com mudangas nas condi¢es
ica alteracdes das
estratégias empresa busca de superlucros e na financeirizacio do capital;
e na contrarreforma neoliberal, que atingiu os Estados nacionais, tencionados
pela dinamica internacional e pela crise do pacto social dos anos de crescimento,
estes tiltimos marcados pela extensdo dos direitos e politicas sociais e pelo com-
promisso com o “pleno emprego” fordista-keynesiano. No Brasil, estes processos
ganham configuragSes particulares, considerando que nao tivemos situacao de
pleno emprego: tivemos aqui a crise do Estado desenvolvimentista, que ampliou
‘© mercado interno de trabalho e de consumo, sem nunca chegar @ sombra do
pleno emprego, do pacto social-democrata e do Welfare State.
Nossa anidlise estard centrada na questo do Estado no contexto da crise do
capital, aqui visto sempre em sua relaco com a sociedade civil, pelo que cabem
alguns esclarecimentos tedricos preliminares: 0 Estado capitalista modificou-se a0
longo da histéria deste modo de produgao, a qual se faz na relacao entre luta de
classes e requisigées do processo objetivo de valorizacSo e acumulacéo do capi-
fecunda e clissica orientago marxiana de que os homens
realizam sua hist6ria, porém, no nas condicdes por eles escolhidas. Nesse senti-
1 0 presente tonto trae 8 revisioe atuslzagio de dois tens do Capitulo 1 de med vo Bras em Contra-Refor
‘mar desesruturagbo do Esto e perdo ded
exempls sobre 0 Br
‘que ver do amadurecimenta d
Estudos e Pesausas do Oreamer
mbito do PROCAD/CAPES, culo
(Cowtez, 2006, preausise =
70
do, Estado acompanha os periodos longos do desenvolvimento do capitalismo
de expansio e estagnacdo e se modifica histérica e estruturalmente, cumprindo
seu papel na reproducao social do trabalho e do capital, e expressando a hege-
‘monia do capital, nas formagées sociais particulares, ainda que com tragos gerais
comuns. Ou seja, trata-se de um Estado que ganhou certa autonomia em relaggo
2 dinmica imediata da sociedade civil, sobretudo no perlodo dos chamados Anos
de Ouro ~ 1946 ao inicio dos anos 70 do século Xx — (HOBSBAWN, 1995), mas que
manteve uma direcao politica com consciéncia de classe: a hegemonia burguesa,
‘expressando a correlaco de forcas na sociedade civil. Aqui val outra observagio:
vemos a sociedade civil como territério das relacdes econdmicas e sociais priva-
das, da luta de classes, da disputa de hegemonia, da contradi3o. Essa dinamica da
sociedade civil tem reflexos no Estado, os quais so mediados pelas suas institui-
ges e quadros técnicos, mas assegurando-se sua direcdo de classe. Assim, Estado
e sociedade civil compSem uma totalidade, donde nao se pode pensar o Estado
sem a sociedade civil e vice-versa. Nesse sentido, cabe ressaltar a sensibilidade
gramsciana para essa dinamica quando sugere o conceito de Estado ampliado ar-
ticulado & hegemonia. E nesse marco que pensamos o tema em foco, Recusamos,
portanto, a perspectiva analitica segundo a qual o Estado seria o mbito do bem-
comum e érbitro de conflitos que emergem da sociedade civil ilusBo social-demo-
crata alimentada pela experiéncia geo-politicamente situada do welfare state. No
‘mesmo passo, rejeitamos a “satanizagio” neoliberal do Estado como o simbolo da
ineficiéncia e da corrupco; e como complemento dessa linha de argumentacao,
a edificacao da sociedade civil como Iécus da virtude e da
efetividade, ideologia largamente difundida em tempos de neoliberalismo. A lei-
‘ura rigorosa do Plano Diretor da Reforma do Estadi ‘odocumento
orientador das mudangas no ambito do Estado brasileiro nos titimos anos e que
caracterizamos como uma contrarreforma do Estado (BEHRING, 2003), revela esta
Liltima ideia forca.
10 Estado em tempos de crise do capital
Alguns campos de intervencdo do Estado por ocasido do periodo fordista/
keynesiano ~a promosio de uma politica expansiva e anticiclica, a articulacdo de
um aparato produtivo auténomo, a garantia dos servicos publicos, a dotaco dein-
fraestrutura, a realiza¢do de alguma redistribui¢ao de renda por meio das presta-
Bes socials na forma de direitos, tudo isso fundado numa elevada produtividade
e rentabilidade do capital — que deram suporte a um periodo de avanco susten-
tado do emprego e do consumo (MONTES, 1996, p. 23 ¢ 26) pareciam configurar
avancos civilizatérios perenes, capazes de evitar crises da monta de 1929/32 e de
sepultar as anacronicas ideias liberais que regeram 0 mundo até o crack da Bolsa
n
UNIDADE
de Nova lorque. Segundo Montes, o neoliberalismo, contudo, descobre os “peri-
g0s0s efeitos” do Welfare State. Sao eles: a desmotivacio dos trabalhadores, a
concorréncia desleal (porque protegida), a baixa produtividade, a burocratizagio,
a sobrecarga de demandas, o excesso de expectativas, E a conclusfo neoliberal é:
‘mais mercado livre e menos Estado Social, a partir de final dos anos 70 quando
‘assumem governos claramente identificados com a programatica conservadora,
Trata-se de uma verdadeira contrarreforma (BEHRING, 2003) e esta vai ad-
uirir maior ou menor profundidade, a depender das escolhas politicas dos gover-
nos em sua relacdo com as classes sociais em cada espaco nacional, considerando
a diretiva de classe que hegemoniza as decisdes no ambito do Estado (BEHRING,
2002, p. 32-33). Trata-se de uma contrarreforma, jé que existe uma forte evocacéo,
do passado no pensamento neoliberal, com um resgate extemporaneo das ideias,
frais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006), bem como um aspecto realmente regressi-
vo quando da implementagao de seu receitudrio de medidas praticas, na medida
‘em que s&o observados seus impactos sobre a questo social, que se expressa nas
condiigBes de vida e de trabalho das maiorias, bem como as condigées de parti-
cipacgo politica. Que linhas gerais s80 essas? As politicas neoliberais comportam
jumas orientacBes/condigBes que se combinam, tendo em vista a insergo de
um pais na dindmica do capitalismo contemporéneo, marcada pela busca de ren-
tabilidade do capital por meio da re-estruturacao produtiva e da mundializacio:
atratividade, adaptacio, flexibilidade e competitividade.
Os Estados nacionais tém dificuldades em desenvolver politicas industriais
restringindo-se a tornar os territérios nacionais mais atrativos &s inversdes estran-
geiras. Os Estados locais convertem-se em ponto de apoio das empresas. Para
Husson (1999), uma das fungdes econdmicas do Estado — a qual Mandel (1982) ca-
racteriza como sendo de assegurar as condigdes gerais de producSo — passou a ser
a garantia dessa atratividade, a partir de novas relagdes entre este e grupos mun-
diats, onde o Estado tem um lugar cada vez mais subordinado e paradoxalmente
estrutural. Dentro disso, os Estados nacionais restringem-se a: cobrir 0 custo de
algumas infraestruturas (sobre as quais ndo hd interesse de investimento privado),
aplicar incentivos fiscais, garantir escoamentos suficientes e institucionalizar pro-
cessos de liberalizacéo e desregulamentacdo, em nome da competitividade. Nesse
sentido Gltimo, so decisivas as liberalizacBes, desregulamentacées e flexibilida-
des no ambito das relagdes de trabalho — diminuigio da parte dos salérios na ren-
da nacional, segmentacao do mercado de trabalho e diminuicdo das contribuigées
Sociais para a seguridade e do fluxo de capitais, na forma de investimento Externo.
Direto (IED) e de investimentos financeiros em portfolio. Aqui, tm destaque os
Processos de privatizacao, reduzindo as dimensdes do setor publico, para livrar-se
R
Osignifeade sco-histrico das transformasbes da socedade contempornes
de empresas endividadas, mas principalmente para dar “guarida” aos investido-
res, em especial ao IED (CHESNAIS, 1996; GONCALVES, 1999). Nesse sentido, os
processos em curso no Brasil de privatizago, de abertura comercial e financeira
fe desregulamentago, desde Collor, quando inicia entre nds a contrarreforma do
Estado, no poderiam ser mais embleméticos (BEHRING, 2003).
Dal decorre que “I... 0 Estado, que supostamente representa o interesse
geral, disp8e a partir de agora de uma base mais estreita [de aco e poder deci-
s6rio] que @ empresa mundializada cujos interesses orientam a ago deste mes-
mo Estado” (HUSSON, 1999, p. 121), com destaque aqui para o capital financeiro
€ 0 papel das dividas piblicas como instrumento de presséo politico-econémica
e chantagem sobre os Estados nacionais, para que implementem suas politicas
endo exercam a soberanta. Assim, assuntos de vocacao particular orientam os
de vocagao geral e de interesse publico, no quadro de uma dissociacdo entre o
poder econémico mundializado e o poder politico nacional. Essa tendéncia ndo
acompanhada pela construcgo de instituicSes supranacionals que no séo ca-
pazes de suprimir todas as funcdes do Estado-Nacio, mas que exercem alguma
coordenacio sobre 0 mundializado territério do capital. De forma que a mundia-
lizagdo altera as condigbes em que o Estado-Nagao articula os compromissos ins-
titucionalizados entre 0s grupos sociais no espaco nacional. Trata-se de gerir um
forte fracionamento social e territorial. Hd uma perda de coeréncia entre Estado,
aparelho produtivo, moeda e sociedade, produzida pelo referido fracionamento €
pelos movimentos de deslocalizacéo do capital internacional, que terminam por
requerer um Estado forte, que enfatiza “a lei e a ordem” (WACQUANT, 2001), pre-
sidindo os “grandes equilibrios” sob o olhar vigilante das instituicSes financeiras
(HUSSON, 1999, p. 123).
Ha, com a mundializac3o, uma tendéncia a diminuigéo do controle demo-
rético, com a configuracao de um Estado forte e enxuto que despreza o tipo de
consenso social dos anos de crescimento, com claras tendéncias antidemocraticas,
Nesse sentido, a hegemonia burguesa no interior do Estado reafirma-se de for-
ma contundente com o neoliberalismo, cujas politicas engendram uma concepcio
singular de democracia, que abandona a perspectiva do Estado liberal de direito
de um tecido social mais denso e participativo em nome: da participacdo nos
processos eleitorais, os quais se convertem — em muitas situagdes, mas ndo em
todas, dependendo dos processos histérico-socials internos dos paises ~ em me-
canismos plebiscitarios de legitimagio do sistema; do reforco do poder executivo
em detrimento dos demais poderes constitucionais; do freio ao desenvolvimento
de uma sociedade civil mais densa e capaz de interferir e controlar os processos
decisérios; da animacdo, em contrapartida, de um “associacionismo light” e bem
B
UNIDADE
comportado, que tem a fun¢io de amenizar as sequelas da dura politica econémi-
ca, ao lado de uma relacao dura e antidemocratica com os segmentos mais criticos
e combativos da sociedade civil.
Considerando que essas condicdes referidas anteriormente — de gesto do
fracionamento por parte do Estado-Nago — no so as mesmas no capitalismo
central e na periferia, Observa-se que enquanto os governos ao norte da Linha do
Equador atuam pragmaticamente em defesa da competitividade, sem abrir mao
da sua soberania (especialmente com medidas protecionistas do mercado inter-
no, de patentes e de suporte tecnolégico, em alianca com os grandes grupos de
origem nacional), 0 modelo de ajuste estrutural proposto pelo Banco Mundial ¢
© FMI para a periferia reforca ainda mals essa perda de substdncia dos Estados
nracionais. Estes tiltimos, a exemplo do Brasil desde o inicio dos anos 90 e de forma
‘mais contundente a partir do Plano Real, reorientam a parte mais competitiva da
economia para a exportacdo, o que implica um largo processo de desindustrializa-
‘so e a volta a certas “vocacdes naturals” ~ bastando observar a mudanca estru-
tural da pauta de exportagdes brasileiras nos ultimos anos e o recente projeto do
etanol e da bioenergia. Contém o mercado interno e bloqueiam o crescimento dos
salérios e dos direitos socials. Aplicam politicas macroeconémicas monetaristas,
‘com altas taxas de juros e 0 estfmulo & depressio dos fatores de crescimento, for-
ando 0 desaparecimento de empresas e empregos. Com essas medidas, tais Es-
tados, a exemplo do Brasil, encontram dificuldades de desempenhar suas funcées
de regulagdo econémico-sociais internas. Dai, decorrem fortes impedimentos para
© avanco da democracia. Na América Latina, de uma maneira geral, assistiu-se a
praticas politicas extremamente nefastas, que variaram da fujimorizacdo peruana
até o Estado de legalidade formal (DALLARI, 1997), no Brasil, por melo das exces-
sivas medidas provisérias e decretos. Estes exemplos confirmam que, se houve
regressao das formas abertas de ditadura em muitos paises do mundo nos uiltimos
anos, existem enormes dificuldades de consolidacio de regimes democraticos, 0
que remete a um certo mal-estar da democracia em tempos neolibe
registra sensivelmente Bobbio (1986).
Cabe desenvolver uma outra determinacdo em todo esse processo. Para
‘além da mudanga substantiva na dirego da intervencdo estatal engendrada pela
mundializacgo, observa-se a chamada crise fiscal do Estado*. Da virada para a
‘onda longa com tonalidade depressiva a partir de 1973, decorre uma inflexdo na
receita e no gasto puiblico, Como se sabe, é 0 esgotamento do keynesianismo, com
54 prmetra formulaeso sobre actse
do Estado encantra-e em O'Connor (1977). Uma sntese extn de
Osieificdo sco histo das transformagBes da socledade contemporanea
sua especifica combinacdo entre capitalismo e social-democracia. Ocorre que, en-
tre 0s aspectos da intervencio estatal, foram ampliadas, no ciclo expansivo, as
fronteiras da proteco social, seja por pressio dos segmentos de trabalhadores
‘excluidos do pacto welfareano — setores nao monopolistas'® — pela universalizaco
dos gastos sem contrapartida, seja dos incluidos no mesmo pacto — trabalhadores
dos setores monopolistas ~, com corregdes de beneficios maiores que a inflacéo,
‘em funcao de seu maior poder de barganha. Os trabalhadores dos paises de capi-
talismo central, estimulados pela condico do pleno emprego, reivindicaram uma
cobertura maior e mals profunda no 4mbito do Welfare State. No contexto da re-
versio do ciclo econémico, a renda nacional é contida enquanto aumenta 0 gasto
ico em funcSo das estratégias keynesianas de contencao do ciclo depressive
.das quando estourou a crise: af reside a razdo
mais profunda se as demandas de protecSo social por parte
dos trabalhadores de fato se ampliaram, como constata O'Connor, a depressao
dos fatores de crescimento e as tendéncias de queda da taxa de lucros propiciam
as resisténcias para seu atendimento, num contexto em que passa a ser questio~
nado o custo direto e indireto da forca de trabalho, em funcdo da queda da taxa
de lucros. O interessante é que a carga tributdria nao caiu apesar das medidas
adotadas, como mostra o estudo de Navarro (1998), 0 que aponta para um redi-
recionamento do fundo pubblico no sentido dos interesses do capital, apesar dos
iscursos neoliberais em defesa do Estado minimo.
Destaca-se, ainda, a tendéncia de crescimento da rentincia fiscal a partir
jrada do ciclo expansivo para a estagnagio no inicio dos anos 70. Para David
Heald (1983), trata-se de uma redistribuigao as avessas, que tende a se ampliar na
se, constituindo um welfare state invisivel, © qual beneficia largamente o em-
presariado. Ou seja, a crise fiscal é induzida ndo apenas nem principalmente pelas
pressdes dos trabalhadores por maior protego social. Este foi, na verdade, um
argumento para a defesa neoliberal do corte dos gastos sociais, escamoteando as,
intengdes reais de diminuiggo do custo do trabalho, ao lado da imposicSo de der-
rotas aos segmentos mais organizados dos trabalhadores, a exemplo dos mineiros
a Inglaterra dos anos 1980 e dos petroleiros no Brasil, em 1995. £ evidente a reo-
rientaco do fundo puiblico para as demandas do empresariado e a diminuicao da
taxacdo sobre o capital, que alimentam a crise fiscal, o que se combina as relagbes
assimétricas entre os palses e ao processo de financeirizacao, a exemplo do papel
das dividas pdblicas para a pungo de mais-valia pelos bancos (ANDERSON, 1995;
CHESNAIS, 1996).
28 sour a atngio ent
25
1
Para além do impacto da reniincia fiscal crescente no contexto da crise, 0
re-estruturagdo produtiva tem fortes implicages para a carga tributdria. A pul-
verizago da grande indiistria e o crescimento do mundo da informalidade de-
sencadeiam a perda do “power of enforcement” do Estado e dificuldades de ar-
recadagio pelas fontes da seguridade social, j4 que o controle fiscal de pequenas
empresas e do trabalho informal encontra grandes dificuldades de operac
za¢do. A regulaco keynesiana se preparou para um contexto de desemprego cor
juntural, diante do qual é admissivel 0 deficit publico para estimular a demanda
efetiva, segundo a l6gica keynesiana. Entretanto, a revolugdo tecnolégica infirma
ipdtese como estratégia de largo prazo, haja vista o desemprego estrutural,
a tendéncia a horizontalizagio das empresas e a mundializago,
Num contexto em que hé presso pela alocacSo do gasto puiblico, a disputa
pelos fundos piiblicas intensifica-se. Entdo, sob o argumento ideolégico da “escas-
sez de recursos”, de “conter o déficit publico”, ou mesmo, como no caso do Brasil
hoje, de “evitar a volta da inflacdo” e engendrar um circulo virtuoso de crescimen-
to, preconiza-se o corte dos gastos estatals, para o “equillbrio das contas publicas”,
como indicador de satide econémica. Assim, promove-se, do ponto de vista fiscal
uma mudanca de pauta regressiva, que atinge especialmente os direitos e as po-
Itticas sociais.
2 Caracteristicas da Politica Social no Neoliberalismo
As politicas socials entram, neste cenério, caracterizadas como: paterna-
listas, geradoras de desequilibrio, custo excessivo do trabalho, e, de preferéncia,
devem ser acessadas via mercado, transformando-se em servicos privados. Esse
Processo é mais intensivo na periferia do capitalismo, considerando os caminhos
da politica econémica e das relagdes sociais delineados no item anterior, bastan-
do observar a obstaculizagio do conceito constitucional de seguridade social no
Brasil, a partir dos anos 90 (MOTA, 1995; BOSCHETTI, 2003; BEHRING; BOSCHETTI,
ectiva, os beneficios, servicos
para se tornarem direito do
protecdo social pelo Estado, o que, aos pouco:
em conflito nese processo eminentemente politico, vai configurando um Estado
minimo para os trabalhadores e um Estado maximo para o capital (NETTO,1993}.
que hé resisténcias e sujeitos
Deve-se considerar também que a degradaco dos servicos publicos e o corte dos,
gastos sociais levam a um processo de privatizagao induzida nesse terreno. Ou
seja, ha uma mercantilizacao e transformagao de politicas sociais em negécios 0
que expressa 0 processo mais amplo de supercapitalizacdo (MANDEL, 1982). O
capital nao prescinde de seu pressuposto geral ~ o Estado —, que Ihe assegura as
|6
|
0 signicado seco histérco das transformactes da socledadecontemporines
condigbes de produco e reproducio, especialmente num ciclo de estagnacéo.
Hoje, cumprir com esse papel ¢ facilitar 0 fluxo global de mercadorias e dinheiro,
por meio, como jé izado, da desregulamentacdo de direitos sociais, de ga-
rantias fiscals ao capital, da “vista grossa” para a fuga fiscal, da politica de privat
za¢%o, entre indmeras possibilidades que pragmaticamente viabilizem a realizacgo
dos superlucros e da acumulaco. Nas licidas palavras de Montes, tem-se que “o
neoliberalismo, mais que menos Estado, propugna outro Estado. O que pretende
6 mudar algumas de suas pautas, porém néo tem asco da intervencéo do Estado
quando preserva e garante os privilégios do capital, individual ou coletivamente
considerados” (1996, p. 86 ~ Traduco de minha responsabilidade).
Este é 0 cardter do ajuste estrutural proposto pelos organismos internacio-
nais, como forma através da qual as economias nacionais devem adaptar-se 2s no-
vas condig6es da economia mundial. Como bem apontam Grassi, Hintze é Neufeld
(1994), estes mesmos organismos jé admitem o custo social e politico do ajuste,
tanto que passaram a ter preocupacdes em relacdo ao flagrante crescimento da
pobreza e decadéncia de indicadores sociais nos paises que vém aplicando o re-
ceituério econdmico do Banco Mundial e do FMI. Esse interessante estudo das au-
toras argentinas mostra os discursos de consultores e dirigentes dessas agéncias,
desnudando o caréter meramente compensatério da intervencao social presente
‘em suas proposiges: a politica social ambuldncia das vitimas do ajuste fiscal ou
estrutural. O estudo identifica ainda as divergéncias entre os varios organismos
das NagBes Unidas quanto 2 questdo das estratégias de enfrentamento da po-
breza ~ que, na verdade, a nosso ver, so estratégias de gesto, administraclo,
compensacao e vigilancia e contengo dos pobres.
© ajuste tem passado, na verdade, pela desregulamentaco dos mercados,
pela redugao do deficit fiscal e/ou do gasto publico, por uma clara polit
como condicao para empréstimos dos pafses da periferia. Para a
assim, a grande orientacao é a focalizacdo das a¢des, com estimulo
de transferéncia
, bem como
das organizagées flantrépicas e organizagSes no governamentais prestadores
de servicos de atendimento, no ambito da sociedade civil, como preconizava o
Programa de Publicizaco do PORE/MARE (BRASIL, 1995) e ainda apontam docu-
mentos recentes do governo federal brasil », que se referem a boa focalizac3o,
(BRASIL, 2003). Aqui, observa-se a emerséo de uma espécie de clientelismo (pos)
moderno ou neocorporativismo, onde a sociedade civil € domesticada ~ so
tudo seus impulsos mais citicos ~ por meio da distribuigSo e disputa dos parcos
Fecursos publicos para agées focalizadas ou da seleg3o de projetos sociais peles
n|
LUNIDADE
agéncias m
terals, Estes sto processos que vo na contramio, no caso brasi-
sssegurados pela
3 Para legitimar a barbérie
Um aspecto central para engendrar tais transformagBes no Ambito do Esta-
do e da sociedade civil é a grande ofensiva ideoldgica em curso. De fato, para man-
ter-se como modo hegeménico de organizagio econdmica, politica e social, num.
mundo to Inseguro e violento cujo sentido ngo se orlenta-para.catendimento.
IM inlimeras estratégias ideoldgicas e culturais, tendo a midia, especialmente a
‘TV (SALES, 2005), como um instrumento decisivo de constituigo de hegemonia
Tals estratégias, combinadas aos processos anteriormente sinalizados, tém sido
bastante eficazes para garantir o consentimento e
Por parte de amplos segmentos e evitar uma radi
‘as expressdes mais radicalizadas de demandas e
politico e/ou a coer¢o violenta.
Tem-se, dentro disso, a massificada divulgaco, pelos mais variados instru-
‘mentos de midia, de algumas “verdades incontestaveis” e aparentemente racio-
nals ~ acompanhada da desqualificagio dos argumentos em contrério -, no senti-
do de forjar um consentimento ativo e majoritério para as medidas econémicas e
politicas tratadas nos itens anteriores. Para tanto, conta-se com o aval de amplas
Parcelas da comunidade cientifica. Eis o chamado pensamento tnico, ou
Conjunto sistemstico de Ideias e medidas difundidas pelos melos de comunicacéo
de massas, mas também dentro dos ambientes bem pensantes, estes ultimos as-
saltados por profundos pragmatismo e imediatismo. O pensamento
amplamente nos anos 90, mas ainda mantém sua forca neste inicio de
Portanto, a hegemonia (ANDERSON, 1995) do grande capital, que se expres-
sa na sua capacidade de implementar as chamadas “reformas orientadas para 0
mercado”, que envolvem as mudancas no mundo do trabalho, a redefini¢ao do
préprio mercado, com a mundializacdo e a contrarreforma do Estado, s6 € possivel
‘a partir de um suporte ideoldgico que envolva em um véu de fumaca as consequ-
ncias desastrosas desse projeto ao norte. do Equador, promovendo o que
Santos chama de(a confusdo. 7 sim, chega aolimite o fetiche_
Jo reino universal eas mercadorias, com sua transformacao das relacSes entre ho-
‘mens em relagbes entre coisas, que oculta a natureza dos processos econmicos ~
:
0 signincadoséco-histérico das transformasbes de sociedad contemnportnet
esociais de dominacao e.
{mbiente do neoliberalismo potencializa o fetiche da mercadoria e a reificacdo®,
jé que o cardter das relagBes sociais aparece ainda mais ocultado pelo espetaculo,
pela difusdo massificada do governo das coisas sobre os homens, com 0 que se
aprofunda a alienago dos mesmos sobre sua condico material e espiritual.
Jameson (1996) analisa estes processos e sugere que se compreenda o pés-
modernismo como uma dominante cultural e estética integrada 4 produco de
mercadorias. A organizaco da produco no capitalismo tardio requer uma funclo
estrutural da inovagdo estética e do experimentalismo, qual seja, produzic produ-
tos que parecam novidades, inventar necessidades. Essa dominante cultural da
spoca POSsuT alguns tacos CONSUIUCWOS" Tala de profundidade e a superficiali-
dade; a auséncia do gesto utdpico (presente na arte moderna); a falta de espago
aberto ao espectador; o esmaecimento do afeto; uma certa frivolidade gratuita;
© fim do individuo, da “pincelada nica”, embutido na massificago e mercanti-
liza¢o, com a crescente in rando © pastiche
@ a imitacao, e metamorfoseando © que era estilo nos modernistas em cédigos
pés-modernistas; a canibalizacao aleatéria dos estilos do pasado, engendrando
ecletismo estilistico (a exemplo da arquitetura); o esmaecimento da temitica mo-
derna do tempo, da duracdo e da meméria, ao lado de uma coloniza¢o Insensivel
do presente pela modalidade da nostalgia, que desloca a histéria real, na impossi-
idade de interferir (ou pretender-se a) ativamente em seu curso; o predominio
do espaco sobre o tempo; e uma auséncia de personalidade, que denota a “morte
do sujeito”.
Esses tragos remetem, para 0 autor, a uma crise da historicidade, na qual a
produsao cultural apresenta-se como um amontoado de fragmentos, uma prética
da heterogeneidade e do aleatorio. Hé uma quebra das cadeias de significagio nes-
se processo, que leva & esquizofrenia, ou seja, a reducdo da experiéncia estética a0
de puros presentes nao relacionados
no tempo" (1996, p. 53), destituidos de intencionalidade e significados. Assim, 0
presente invade 0 sujeito, com uma intensidade avassaladora, produzindo uma
certa euforia isolada. Um outro aspecto sinalizado ¢ a relacdo dessa perspectiva
com a revolugao tecnolégica, que fortalece a reproducao e a cépia, Falando sobre
uma tipica obra de arquitetura pés-moderna, Jameson mostra a relagio indiferen-
” Sobre fetchismo e reifcacdo na socedade captalst,consuar: Marx (2988, Seco 14), Bottomore (1588,
150. 314/316) e Luks (1989),
7
te que é estabelecida com o espaco urbano ao seu redor, projetada em sua parede
de espelhos; de sua intencao de no fazer parte da cidade, mas de substitui-la, de
criar um mundo & parte, em meio a desagregacdo urbana. Ele conclul: “O Bona-
satisfaz-se em ‘deixar o tecido urbano degradado continuar a ser em
seu ser’ (para parodiar Heiddeger). N3o se espera nenhum outro efeito, nenhuma
transformacdo ut6pica protopolitica” (1996, p. 57). E, por dentro, este hiperes-
ago — a exemplo da proliferacao dos shopping centers — submete as pessoas 4
deslocalizagao, dificultando a capacidade de mapear sua posicéo, desnorteando
2 percepsao corporal. Esta é a perspectiva pés-moderna, tomada por Jameson
como a dominante cultural do capitalismo tardio, cuja complacéncia celebrativa
do presente e a assertiva de que estamos numa sociedade pés-industrial so para
ele inaceitéveis.
© argumento de Mota (1995) acerca da existéncla de uma cultura da cr
‘se, como elemento constitutive do fazer politico burgués no sentido da disputa
ideoldgica e constituicgo de hegemonia, na década de 80, é imprescindivel para
pensar as condigdes de legitimagio da contrarreforma do Estado e das politicas,
regressivas neoliberals. Para a autora, uma cultura politica da crise recicla as bases,
da hegemonia do capital, mediando as praticas sociais das classes e formando um
novo consenso. Ou seja, ainda que o capital esteja vivendo uma crise orgénica, ¢
de larga duragio, esta no géfa mecanicamente uma crise de hegemonia (1995,
p°3B). Assim, o enfrentamento da crise relaciona-se & capacidade das classes de
fazer politica, disputando na sociedade civil e no Estado a conducao do processo.
Compée essa disputa a difusio por parte das classes-dominantes de uma cultura
da crise, cujos componentes centrais so pensamento privatista e a constituicéo
do cidaddo-consumidor, com o sentido de assegurar a adesdo as transformagdes
no mundo do trabalho e dos mercados. O exo central do convencimento repousa
fem que hé uma nova ordem a qual todos devem se integrar, e que € inevitével a
ela se adaptar. Estes s8o termos que compéem as justificativas-da-contrarre
ma do Estado$0 discurso prossegue afirmando que outros projetos fracassaram,
@ exemplo das experiéncias socialistas e da socialdemocracia, do que se deduz
mecanicamente uma relacdo entre crise ca
maior ou menor do Estado{A jé referida “Satani nese
argumento, tanto quanto a intensa exploracao polltico-ideoldgica da imploséo da
Unio Soviética em 1991, como “prova” de que hé apenas um caminho a seguir,
como reafirmam os fundamentos do Plano Diretor da Reforma do Estado (1995),
no Brasil.
A crise, sempre localizada no Estado, e a tecnologia — tratada como se ti
vesse vida prépria ~ vo requerer ajustes estruturais que atingem a todos de for-
80
significado sé histric das transormagtes de sociedad contempornes
mma supostamente igual, e que exigem iguais sacrifclos de todos. Dessa forma,
luem-se as dferencas de classe num consentido e sofrido esforco geral de ajuste
f de “eformas’, cuja orientagSo socioeconémica encontra-se, por exemplo, no
chamado Consenso de Washington (FIORI, 1994) Jo integrados, restam
politica focalizadas de combate 8 pobreza, redes de proteco social e, no
pallcia. Todo o esforgo volta-se para.aInsttulgSo dos novos objetos de consenso.
Segundo Mota, s8o eles: “a desqualificagso teérica, politica e historica da existen-
ia de alternativas positivas & ordem capitalista e a negacdo de qualquer mecanis-
mo de controle sobre o movimento do capital, seja enquanto regulaco estatal,
teja por melo de outros mecanismos democréticos de controle socal, em favor da
tegulacio do mercado” (1995, p. 97) Para ela, esses so(Tagos gerai} de uma cul.
tura que compe a ofensiva do grande capital em nivel mundial, mas que assume
tragos particulares em cada formagSo Soctal
Ainterpretagao da crise, adicionada a capacidade de difundi-la como visto
de mundo ideoldgica (LOWY, 1987), vai se amalgamando em amplas camadas da
sociedade como verdade ¢ principio orientador, formando uma cultura/ethos que
é parte de uma contrarreforma intelectual e moral, empreendida pela burguesia,
ou seja, de natureza conservadora. Na verdade, uma espécie de contrarreforma
no nivel dos habites, dado o cardter regressivo das transformacSes em curso.na
lidade e na consciéncia dos homens, que é reforcada pela experiéncia estética
ida por Jameson.
anal
Milton Santos aponta que a realizagio do mundo neoliberal requisita fé-
bbulas, a exemplo da morte do Estado, enquanto se assiste ao seu fortalecimento
para atender aos interesses financeiros e de minorias; ou da aldeia glob:
@ SeU Uso na esfera da Informago contém potencialidades enormes no sentido
da construgdo de uma nova sociabilidade, hd que se pensar na técnica tal como
sada pelos homens: “As técnicas apenas se realizam, tornando-se hist
intermediag0 da politica [..]” (2000, p. 26). E.0 motor tinico do uso das técnicas
at
UNIDADE
fabulacbes, percepcées fragmentadas e do discurso unico invasive do mundo, 0
ue significa um globaritarismo. Ele denuncia o papel despético da informacio
manipulada, que é transmitida para a m: jue, em lugar de
egclarecer, confunde, Por sua vez, a publicidade, forjando necessidades, configura-
s€ como um novo “encantamento do mundo”. O consumo, para Santos, € 0 grande
mo do nosso tempo, que, junto 3 competitividade, engendra o si
ico da época, Ramonet agrega ao argumento de Santos uma ful
ante ofensiva no sentido da padronizacéo, homogeneizacdo e uniformizacao dos
padres de consumo e dos costumes na chamada world culture (1998, p. 47). A
impressdo de que a técnica é uma exterioridade que imprime uma nova dinamica
fora do controle dos homens, ou seja, a naturalizac&o da técnica, acoplada & sua
despolitizaco lugares comuns amplamente difundidos pela midia — so fortes,
i a de dominacio, fortalecendo 0 argumento
componentes de uma cultura in
daCnecesséria adaptacio3 Ao lado disso, o parametro da competitividade resulta
‘num individualismo exacerbado e toda forma de compaixao e de sociabi-
lidade fundada na alteridade e na solidariedade, o que é diferente do solidarismo
em voga.
fa politica —com uma mercantiliza¢ao da democracia —e até o mundo da pesqui
‘gientifica, no que ele caracteriza como um cerco as idéias, promovido pelo pen-
Samento tinico, que leva a um descompromisso com a verdade por parte de mul-
tos intelectuais, que, ao invés de dedicarem-se a desmontar esses argumentos,
aderem ao pragmatismo despético reinante, numa verdadeira desqualificagdo do
espaco académico™, Esses aspectos engendram um violento “sistema da perver-
sidade”, que glorifica a esperteza e a avareza, em detrimento da sinceridade e de
generosidade, sistema esse que atravessa a sociedade e 0 Estado e mina as ba-
ses da democracia, mesmo sendo essa limitada e formal na sociedade burguesa.
‘A democracia vé-se ameacada, num quadro em que a politica no ambito do Es-
l Para Santos, o globaritarismo invade Ideologicamente o mundo do trabalho,
ima agenda fundamental
Der e apes por pate das entiades da
0 sgnicadosdcio-natvco das transormasbies da soedade contemporinea
tado, que supde uma visdo de conjunto, é substituida pela politica empresari
Entdo, 0 que se tem é uma néo-polltica, inclusive no que refere a0 enfrentamento—
da questo social, com a transferéncia de acdes — focalizadas — para 0 “terceito
setor”, processo que caminha ao lado do crescimento da pauperizacao absoluta e
relativa da maiorla da populacdo. Esta ndo-politica € acompanhada da mobiliza-
Go do voluntariado, de um lado, e de uma espécie de clientelismo modernizado,
na relaco entre Estado e organizagdes da sociedade civil, que também constitui
cespaco de construcéo de adesio e cooptacio.
Nota Final
Nossa geracio est assistindo/vivendo o império da barbérie (MENEGAT,
2001), da fragmentaco e do fundamentalismo no espaco mundial internaciona-
izado, onde a material ou
espiritual, mostra toda a sua perversidade. Pensamos que no & possivel interferir
este curso apenas pela implementacio de politicas racionais localizadas e ad hoc,
inda que elas sejam necessérias, ea luta em sua defesa imprescindivel. Uma ldgi-
a, que é global, deve ser enfrentada globalmente, motivo pelo qual movimentos
de cunho internacional como as mobilizagdes altermundistas contra 0 G8 e contra
Davos so esperancas importantes. Mas sao fundamentals as expresses de re-
isténcia nacionais, a exemplo das mobilizagBes francesas contra a precarizagSo
do trabalho e dos direitos, e nos banilieus, contra a discriminagao e a violéncia
em como os Movimentos recentes na Argentina, Equador, Venezuela e
0s instrumentos articulados no periodo da redemocratizas
précesso transformista nas organizacdes de massa construidas, a exemplo do PTe
da CUT, razao pela qual esse projeto obteve bases de legitimidade para expansao.
Hoje, ha um lento processo de rearticulacdo das lutas sociais e de construgao de
outros instrumentos, mas que se realiza em condicdes complexas e dificeis. Cabe-
Ros apostar na velha toupeira da histéria, com sua sabedoria e suas surpresas,
Para superar esse momento de perdas tanto nos sentido da emancipa¢do politica,
‘quanto, e sobretudo, no da emancipacéo humana, com seus impactos no Estado e
na sociedade civil. A saida, portanto, é exigente e politica.
NiDAbE
Referéncias
ANDERSON, Perry. Balanco do Neoliberalismo.
|. Pés-Neoliberalismo: As Politicas Sociais
Paz e Terra, 1995.
: SADER, Emir; GENTILL, Pablo
Estado Democratico. Rio de Ja-
BEHRING, Elaine Rossetti, Brasil em Contra-Reforma: desestruturacao do Estado e
perda de direitos. Sdo Paulo: Cortez, 2003.
Politica Social no Capitalismo Tardio. 2. ed. S80 Paulo: Cortez, 2002.
4; BOSCHETTI, Ivanete. Politica Social - fundamentos e histéria. S40 Paulo:
blioteca Bésica de Servico Social, 2006.
Principals Abordagens Teéricas da Politica Social e da Cidadania. Politica
‘Médulo 03. Programa de Capacitaco Continuada para Assistentes Sociais.
|, CFESS/ABEPSS/CEAD-UnB, 2000.
. Reforma do Estado e Seguridade Social no Brasil. Ser Social. Brasilia, DSS/
UnB, n- 7, 2000a.
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 5. ed. So Paulo: Paz e Terra,1986.
BOSCHETTI, Ivanete, Assisténcia Social no Brasil: um Direito entre Originalidade e
Conservadorismo. Brasilia: Ivanete Boschetti, 2003.
BOTTOMORE, Tom (Ed.). Diciondrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 1998.
CHAUI, Marilena. A Universidade Hoje(Revista Praga’) Estudos Marxistas. Sio
Paulo, HUCITEC, n. 6, 1998,
CHESNAIS, Frangois. A Mun
lizagéio do Capital. S80 Paulo: Xam, 1996.
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um Estudo sobre seu Pensamento Politico.
Rio de Janeiro: Campus, 1989.
DAIN, Sulamis. O Real e a Politica. In: SADER, Emir (Org.) O Brasil do Real. Rio de
Janeiro: Ed, UERJ, 1996.
DALLARI, Dalmo. O Estado de Direito segundo Fernando Henrique Cardoso. Revi
ta Praga, So Paulo: Hucitec, n. 3, 1997.
24
significado sco ristérico das transformagbes da sociedad contemportnes
a )
FIORI, José Lu(s. Debate sobre 0 Ponto Critico: Consenso de Washington X Apar-
Estudos em Satide Coletiva, n. 90. Rio de Janeiro: Instituto de
Medicina Social/UERJ, 1994.
GONGALVES, Reinaldo. Globalizagéo e Desnacionalizagdo. Sdo Paulo: Paz e Terra,
1999.
GRASSI, Estela, HINTZE, Susana; NEUFELD, Maria Rosa. Politicas Sociales: crisié y
iste estructural. Buenos Aires, Espacio Editorial,1994.
HARVEY, David. Condigdo Pés-Modemna. So Paulo: EdicBes Loyola, 1993.
HEALD, David. Public Expenditure. Oxford, England: Martin Robertson, 1983.
HOBSBAWN, E. A era dos extremos. So Paulo: Cia das Letras, 1995.
HUSSON, Michael. Miséria do Capital - uma eritica do Neoliberalismo. Lisboa: Ter-
ramar, 1999.
(MESON, Fredric. Pés-Modernismo~ A Logica Cultural do Capitalismo Tardio. S40
Paulo: Atica, 1996.
LOWY, Michael. As Aventuras de Karl Marx contra 0 Bardo de Miinchhausen. Mar-
mo e Positivisme na Sociologia do Conhecimento. Séo Paulo: Busca Vida, 1987.
LUKACS, Georg. Ontologia do Ser Social: os principios ontolégicos fundamentais
‘de Marx. S80 Paulo: Ciéncias Humanas, 1979.
. Histéria e Consciéncia de Classe. Porto, Elfos, 1989.
MANDEL, Ernest. A Crise do Capital. Ensaio. Sao Paulo: UNICAMP, 1990.
- 0 Capitalismo Tardio. Séo Paulo: Nova Cultural, 1982.
MARX, Karl, Para a Critica da Economia Politica. Sdo Paulo: Abril Cultural, 1982.
. O Capital; critica da economia politica. 3. ed. Séo Paulo: Nova Cultural,
i988,
0.18 de Brumério de Luis Bonaparte. Portugal: Editorial Estampa, 1976.
A Questéo Judaica. $40 Paulo: Editora Moraes, s/d.
LUNIOADE
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. S40 Paulo: Cor-
tez, 1998,
MENEGAT, Marildo. Depois do Fim do Mundo: a crise da modernidade e a barbé-
rie. Tese de Doutorado. Instituto de Filosofia e Ci&ncias Sociais — UFRJ, 2001.
MONTES, Pedro. E! Desorden Neoliberal, Madrid: Editorial Trotta, 1996.
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da Crise e Seguridade Social: um estudo sobre as
tendéncias da previdéncia e da assisténcia social brasileira nos anos 80 e 90. S20,
Paulo: Cortez, 1995.
NETTO, José Paulo. Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal. Séo Paulo: Cortez,
1993,
O'CONNOR, James. USA: a crise do estado capitalista, Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1977.
O'DONELL, Gulllermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos. So Paulo, CEBRAP,
n. 31, outubro de 1991.
OLIVEIRA, Francisco de. Os Direitos do Antivalor — a economia politica da hegemo-
nia imperfeita, Petrépolis/RI: Vozes, 1998.
RAMONET, Ignacio. Geopolitica do Caos. Petrépolis/Ri: Vozes, 1998.
SALES, Mione Apolinério. (InJvisibilidade perversa: adolescentes infratores como
‘metafora da violencia. $30 Paulo: Ed. Cortez, 2005.
SANTOS, Milton, Por uma Outra Globalizagao: do pensamento tinico & consciéncia
Universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.
WACQUANT, L. As prises da miséria, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
Documentos Oficiais Pu
BRASIL. Politica Econémica e Reformas Estruturais. Ministério da Fazenda, abril de
2003.
- Plano Diretor da Reforma do Estado. Ministério da Administracao e da
Reforma do Estado, Brasilia, 1995.
86
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Proc Penal Prisao TemporariaDocument1 pageProc Penal Prisao TemporariaRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet
- Prisao em FlagranteDocument1 pagePrisao em FlagranteRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet
- Amostra de ExcelDocument1 pageAmostra de ExcelRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet
- Contagem de PrazoDocument1 pageContagem de PrazoRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet
- Hardware IIDocument15 pagesHardware IIRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet
- Expressões Políticas Da Crise e As Configurações Do Estado e Da Sociedade CivilDocument22 pagesExpressões Políticas Da Crise e As Configurações Do Estado e Da Sociedade CivilRosana Quevedo0% (2)