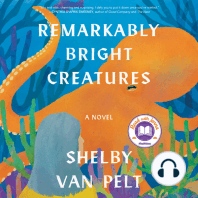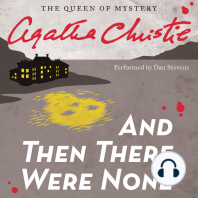Professional Documents
Culture Documents
Aulas Praticas Tomas Cunha
Uploaded by
Afonso Donas-BôtoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Aulas Praticas Tomas Cunha
Uploaded by
Afonso Donas-BôtoCopyright:
Available Formats
lOMoARcPSD|12188079
Aulas Práticas — Tomás Cunha
Direito Comercial I (Universidade de Coimbra)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
DIREITO COMERCIAL I
DIREITO COMERCIAL I
AULAS PRÁTICAS COMENTADAS
Samuel Gomes e Tomás Cunha
22-02-2021
Estas aulas são a súmula de um trabalho colectivo. O Samuel foi às aulas todas e apontou com
grande detalhe tudo aquilo que foi leccionado. Por seu turno, eu desenvolvi algumas partes da
matéria usando como referência o manual do Prof. Coutinho de Abreu e os apontamentos do
Nuno Devesa, qualquer dia Doutor desta cadeira (quiçá, nunca se sabe). Vou dormir. Um
abraço. 3:21, dia 22 de fevereiro. Coimbra
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Direito Comercial I
1.ª Aula – 19/10/2020
1. Atos de comércio e comerciantes
Quando dizemos que o Direito Comercial Português é um direito de atos e um direito de
comerciantes devemos ter a noção da sua importância e das suas consequências práticas.
Algumas normas ilustrativas da importância prática desta matéria são, por exemplo:
i) Artigo 100.º do Código Comercial;
ii) Artigo 1.º/3 do Código das Sociedades Comerciais;
iii) Artigo 15.º do Código Comercial;
iv) Artigo 102.º do Código Comercial;
v) Artigo 99.º do Código Comercial.
Art.º 100.º
Regra da solidariedade nas obrigações comerciais
Nas obrigações comerciais os co-obrigados são solidários, salva estipulação contrária.
§ único. Esta disposição não é extensiva aos não comerciantes quanto aos contratos
que, em relação a estes, não constituírem atos comerciais.
i) Art. 100.º do Código Comercial – Solidariedade
O artigo 100.º do Código Comercial estabelece, como regra, a solidariedade nas obrigações
comerciais; isto é, nas obrigações que resultam da prática de atos de comércio.
O que aqui importa perceber é que se um ato comercial tiver dois ou mais obrigados a regra é
que a responsabilidade desses obrigados é solidária. E isto pode parecer um pormenor técnico,
uma bizantinice ou uma mera questão teórica; mas não é, uma vez que sempre que tivermos
obrigados solidários vai aplicar-se o regime da responsabilidade solidária que encontramos no
Código Civil.
Isto significa que o credor da obrigação em causa pode exigir a totalidade da dívida de qualquer
um dos obrigados, o que é importantíssimo na medida em que pode fazer a diferença entre
receber a totalidade do montante do crédito ou não, consoante os cabedais do devedor.
António e Bruno são devedores solidários. Se António não tiver bens que possam ser
executados mas Bruno sim, então o credor pode exigir a totalidade da dívida a este último.
Naturalmente, isto é muito importante na prática porque quando o cliente de um advogado lhe
diz que quer exigir judicialmente um crédito por os devedores não lhe terem pago, a
circunstância de estar em causa uma obrigação solidária é ouro sobre azul, pois significa que há
mais bens para executar.
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Art.º 1.º
Âmbito geral de aplicação
1. A presente lei aplica-se às sociedades comerciais.
2. São sociedades comercias aquelas que tenham por objeto a prática de atos de comércio
e adotem o tipo: de sociedade em nome coletivo, de sociedade por quotas, de sociedade
anónima, de sociedade em comandita simples ou de sociedade em comandita por
ações.
3. As sociedades que tenham por objeto a prática de atos de comércio devem adotar
ii) Art. 1.º/3 do Código das Sociedades Comerciais – Tipos de Sociedade
Também para qualificarmos um sujeito como comerciante é fundamental saber ser esse sujeito
se dedica, com caráter profissional, à prática de atos objetivamente comerciais. E isto acaba por
ser muito importante porque da sua qualificação como comerciante vão resultar imensas
consequências.
Um primeiro exemplo dessas consequências dá-se no âmbito das Sociedades Comerciais. O
artigo 1.º/3 do Código das Sociedades Comerciais estabelece que «as sociedades que tenham
por objeto a prática de atos de comércio devem adotar um dos tipos referidos no número
anterior».
Por outras palavras, se o objeto de uma Sociedade Comercial consistir, no todo ou em parte, na
prática de atos objetivamente comerciais, essa Sociedade terá necessariamente de adotar um
dos tipos de sociedade previstos no Código das Sociedades Comerciais.
Evidentemente, isto faz toda a diferença, uma vez que se a Sociedade tiver um objeto
meramente civil (um objeto que não se traduz na prática de atos comerciais) já não terá que
adotar, em regra, um daqueles tipos de Sociedade Comercial, ficando sujeita ao Regime das
Sociedades Civis previsto nos artigos 980.º e seguintes do Código Civil.
Art.º 15.º
Dívidas comerciais do cônjuge comerciante
As dívidas comerciais do cônjuge comerciante presumem-se contraídas no exercício do
seu comércio.
iii) Art. 15.º do Código Comercial – Responsabilidade por dívidas dos cônjuges
Um segundo exemplo prende-se com a aplicação do Regime da Responsabilidade por Dívidas
dos Cônjuges. O artigo 15.º do Código Comercial determina que «as dívidas comerciais do
cônjuge comerciante presumem-se contraídas no exercício do seu comércio».
Esta presunção torna-se fundamental para que possamos fazer funcionar o artigo 1691.º/1/d)
do Código Civil, que estabelece aqui um caso de comunicabilidade da dívida ao cônjuge do
comerciante; e, tendo em conta que a consideração de uma dívida como sendo comercial
depende da circunstância de ela resultar ou não de um ato de comércio, é mais uma vez
evidente a importância prática desata matéria.
Com efeito, se estiver em causa uma dívida comunicável e os cônjuges não estiverem casados
em regime de separação de bens, essa dívida vai ser da responsabilidade de ambos e, assim,
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
pode passar por aqui a diferença entre o credor fazer pagar a totalidade do montante do seu
crédito ou apenas uma parte dele, dado que não respondem apenas os bens comuns do casal,
mas também os bens próprios do cônjuge que não é comerciante.
Art.º 102.º
Obrigação de juros
Há lugar ao decurso e contagem de juros em todos os atos comerciais em que for de
convenção ou direito vencerem-se e nos mais casos especiais fixados no presente Código.
§1.º A taxa de juros comerciais só pode ser fixada por escrito.
§2.º Aplica-se aos juros comerciais o disposto nos arts. 559.º-A e 1146.º do Código Civil.
§3.º Os juros moratórios legais e os estabelecidos sem determinação de taxa ou
quantitativo, relativamente aos créditos de que sejam titulares empresas comerciais, singulares
ou coletivas, são os fixados em portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Justiça.
§4.º A taxa de juro referida no parágrafo anterior não poderá ser inferior ao valor da
taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu à sua mais recente operação principal de
refinanciamento efetuada antes do 1.º dia de Janeiro ou Julho, consoante se esteja,
respetivamente, no 1.º ou no 2.º semestre do ano civil, acrescida de 7 pontos percentuais.
iv) Art. 102.º do Código Comercial – Obrigação de juros
O artigo 102.º do Código Comercial diz respeito às obrigações de juros no âmbito dos atos
comerciais. Neste âmbito, quer a determinação da taxa de juros comerciais, quer a questão de
saber se o crédito que vai beneficiar deste regime especial de juros é um crédito de uma
transação comercial ou um crédito de uma empresa comercial dependem da qualificação de
uma dívida como sendo uma dívida comercial.
Art.º 99.º
Regime dos atos de comércio unilaterais
Embora o ato seja mercantil só com relação a uma das partes será regulado pelas disposições da
lei comercial quanto a todos os contratantes, salvo as que só forem aplicáveis àquele ou àqueles
cujo respeito o ato é mercantil, ficando, porém todos sujeitos à jurisdição comercial.
v) Art. 99.º do Código Comercial – Regime dos atos de comércio unilaterais
O que está em causa no artigo 99.º do Código Comercial é a classificação de atos como atos de
comércio bilaterais (ou atos bilateralmente mercantis) e atos de comércio unilaterais (ou atos
unilateralmente mercantis).
Esta norma está pensada para os atos unilateralmente mercantis (atos comerciais apenas pelo lado
de um dos sujeitos que os pratica), estabelecendo que, em regra, «embora o ato seja mercantil só
com relação a uma das partes, será regulado pelas disposições da lei comercial quanto a todos
os contratantes».
Isto significa que, ainda que seja unilateralmente mercantil, o regime dos atos de comércio
aplica-se a todo o ato e, portanto, a todos os contratantes. No entanto, na prática esta regra
conhece muitas exceções. E são tantas as exceções que, para muitas empresas, quase podemos
dizer que a exceção consume a regra (esta norma faz parte de um Código que já data do Século XIX e,
naturalmente, muitas coisas mudaram no tempo que passou)
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
A razão de ser da marginalidade do artigo em causa prende-se com o facto de, hoje em dia,
muitas empresas comerciais estabelecerem relações de onde resultam créditos com
consumidores. E, nestes casos, do lado do consumidor o ato fica sujeito ao Regime do Direito do
Consumo; que afasta, em muitos aspetos, o regime do Direito Comercial.
Deste modo, acabamos por ficar perante um ato unilateralmente comercial em que o Direito
Comercial se aplica pelo lado do sujeito comerciante; mas já não se aplica pelo lado da sua
contraparte quando ela é um mero consumidor ou atua nessa veste (isto é, mesmo que a
contraparte seja um comerciante que, naquele ato em concreto, atue apenas como mero consumidor).
Caso prático 1 – Acórdão TRC
O primeiro problema em causa nesta hipótese é o de saber se o empréstimo é válido e como é
que ele poderia ser provado.
Segundo o artigo 396.º do Código Comercial, «o empréstimo mercantil admite, seja qual for o
seu valor, todo o género de prova». Assim, esta norma demonstra-se bastante útil para o autor
da ação (que exigia o valor do empréstimo) na medida em que dispensa meios de prova especiais
quanto ao empréstimo mercantil.
Os empréstimos dizem-se mercantis quando são celebrados entre comerciantes. Por isso,
aquilo que temos de apurar desde já é se os vários contratos de empréstimo foram celebrados
entre comerciantes.
Os sujeitos em juízo são José Alves Correia Júnior - alegado mutuário e devedor - e Manuel
Simões Aniceto - alegado mutuante e credor.
Pese embora o mutuante já surja expressamente qualificado como comerciante, temos de
averiguar se esse entendimento é correto, desde logo porque o percurso seguido na construção
do Acórdão não é linear e parece dar alguns saltos lógicos.
Sendo Manuel Aniceto uma pessoa singular, a classificação como comerciante ser-lhe-á
atribuída em função do art. 13.º do Código Comercial, segundo a qual são comerciantes «as
pessoas que, tendo capacidade para praticar atos de comércio, fazem deste profissão».
Fazer do comércio profissão é praticar, com regularidade (de forma profissional), atos
objetivamente comerciais. Isto significa que para adquirir a qualidade de comerciante é
necessário que estejam em causa atos objetivamente comerciais. Os atos subjetivamente
comerciais, por sua vez, não atribuem qualidade de comerciante: pressupõem-na! Para se
praticar atos subjetivamente comerciais é preciso ser-se comerciante.
Dando por assumida a capacidade do sujeito para praticar atos de comércio (uma vez que não
temos dados para discutir esta questão), aquilo que temos a fazer é ver se a atividade a que ele se
dedica com caráter profissional é uma atividade que se traduz ou que se manifesta através da
prática de atos objetivamente comerciais.
Atentando à matéria de facto dada como provada, podemos ver que Manuel Simões Aniceto
possui um estabelecimento onde vende fazendas de algodão e lã, materiais de construção,
adubos e outros artigos próprios de estabelecimento misto de meio rural.
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Todas estas mercadorias são coisas móveis que foram compradas para revender e são
revendidas depois de terem sido compradas para esse fim; pelo que a sua compra para revenda
e a sua revenda após terem sido compradas para esse fim podem subsumir-se ao artigo 463.º
do Código Comercial e, portanto, são consideradas atos comerciais.
Assim, tendo em conta que, de acordo com o artigo 2.º do Código Comercial, «serão
considerados atos de comércio todos aqueles que se acharem especialmente regulados no
Código», podemos facilmente concluir que, preenchendo os requisitos do art. 463.º, a compra e
venda mercantil configura um ato objetivamente comercial.
O artigo 463.º/1 prevê que «são consideradas comerciais as compras de coisas móveis para
revender, em bruto ou trabalhadas, ou simplesmente para lhes alugar o uso». Isto significa que
quando se compra uma coisa móvel para revender essa compra já é, só por si, objetivamente
comercial. Portanto, ao comprar aqueles materiais para revender, Manuel Aniceto estava a
praticar atos objetivamente comerciais, nos termos do artigo 463.º/1.
O artigo 463.º/3, por sua vez, prevê que também «são consideradas comerciais as vendas de
coisas móveis, em bruto ou trabalhadas, quando a aquisição houver sido feita no intuito de as
revender». Isto significa que tanto as coisas móveis que Manuel Simões Aniceto comprou para
revender, como a sua venda são atos objetivamente comerciais.
Portanto, com a prática daqueles atos Manuel Simões Aniceto adquire a qualidade de
comerciante. Mas é possível que tenha adquirido a qualidade de comerciante antes.
É-nos dito que o autor da ação explora um estabelecimento onde exerce a atividade comercial
em causa. E a própria atividade que conduz à montagem ou à organização desse
estabelecimento pode conduzir à aquisição da qualidade de comerciante, uma vez que os
sujeitos adquirem a qualidade de comerciante com a prática de atos que revelem a intenção e a
possibilidade de exercer, com caráter habitual e profissional, essa atividade comercial (é este o
critério quanto aos sujeitos que sejam pessoas singulares).
Isto significa que Manuel Aniceto pode ter adquirido a qualidade de comerciante logo com o
arrendamento do espaço, com a contratação de pessoal ou com a compra de expositores, por
exemplo; ou mesmo com a mera aquisição do estabelecimento já montado e organizado por
outrem para o explorar (pelo menos segundo a leitura do Doutor Soveral Martins: isto já não resulta
claramente da lei, mas de uma interpretação doutrinal).
Concluindo, ao comprar estas coisas móveis para revender e ao vendê-las após comprá-las para
esse fim, o sujeito pratica atos objetivamente comerciais; e ao praticá-los com caráter
profissional adquire a qualidade de comerciante (se não a adquiriu antes, quando estava a montar o
estabelecimento ou quando adquiriu o estabelecimento já montado e organizado). Portanto, não
há dúvidas de que Manuel Simões Aniceto é comerciante.
Analisemos agora a situação de Correia Júnior. Segundo o Acórdão, Correia Júnior servia-se do
estabelecimento comercial de Manuel Simões Aniceto. Mas importa averiguar qual era a
atividade que ele desenvolvia profissionalmente, uma vez que a qualificação de um sujeito
como comerciante depende, como referido, da atividade que ele desenvolve com regularidade
(com caráter profissional).
Isto significa que temos de atender não apenas aos atos por si praticados na relação com o
outro sujeito, mas à atividade a que ele se dedica no seu conjunto. E fornecer-se do
estabelecimento não implica que só se forneça para seu uso pessoal.
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Segundo consta do Acórdão, além de explorar uma casa de lavoura, o jazido Correia Júnior
comprava pinhais para abater e transformava-os em madeiras que depois vendia com outras
madeiras que comprava já prontas para revender. E isto tem muito relevo.
Por um lado, se, profissionalmente, vendia madeiras que comprava para revender poderemos
aplicar o n.º1 e o n.º3 do artigo 463.º, uma vez que as madeiras que ele comprava para
revender não correspondiam às árvores em bruto, mas à madeira transformada: vigas, tábuas e
barrotes de madeira, p.e., são coisas móveis trabalhadas que comprava para revender e que
vendia depois de as haver comprado para esse fim, pelo que, só por isso, Correia Júnior já
estaria a atuar profissionalmente praticando atos de comércio objetivo.
Por outro lado, se tiver uma empresa (uma organização de meios e/ou de pessoas) através da qual
transforme os pinhais em madeira trabalhada, Correia Júnior também pratica atos
objetivamente comerciais com os atos praticados no âmbito dessa empresa; já não por força do
artigo 463.º, mas por força do artigo 230.º, §1.
De acordo com esta norma, «haver-se-ão como comerciais as empresas, singulares ou coletivas,
que se propuserem transformar, por meio de fábricas ou manufaturas, matérias-primas,
empregando para isso ou só operários ou operários e máquinas». Portanto, se Correia Júnior
tinha uma empresa (entendida como organização) para realizar esta atividade de transformação
nestes termos, o artigo 230.º permite qualificar os atos praticados no âmbito da sua atividade
de transformação como atos objetivamente comerciais.
Por outras palavras, se o sujeito tinha uma empresa através da qual comprava pinhais e vendia
a madeira transformada, esses atos de compra e de venda configuram, em regra, atos
objetivamente comerciais por força do artigo 230.º, §1.
Contudo, esta regra configura algumas exceções. É o caso, desde logo, das exceções que
resultam do próprio artigo 1.º, §1: o caso dos artesãos. O artigo 1.º, §1 estabelece que «não se
haverá como compreendido no n.º1 o proprietário ou explorador rural que fabrique ou
manufature os produtos no terreno que agriculte, nem o artista, industrial, mestre ou oficial de
ofício mecânico que exerça diretamente a sua arte, indústria ou ofício».
Portanto, em regra, quem tem uma empresa e utiliza essa empresa para o exercício de uma
atividade transformadora pratica, no âmbito da exploração dessa organização, atos
objetivamente comerciais. Neste caso em particular, a aquisição de ferramentas, o aluguer de
transportes, a contratação de pessoal ou o arrendamento de espaços necessários à exploração
da empresa transformadora, por exemplo, são considerados, em regra, atos objetivamente
comerciais; exceto se Correia Júnior fosse um mero artesão no exercício dessa transformação.
Sendo possível haver empresas artesanais (um artesão pode ser um empresário), a diferença não
está entre ser empresário ou não ser empresário, mas sim entre ser artesão ou não ser artesão!
Segundo o artigo 230.º, §1, a distinção entre o que é e o que não é passa pelo critério do
exercício direto da arte, indústria ou ofício.
Isto significa que se o sujeito que explora a organização transformadora exerce a sua atividade
diretamente (isto é, se o sujeito está lá a serrar, a cortar, a martelar, etc) e é ele que controla todo
esse processo diretamente, aplicando ele próprio os seus conhecimentos, é possível falar num
exercício artesanal.
Diferentemente, se a atividade do sujeito deixou de ser o exercício direto de transformação e
passou a ser uma atividade de gestão comercial (de contacto com os clientes, de mero controlo de
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
qualidade do produto final, etc), já não é possível considerá-lo um artesão. Portanto, se estivermos
perante uma empresa artesanal já não estamos no âmbito do artigo 230.º/1, mas antes no
âmbito do artigo 230.º, §1.
Dito isto, podemos concluir que Correia Júnior não pode ser qualificado como comerciante pela
circunstância de ser proprietário de uma casa de lavoura, uma vez que a agricultura foi excluída
da comercialidade pelo Código Comercial.
Mas há outros elementos que permitem qualificá-lo enquanto tal: Correia Júnior será sempre
qualificado como comerciante uma vez que se dedica profissionalmente à compra de coisas
móveis para depois revender.
Se compra os pinheiros em bruto e depois os retira dos pinhais para transformar, essa compra
será objetivamente comercial por força do art. 230.º/1, se for realizada no âmbito da exploração
de uma empresa não artesanal. E a posterior venda da madeira transformada será um ato
objetivamente comercial por força da mesma norma.
Diferentemente, se compra a madeira já transformada para revender e depois revende a
madeira transformada que comprou para esse fim, tanto a compra como a venda serão atos
objetivamente mercantis por força do art. 463.º (n.º1 e n.º3, respetivamente).
Assim, seja como for, podemos concluir que Correia Júnior se dedicava, com caráter regular (e
profissional), à prática de atos objetivamente comerciais; pelo que, assumindo que ele tinha
capacidade para o exercício de comércio, podemos qualificá-lo como comerciante, nos termos
do artigo 13.º.
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
2.ª Aula – 26/10/2020
Um aspeto relevante que ainda não analisámos é o que diz respeito ao facto de Correia Júnior
ser o proprietário de uma «regular casa de lavoura». Uma casa de lavoura é uma propriedade
agrícola, pelo que o que está aqui em causa é uma exploração agrícola.
Numa casa de lavoura realizam-se atividades como o cultivo das terras e a apanha dos seus
frutos. Mas esta atividade agrícola é considerada uma reserva civil.
Tendo novamente em conta que este Código data do Século XIX (1888), facilmente se
compreende que a agricultura seja entendida como uma área muito pouco desenvolvida. E foi
por isso que a atividade associada à agricultura foi considerada uma reserva civil.
A consideração da atividade agrícola como reserva civil significou o seu afastamento do âmbito
do Direito Comercial e a sua consequente sujeição ao Direito Civil. E isto tanto valia para a
atividade agrícola não empresarial, como para a agricultura desenvolvida através de empresas
agrícolas (já as havia, nomeadamente no Alentejo e no Ribatejo).
Com efeito, é isto que resulta, desde logo, do artigo 230.º. O artigo 230.º, §2 afasta do seu
âmbito os casos em que se está perante um proprietário ou explorador rural que fizer
fornecimentos de produtos da respetiva propriedade; de tal modo que empresas que
eventualmente poderiam caber no âmbito do artigo 230.º/2 (empresas que fornecem géneros) já
não são consideradas comerciais.
Isto também resulta do artigo 464.º, relativo às compras e vendas não comerciais. O artigo
464.º/2 estabelece que «não são consideradas comerciais as vendas que o proprietário ou o
explorador rural faça dos produtos de propriedade sua ou por ele explorada». Portanto, as
vendas que um agricultor faça dos seus cultivos também não são consideradas atos
objetivamente comerciais, por força do disposto nesta norma.
Assim, podemos concluir que, tal como já tínhamos avançado, o artigo 13.º não se aplica a estes
sujeitos; e, portanto, não foi pelo facto de ser o proprietário de uma casa de lavoura que
Correia Júnior se considerou comerciante.
Os atos regulados no Código Comercial consideram-se atos objetivamente mercantis
precisamente por estarem regulados no Código Comercial. Pese embora a alguns deles seja
exigido que o sujeito que os pratica seja um comerciante, em regra isso não é necessário. E,
nesse sentido, falamos numa certa tendência para o objetivismo neste Código.
Contudo, este objetivismo tem alguns limites. Um desses limites pode encontrar-se no âmbito
na compra de coisas móveis para revenda. E é de tal modo assim que o exemplo da compra
para revenda serve, muitas vezes, para ilustrar um certo teleologismo.
O Código Comercial exige que a compra seja realizada com um fim: o fim de revender a coisa
comprada. Porém, as intenções não são identificáveis ou avaliáveis com rigor, pelo que
podemos concluir que a compra de coisas móveis para revenda é considerada um ato
objetivamente comercial em função de algo muito subjetivo – as intenções –, o que torna
patentes alguns limites do objetivismo.
Naturalmente, se quem compra coisas móveis para revenda está a praticar um ato
objetivamente comercial independentemente de ser ou não um comerciante, estamos perante
um certo objetivismo. Porém, se se remete para a intenção no interior das pessoas, está em
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
causa algo do mais subjetivo que pode haver. E é nesse sentido que se fala de um teleologismo
e se identificam os limites àquele objetivismo.
O artigo 230.º só pode ser convocado quando o sujeito em causa desenvolve a sua atividade no
quadro de uma empresa (organização de pessoas e/ou meios). Contudo, como não temos
dados que nos permitam analisar essa questão relativamente a Correia Júnior, não podemos
concluir que ele pratica atos objetivamente comerciais pelo art. 230.º.
Quando invocamos o artigo 230.º devemos sempre explicar porque é que esta norma serve
para qualificar atos como atos objetivamente comerciais e não para qualificar sujeitos como
comerciantes.
A letra da lei não é clara; e acaba por poder servir de apoio a vários entendimentos: ao
entendimento que a norma qualifica atos como atos objetivamente comerciais; ao
entendimento que a norma qualifica sujeitos como comerciantes; ou, até, como dizia o
Professor Fernando Olavo, ao entendimento que a norma caracteriza atividades.
O artigo 230.º começa por dizer «haver-se-ão como comerciais». Esta expressão parece
aproximá-lo mais de uma norma qualificadora de atos do que de sujeitos, na medida em que, se
visasse qualificar sujeitos, poderia dizer haver-se-ão como comerciantes.
Mas outros segmentos da norma parecem apontar no sentido diverso, pois quando se diz que
se haverão «como comerciais as empresas singulares ou coletivas que se propuserem» já
parecemos estar a ser remetidos para a qualificação de sujeitos: por um lado, a designação
como singular ou coletiva é atribuível a pessoas (e não a atos); por outro lado, quem tem
propósitos são os sujeitos (os comerciantes).
Portanto, é evidente que a letra da lei nos dá indicações em sentidos diferentes e, por isso,
temos de nos socorrer de outros elementos de interpretação.
Desde logo, pode ser aqui trazido um argumento de ordem sistemática. Por um lado, o artigo
230.º surge no Título IV (das Empresas) do Livro dedicado a Contratos Especiais de Comércio; o
que indica que o que ali se regula são atos. Por outro lado, se o legislador de facto quisesse
tratar da qualificação de comerciantes teria incluído a norma num local mais próximo ao artigo
13.º, num segmento dedicado à Capacidade Comercial e ao Comerciante.
Também se pode aqui trazer um argumento de ordem histórica, uma vez que esta norma foi
buscar inspiração ao Código de Comércio Italiano, onde se utilizava o termo “imprese”; e as
imprese eram os atos praticados no enquadramento da empresa.
José Tavares, por exemplo, foi um dos primeiros autores que se pronunciou no sentido de que
esta norma qualificava sujeitos como comerciantes e não atos como atos comerciais, mas não
nos parece ser essa a melhor leitura (sobretudo atendendo ao elemento sistemático da
interpretação).
Um outro problema que aqui se levanta é o de saber quais são os atos que o artigo 230.º
qualifica como atos objetivamente comerciais. Se no n.º 4, por exemplo, é fácil identificar um
ato passível de ser qualificado como um ato objetivamente comercial (um contrato de agência,
p.e.); o mesmo já não se poderá dizer acerca do n.º1: onde está aqui o ato comercial? É
martelar? É ligar o botão da linha de montagem? Não parece que isso, só por si, seja um ato
objetivamente comercial.
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Portanto, coloca-se a questão de saber se o artigo 230.º só qualifica como atos objetivamente
comerciais os atos que elenca e que lá nos surgem especificamente identificados; ou se, pelo
contrário, qualifica mais do que esses.
O Professor Cunha Gonçalves entendia que havia uma coincidência entre os vários números do
artigo 230.º e os atos objetivamente comerciais que a norma qualifica. Mas, como agora
dissemos, alguns desses números não nos permitem identificar atos jurídicos que pudessem ser
qualificados como atos comerciais.
Segundo a leitura adotada pelo Doutor Soveral Martins (e de autores como o Doutor Coutinho de
Abreu ou o Professor Vasco Nuno Xavier), o artigo 230.º qualifica como atos objetivamente
comerciais todos aqueles que são praticados no âmbito da exploração de uma empresa que se
dedique às atividades mencionadas pela norma.
Assim, todos os atos (relevantes) praticados no âmbito da exploração de empresas que se
dediquem àquelas atividades são qualificados como atos objetivamente comerciais.
Imaginemos uma empresa constituída por uma fábrica de tratores. A atividade realizada no
quadro da exploração dessa empresa vai desdobrar-se em diversos atos praticados antes e depois
da fabricação dos tratores.
Naturalmente, o apertar do parafuso que fixa o retrovisor e o apertar das porcas que prendem as
rodas não configuram atos comerciais por si, mas antes atos de fabrico. Porém, já são atos
objetivamente comerciais por força do artigo 230.º/1 a compra das rodas utilizadas no fabrico dos
tratores, a contratação de um transporte dessas rodas, a celebração de um contrato de
publicidade com um jornal ou até a venda, na fábrica, dos tratores que são ali fabricados.
É muito importante distinguir a compra de uma roda para revender (objetivamente comercial por
força do artigo 463.º) da compra de uma roda para utilizar no fabrico do trator e a posterior venda
do trator fabricado, uma vez que neste segundo caso não está em causa a compra de uma roda
para revenda, mas a compra de uma roda para incorporar no trator que depois se vai vender.
Assim, enquanto no primeiro caso se compra uma roda para revender enquanto tal; no segundo
caso compra-se uma roda para incorporar no trator e, posteriormente, vender o trator. Aqui,
tanto a compra como a venda são atos objetivamente comerciais por força do artigo 230.º/1; não
por força do artigo 463.º.
Já analisados os sujeitos, vamos agora dedicar-nos à observação do concreto ato de comércio
em causa no caso do Acórdão.
Da matéria de facto descrita podemos concluir que, ao longo do tempo, foram realizados vários
empréstimos. E isto significa que, em bom rigor, teremos aqui a prática de vários atos de
comércio. Mas sendo este um juízo conclusivo, o que importa agora ver é se estes empréstimos
realizados são ou não atos objetivamente comerciais.
O artigo 394.º estabelece que «para que o contrato de empréstimo seja havido por comercial é
mister que a coisa cedida seja destinada a qualquer ato mercantil». Esta norma é muito
importante porque prescinde da qualidade de comerciante dos sujeitos que intervêm na prática
desse empréstimo.
10
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Temos aqui um exemplo bastante claro daquilo a que se chama ato acessório, uma vez que um
empréstimo só é considerado comercial, nos termos do artigo 394.º, quando a coisa cedida é
destinada à prática de um outro ato mercantil. E é nessa medida que se diz que, por esta via, a
sua comercialidade é uma comercialidade acessória.
Da matéria de facto dada como provada não resulta com clareza que os empréstimos tenham
sido utilizados por Correia Júnior para a prática de atos comerciais. Se fosse esse o caso e
Manuel Simões Aniceto lhe tivesse emprestado o dinheiro para comprar madeira para revender
no âmbito da exploração da casa de lavoura, por exemplo, estaríamos perante um empréstimo
de dinheiro para a prática de um ato de comércio e, portanto, estaria em causa um empréstimo
mercantil.
Mas, apesar de isso não ser claro, vamos assumir que foi para isso que os empréstimos tiveram
lugar (é essa a ideia subjacente no Acórdão) e que podemos qualificar o ato como um ato
objetivamente comercial por força do artigo 394.º.
Uma outra via eventual para qualificar o ato como objetivamente comercial passava pela
aplicação do artigo 230.º, se pudesse dar-se como provado que o empréstimo havia sido
utilizado no âmbito da exploração de uma empresa transformadora de madeira não artesanal.
Com efeito, apesar de não ser claro se Correia Júnior tinha efetivamente uma empresa
transformadora e, muito menos, se ela era ou não artesanal, esta seria uma possível via
alternativa para qualificar o ato como um ato objetivamente comercial.
Outro aspeto que importa ser analisado é o da subjetividade comercial do ato. Pese embora já
tenhamos concluído que havia elementos para se afirmar que ambos os sujeitos eram
comerciantes, isso não basta para que um ato possa ser qualificado como um ato
subjetivamente mercantil.
A norma da qual resulta que os atos podem ser subjetivamente comerciais é o artigo 2.º do
Código Comercial: «serão considerados atos de comércio todos aqueles que se acharem
especialmente regulados neste Código, e, além deles, todos os contratos e obrigações dos
comerciantes, que não forem de natureza exclusivamente civil, se o contrário do próprio ato não
resultar».
Para que possamos qualificar um ato como subjetivamente comercial é necessário, então, que
se preencham três requisitos:
1) O ato tem de ser um ato do comerciante;
2) O ato não pode ter natureza exclusivamente civil;
3) E não pode resultar o contrário do próprio ato.
Embora a primeira exigência seja de fácil compreensão, a segunda e a terceira suscitam dúvidas
acerca do seu sentido.
1) O ATO DE SER UM ATO DO COMERCIANTE:
É necessário que o ato seja praticado por comerciante. O artigo 13º do Código Comercial define
a noção de comerciante.
11
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
2) O ATO NÃO PODE TER NATUREZA EXCLUISVAMENTE CIVIL
Em segundo lugar, para serem subjectivamente comerciais, os atos dos comerciantes não
podem ser de natureza “exclusivamente civil”.
Seguindo a doutrina tradicional um ato de natureza exclusivamente civil é um ato regulado
apenas na lei civil. Portanto, um ato que não esteja exclusivamente regulado na lei civil já
poderia ser um ato de comércio em sentido subjetivo. Porém, devemos rejeitar esta
perspectiva. Porquê? O artigo 2.º não faz referência ao local (ao Código ou ao Diploma) em que o
ato está regulado, mas sim à sua natureza; pelo que não pode ser essa a nossa leitura. Assim, e
tendo mais uma vez presente a influência do Código de Comércio Italiano, o nosso
entendimento corre no sentido de se ler natureza essencialmente civil onde o legislador
escreveu «natureza exclusivamente civil».
RESPOSTA: Por isso mesmo, dizer que um ato tem natureza essencialmente civil é o mesmo que
dizer que o ato não é conexionável com o mundo do comércio em geral, isto é, com a
comercialidade. Por outras palavras, é um ato cuja natureza leva a que sua comercialização
repugna à consciência da comunidade. Perante a consciência jurídica da nossa comunidade
repugnará considerar matéria mercantil, por exemplo, a adoção, o casamento ou a perfilhação.
Tudo isto representa atos que, logo em abstrato, repugnam ao mundo do comércio.
EXEMPLO: Portanto, se estiver em causa uma adoção, um casamento ou uma perfilhação é
óbvio que, mesmo que seja um comerciante a adotar, a casar ou a perfilhar, esse ato não é um
ato subjetivamente comercial. E não o é porque é um ato de natureza essencialmente civil ou,
por outras palavras, porque não é um ato conexionável com o mundo do comércio em geral
(nem com o comércio do comerciante que o pratica, nem com o comércio de qualquer outro).
Podemos dar alguns exemplos de atos cuja natureza essencialmente civil tem sido discutida:
Doações realizadas por comerciantes: entende-se que quando realizadas com fins
publicitários não serão atos de natureza puramente civil.
Rendas perpétuas e vitalícias pagas pelo comerciante: não são atos de natureza
exclusivamente civil
Factos jurídicos ilícitos praticados pelo comerciante, geradores de responsabilidade civil
extracontratual: não terão natureza exclusivamente civil se praticados no exercício do
comércio.
3) O ATO NÃO QUALIFICADO COMO NÃO COMERCIAL
Por fim, um ato de natureza não exclusivamente civil de um comerciante é subjectivamente
comercial se “o contrário do próprio ato não resultar”. Na linha do pensamento da doutrina
italiana, os autores portugueses fazem equivaler esta expressão à seguinte: se do próprio ato
não resultar a não ligação ou conexão com o comércio”.
Ou seja, resultar o contrário do próprio ato significa que do próprio ato resulta que ele nada tem
a ver com o comércio do comerciante que o pratica, isto é, que não tem conexão com o
comércio daquele sujeito.
CASO: Será que estes requisitos estão preenchidos em relação aos empréstimos celebrados
entre Manuel Simões Aniceto e Correia Júnior? Sabendo que ambos os sujeitos são
comerciantes e sendo evidente que o empréstimo não é um ato que repugne ao mundo do
comércio (o Código Comercial até faz várias vezes referência ao empréstimo, o que demonstra que não
12
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
se pode dizer que não é um ato não conexionável com o comércio em geral), importa agora perceber se
do próprio ato resulta alguma conclusão.
Com efeito, tal como a última exigência está formulada, do próprio ato pode resultar uma de
três coisas:
1) Do próprio ato resulta que ele não tem conexão com o comércio a que aquele
sujeito se dedica profissionalmente;
a. O ATO NÃO É COMERCIAL
2) Do próprio ato resulta que ele tem conexão com o comércio a que aquele sujeito se
dedica profissionalmente;
a. O ATO É COMERCIAL
3) Nada resulta do próprio ato.
a. O ATO É COMERCIAL
Importa perceber o que quer dizer “Nada resulta do próprio ato:
Dizer que se não se pode retirar que o ato não teve conexão com o comércio daquele sujeito
significa que nada se retira. E se nada se retira, então também não se retira o contrário; pelo
que, consequentemente, o ato ainda será um ato subjetivamente comercial.
É neste sentido que se afirma que há uma presunção de comercialidade dos atos dos
comerciantes subjacente ao regime da segunda parte do artigo 2.º: se quando nada se prova a
este respeito o ato ainda se considera subjetivamente comercial, então a comercialidade
subjetiva dos atos está aqui, de algum modo, pressuposta. Não podemos esquecer que o
próprio ato é constituído pelas circunstâncias que o envolvem. Esse juízo acerca do que resulta
do próprio ato é feito através do critério da impressão do destinatário.
Por exemplo: O senhor António, dono e explorador de uma sapataria, compra um frigorífico para
oferecer ao filho, que arrendou um apartamento em Coimbra.
1.º Requisito
Sendo o dono e explorador de uma sapataria, António compra sapatos para revender e revende
sapatos que comprou para esse fim; de tal modo que se dedica à prática destes atos
objetivamente comerciais com caráter regular e profissional.
Assim, sabendo que ele tem capacidade de exercício, podemos concluir, em primeiro lugar, que
António é comerciante por força do art. 13.º/1; pelo que o primeiro requisito da segunda parte
artigo 2.º está preenchido.
2.º Requisito
A compra de um frigorífico não é um ato conexionável com o mundo do comércio em geral; e,
portanto, não se tratando de um ato que repugne ao mundo do comércio, podemos concluir, em
segundo lugar, que não está em causa um ato de natureza essencialmente civil, pelo que o
segundo requisito da segunda parte artigo 2.º também está preenchido.
13
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
3.º Requisito
Porém, o frigorífico é comprado com o intuito de ser oferecido ao filho para que possa usá-lo no
apartamento que arrendou em Coimbra, o que coloca em causa o terceiro requisito da segunda
parte artigo 2.º.
Temos de perceber o que significa resultar do próprio ato!
O próprio ato é, desde logo, o contrato que é celebrado. Mas não é só isso: o próprio ato
também é constituído pelas circunstâncias que o envolvem. E este juízo acerca do que resulta do
próprio ato é feito através do critério da impressão do destinatário. Isto significa que temos de
nos perguntar se um destinatário (contraparte) razoável teria concluído uma coisa, outra coisa,
ou nada a partir do ato e das suas circunstâncias.
Se António foi comprar o frigorífico na loja de eletrodomésticos da sua pequena vila e disse que
o ia comprar para dar ao filho que ia estudar para Coimbra, a prova é facílima. Mas nem sempre
será assim tão fácil tirar conclusões, pois há muitos casos em que não se cria uma convicção no
julgador e, se este não forma uma convicção num sentido nem noutro, então não podemos dizer
que do próprio ato resulta o contrário (se nada resulta, também não resulta o contrário), pelo que o
ato ainda será um ato subjetivamente comercial.
Neste caso em concreto, mesmo que a verdadeira intenção de António fosse oferecer o
frigorífico ao filho, se isso não resultar do próprio ato, então também não resulta o contrário.
E não resulta o contrário porque um dono e explorador de uma sapataria poderá querer um
frigorífico na sua loja para conservar a comida que leva de casa para o almoço, por exemplo: um
frigorífico pode servir para as mais diversas coisas e, por isso, à partida, não se pode dizer que a
sua compra seja um ato que, por natureza, não tenha qualquer conexão com o comércio
daquele sujeito. E, efetivamente, em regra a maioria dos atos analisados em abstrato são neutros.
Voltando ao caso do Acórdão, sabemos que Correia Júnior contrai o empréstimo e que o
empréstimo não é um ato que repugne ao mundo do comércio em geral.
No que toca à finalidade do empréstimo, por sua vez, não temos muitos elementos que
permitam concluir que a coisa cedida (o dinheiro emprestado) era utilizado para comprar coisas
móveis para revenda ou para quaisquer outros atos praticados no âmbito da exploração da
eventual empresa não artesanal de transformação de madeira.
No entanto, o que interessa é que também não temos elementos que permitam concluir que do
próprio ato resulta o contrário e, portanto, não parece haver dúvidas de que, pelo lado de
Correia Júnior, a contração do empréstimo é um ato subjetivamente comercial.
No entanto, talvez já não possamos dizer o mesmo
pelo lado de quem empresta.
Manuel Simões Aniceto não se dedica ao empréstimo de dinheiro. Na verdade, se hoje em dia
se dedicasse, com caráter profissional, a emprestar dinheiro, provavelmente estaria a cometer
um ato ilícito, uma vez que essa é uma atividade legalmente reservada aos Bancos e às
Sociedades Financeiras autorizadas, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras. O comércio deste sujeito era explorar aquele estabelecimento que era,
no fundo, uma mercearia de gerais; e emprestar dinheiro não se encaixa no âmbito da sua
atividade.
14
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Na verdade, o que parece resultar da matéria dada como provada é que os empréstimos foram
realizados por razões de amizade, nomeadamente para socorrer Correia Júnior; e, portanto,
poderemos concluir que, da matéria dada como provada, resulta que os empréstimos não
tinham relação com o comércio de Manuel Simões Aniceto.
15
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
3.ª Aula – 06/11/2020
Para que um ato seja qualificado como subjetivamente comercial é necessário que seja
praticado por um comerciante, que seja conexionável com o mundo do comércio em geral e
que não resulte o contrário do próprio ato.
VAMOS RECAPITULAR: PARA RESPONDER A UM CASO PRÁTICO TEMOS DE RESPONDER A TRÊS
QUESTÕES:
1. O ATO FOI PRATICADO POR UM COMERCIANTE
a. Isto é, o sujeito dedica-se à prática destes atos objectivamente comerciais com
carácter regular e profissional.
b. Já vimos que Manuel Simões Aniceto era comerciante por força do artigo 463.º,
uma vez que explorava um estabelecimento de meio rural em cujo âmbito
comprava bens móveis para revenda e revendia os bens que tinha comprado
para esse fim.
2. O ATO É DE NATUREZA NÃO EXCLUSIVAMENTE CIVL
a. Ou seja, o ato é conexionável com o mundo do comércio em geral.
b. Concluímos que emprestar dinheiro não é um ato que repugne ao comércio em
geral, pelo que não estava em causa um ato de natureza essencialmente
(«exclusivamente») civil.
3. DO ATO RESULTA A NÃO COMERCIALIDADE DO ATO
O problema coloca-se no que toca ao último requisito exigido para que se possa qualificar um
ato como subjetivamente comercial. De acordo com o artigo 2.º, é necessário, ainda, que do
próprio ato não resulte o contrário; o que significa que do próprio empréstimo não pode
resultar que aquele ato não tem qualquer conexão com o comércio de Manuel Simões Aniceto.
Apesar de pouco ou nada resultar de alguns dos empréstimos, deu-se como provado que alguns
desses atos foram praticados para socorrer Correia Júnior. Portanto, se esses empréstimos se
deveram a razões de solidariedade social, não estão propriamente em causa atos conexionáveis
com o comércio de Manuel Simões Aniceto. Na verdade, nesses casos parece resultar dos
próprios atos que os empréstimos não têm a ver com o comércio do sujeito; e, nessa medida,
teremos elementos que nos permitem afirmar que não se tratam de atos subjetivamente
mercantis.
De todo o modo, isto não significa que nenhuns dos empréstimos configurem atos
subjetivamente comerciais: no que toca aos empréstimos cuja razão de ser não foi provada não
podemos concluir que o contrário resulta do próprio ato e, por isso, esses atos ainda serão atos
subjetivamente mercantis.
16
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 2 – O caso da dívida que dividia os amigos
A e B, velhos amigos, compraram a C várias toneladas de fruta para revender a uma empresa de
conservas. Como o preço ainda não foi pago, C exige a A que pague a totalidade do valor em
dívida. Porém, A diz que só tem de pagar metade. Será assim?
O artigo 100.º do Código Comercial estabelece que, salvo estipulação em contrário, nas
obrigações comerciais os co-obrigados são solidários. Portanto, o primeiro passo a tomar é
apurar se do ato aqui em causa resultou uma obrigação comercial.
As obrigações comerciais são aquelas que resultam da prática de atos de comércio: seja de atos
objetivamente comerciais, seja de atos subjetivamente comerciais (o artigo 100.º não exige que a
obrigação resulte de um ato objetivamente comercial).
De todo o modo, facilmente concluímos que este ato em concreto corresponde a um ato
objetivamente comercial, uma vez que se trata de um ato regulado pela lei comercial – a
compra de coisa móvel para revender, prevista no artigo 463.º/1.
Assim, a obrigação que resultou da sua prática é uma obrigação comercial e, por isso, não
havendo dados que nos permitam concluir que as partes estipularam algo em contrário, A e B
são considerados co-obrigados solidários, nos termos do artigo 100.º Cód. Comercial.
A circunstância de serem obrigados solidários conduz à aplicação do Regime da Solidariedade
das Obrigações; o que significa que o credor (C) pode exigir a totalidade da dívida de qualquer
um dos obrigados.
Esta particularidade é muito importante uma vez que pode acontecer que A seja uma pessoa
com cabedais mas B não tenha património que permita pagar a dívida; e este regime permite
salvaguardar o crédito de C.
Com efeito, toda esta construção está pensada de modo a facilitar a concessão de crédito, pois
se o credor souber que pode exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos co-obrigados a
sua disponibilidade para conceder crédito aumenta. Uma maior disponibilidade para conceder
créditos facilita a realização de trocas; o que aumenta as trocas comerciais e significa um
concomitante aumento da circulação de riqueza – algo que, em teoria, nos beneficia a todos.
Caso prático 3 – O caso do Circo que veio à cidade
Armando é dono e explorador de um circo que emprega 15 pessoas. Depois de montar a tenda do
circo na Guarda Inglesa, em Coimbra, Armando foi comprar carne para os leões a um talho da
zona. O ato é objetivamente comercial?
A qualificação do ato em análise tem de ser apurada tendo em conta os dois lados: quer o lado
da compra, quer o lado da venda.
Quando pensamos num talho pensamos na compra de carne (a produtores e grossistas) para
revenda e na revenda dessa carne que se comprou para revender.
Portanto, facilmente concluímos que a venda da carne por parte do talho pode qualificar-se
como um ato objetivamente comercial por força do artigo 463.º/3 do Código.
17
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Mas questão já poderá ser mais complicada do lado da compra.
Quando pensamos em todos os elementos que o compõem, podemos chegar à conclusão que
um circo não é um mero aglomerado de coisas, mas uma empresa; na medida em que surge
como uma organização de pessoas (palhaços, trapezistas e outros artistas) e de meios (tendas,
bancadas, animais, trapézios, trampolins, instrumentos musicais, etc).
Se, enquanto organização de pessoas e meios (emprega 15 pessoas) o circo pode ser considerado
uma empresa, somos remetidos para o artigo 230.º.
Relativamente a esta norma, importa esclarecer, desde logo, que o §1 não diz respeito à
atividade aqui em causa - a exploração de espetáculos públicos -, mas à atividade de transformação;
e, nessa medida, a utilização do termo “artista” está pensada para o artesão que realiza
pequenas obras de arte: não para o artista de circo.
O que está aqui em causa é, na verdade, um ato praticado no quadro da exploração de uma das
empresas previstas no artigo 230.º/4. Portanto, mais uma vez, importa aqui explicar porque
consideramos que o artigo 230.º qualifica atos e não sujeitos.
SIGNIFICADO DO ARTIGO 230º DO CCOM. NO QUADRO DOS ATOS DE COMÉRCIO – PÁGINA 6
SEBENTA DO NDN
A letra da lei não é clara; e acaba por poder servir de apoio a vários entendimentos, sendo
necessário recorrer a outros elementos de interpretação, nomeadamente, os elementos
históricos, sistemático e teleológico: Nesse sentido temos duas correntes:
A corrente encabeçada por GUILHERME MOREIA, LOBO XAVIER ou MENEZES CORDEIRO
considera que o conceito de empresa consagrado no artigo 230º pode ser traduzido por
“empresários”.
o Dessa forma, a lei dirige-se aos sujeitos
Para outra corrente, de autores como COUTINHO DE ABREU ou SOVERAL MARTINS: tais
empresas não são mais que séries ou complexo de atos comerciais objetivos.
o Os atos previstos no artigo 230º do CComercial são comerciais porque são
praticados em série, em repartição orgânica.
o Dessa maneira, a lei dirige-se aos atos práticos.
Assim, torna-se necessário recorrer a outros elementos de interpretação como, por exemplo, o
elemento sistemático, o elemento histórico ou o elemento teleológico.
O artigo 230.º começa por dizer «haver-se-ão como comerciais». Esta expressão parece
aproximá-lo mais de uma norma qualificadora de atos do que de sujeitos, na medida em que, se
visasse qualificar sujeitos, poderia dizer haver-se-ão como comerciantes. Ou seja, uma
interpretação literal da lei levar-nos-ia a defender a primeira corrente.
Mas outros segmentos da norma parecem apontar no sentido diverso, pois quando se diz que
se haverão «como comerciais as empresas singulares ou coletivas que se propuserem» já
parecemos estar a ser remetidos para a qualificação de sujeitos: por um lado, a designação
como singular ou coletiva é atribuível a pessoas (e não a atos); por outro lado, quem tem
propósitos são os sujeitos (os comerciantes).
Portanto, é evidente que a letra da lei nos dá indicações em sentidos diferentes e, por isso,
temos de nos socorrer de outros elementos de interpretação.
18
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
ELEMENTO SISTEMÁTICO
Desde logo, pode ser aqui trazido um argumento de ordem sistemática. Por um lado, o artigo
230.º surge no Título IV (das Empresas) do Livro dedicado a Contratos Especiais de Comércio; o
que indica que o que ali se regula são atos. Por outro lado, se o legislador de facto quisesse
tratar da qualificação de comerciantes teria incluído a norma num local mais próximo ao artigo
13.º, num segmento dedicado à Capacidade Comercial e ao Comerciante.
ELEMENTO HISTÓRICO
Também se pode aqui trazer um argumento de ordem histórica, uma vez que esta norma foi
buscar inspiração ao Código de Comércio Italiano, onde se utilizava o termo “imprese”; e as
imprese eram os atos praticados no quadro da empresa.
CONCLUSÃO
Com efeito, esta norma não serve para qualificar quaisquer atos como atos objetivamente
comerciais: apenas os atos praticados no âmbito da exploração da empresa (mas todos eles; não
apenas os atos expressamente mencionados).
CASO: No caso do circo, a compra da carne é um ato praticado no âmbito da exploração
daquela organização porque visa alimentar os animais utilizados na atividade circense. Portanto,
temos elementos suficientes para entender que se trata de um ato objetivamente comercial por
força do artigo 230.º/4.
Sendo este ato objetivamente comercial, tanto pelo lado da venda, como pelo lado da compra,
podemos dizer que estamos aqui perante um ato bilateralmente comercial1. Deste modo, além
de se tratar de um ato substancialmente comercial, podemos ainda considerá-lo um ato
autónomo de comércio.
Falando em atos autónomos de comércio no âmbito da compra e venda mercantil, importa ter
em conta que o artigo 463.º/1 só qualifica compras como atos objetivamente comerciais se essa
compra se dirigir à prática futura de um ato objetivamente comercial.
Portanto, a afirmação de que a compra de coisas móveis para revenda é um ato autónomo de
comércio só pode ser feita cum grano salis, precisamente na medida em que, sendo sempre
uma compra para a prática de um outro ato posterior de comércio, só será comercial consoante
a sua ligação com a revenda futura.
1
DEFINIÇÃO DE ATO BILATERAL COMERCIAL: São atos cuja comercialidade se verificada em relação a
ambos os sujeitos, contrastando com os atos unilateralmente comerciais que cuja comercialidade se
verifica apenas em relação a um dos sujeitos. Importa, a este respeito, notar que o 99º do CComercial
dispõe que o regime previsto na lei comercial se aplica a ambas as partes mesmo que o ato seja só
mercantil em relação a uma delas. Ver exceções: página 14 NDN
19
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 4 – O caso do plasma
José, funcionário público afetado pelos cortes da crise atual (anterior à próxima), comprou à
«Megadomésticos – Comércio de eletrodomésticos, Lda.» um «Plasma» para impressionar os
amigos. Como não tinha dinheiro suficiente para efetuar o pagamento a pronto na totalidade,
aceitou uma letra em que foi colocado o valor em dívida e pagável no dia 1 de abril de 2020. Os
atos mencionados são ou não comerciais?
Temos de identificar atos comerciais
Se aquilo que nos é perguntado é se os atos são ou não comerciais, tempos de ver não
só se são objetivamente comerciais, mas também se são subjetivamente comerciais.
ATO 1: COMPRA E VENDA: No caso prático em apreço o primeiro ato referido no enunciado é o
da compra e venda do televisor.
Do lado da venda, assumindo que a Megadomésticos – Comércio de eletrodomésticos, Lda é
uma sociedade cuja firma respeita o Princípio da Verdade, aquilo a que ela se dedica é ao
comércio de eletrodomésticos. Este princípio é alvo de consagração expressa no Registo
Nacional de Pessoas Coletivas, mais concretamente no artigo 32º, nº1.
Se se dedica ao comércio de eletrodomésticos e não foi ela que os fabricou, podemos concluir
que eles foram adquiridos nalgum lado para serem revendidos. Portanto, ao vender o plasma, a
sociedade está a revender uma coisa móvel que antes comprou para esse fim e, assim, essa
atividade configura um ato objetivamente comercial por força do artigo 463.º/3.
Do lado da compra, por sua vez, sabemos que ela é realizada por um funcionário público com o
fim de impressionar os amigos. Deste modo, teremos informações para dizer que, pelo artigo
464.º/1, ela não configura um ato comercial.
Portanto, a compra e venda é um objetivamente comercial pelo lado da venda; e uma mera
compra civil pelo lado da compra.
ATO 2: ACEITAÇÃO DE UMA LETRA: 151 NDN: O segundo ato, por sua vez, é o aceite de uma
letra por parte de José.
O aceite de uma letra é um negócio jurídico unilateral que tradicionalmente se designa como
sendo um negócio cambiário. Esta designação deve-se ao facto de este ser um negócio
documentado, isto é, um negócio realizado através de uma declaração negocial que vai constar
de uma letra; letra esta que se chamava, tradicionalmente, letra de câmbio.
Historicamente a letra surgiu associada a operações de câmbio, ou seja, a operações de troca
de moeda (da troca de uma moeda com circulação legal num território pela moeda com circulação legal
noutro território). Hoje já não é assim: a letra já não é uma letra de câmbio, pois já não é utilizada
para a troca de moeda; porém, tem-se mantido a designação tradicional de negócio cambiário.
Mas, portanto, o aceite é uma declaração negocial pela qual o declarante vai aceitar a ordem de
pagamento que lhe é dada na letra. E a letra é um título de crédito que vai conter, antes de
mais, um saque.
O saque, por sua vez, é um negócio cambiário que consiste numa declaração negocial emitida
pelo sacador que emite uma ordem de pagamento. Assim, traduz-se, de modo muito sintético,
numa ordem de pagamento, dada pelo sacador ao sacado, para pagar uma determinada
quantia em dinheiro na data de vencimento da letra.
20
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Neste caso, José é o sacado; ou seja, é a parte a quem é dada a ordem de pagamento. E com o
aceite José afirma que aceita essa ordem de pagamento que lhe é dada pelo sacador para pagar
aquela determinada quantia em dinheiro na data de vencimento estabelecida.
Sendo o aceite um negócio jurídico (unilateral), importa agora perceber se é ou não um ato
objetivamente comercial. Sem prejuízo de o artigo 2.º estabelecer que «serão considerados atos
de comércio todos aqueles que se acharem especialmente regulados no Código», a qualificação
de um ato como objetivamente comercial pode resultar do próprio teor de legislação
extravagante (se ela assim o determinar expressamente), da analogia (legis e iuris) e de uma outra
circunstância.
Em regra, atos regulados em leis que substituem normas do Código Comercial serão também
considerados atos objetivamente comerciais, uma vez que essas leis se consideram parte
integrante do Código, segundo decorre do artigo 4.º da Carta de Lei que o aprovou. O Regime
de Letras e Livranças e Cheques constava dos artigos 278.º e seguintes do Código Comercial.
Mas estes regimes foram substituídos por duas leis uniformes, aprovadas na sequência da
vinculação do Estado Português a certas Convenções Internacionais. O legislador entendeu que,
melhor do que alterar o Código Comercial, deveria fazer constar o novo Regime sobre Letras e
Livranças e o novo Regime sobre o Cheque em leis separadas, de modo a adaptar o direito
interno nacional às obrigações que o Estado assumiu através dessas Convenções Internacionais.
A Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças regula, nos artigos 21.º e seguintes, o aceite das
letras. Portanto, o aceite das letras é um ato regulado que numa lei que substitui disposições do
Código Comercial; o que significa que, não estabelecendo ela o contrário, este é um ato
objetivamente comercial, por força da interpretação articulada entre o artigo 2.º do Código
Comercial e o artigo 4.º da Carta-de-Lei que o aprovou.
Importa notar que o aceite surgiu apenas como um esquema legal para que José pudesse
realizar um ato que tem apenas subjacente uma operação meramente civil (a compra do plasma)
e, portanto, é um ato formalmente comercial. Mas isso não lhe retira o caráter de ato
objetivamente comercial.
Tratando-se de um negócio jurídico unilateral, não temos aqui de apurar se o ato em causa é
um ato bilateralmente comercial, dado que, se só é praticado por um sujeito, será sempre um
ato unilateralmente comercial.
Por fim, podemos qualificá-lo como um ato autónomo de comércio, uma vez que a sua
comercialidade não está dependente da prática de um outro ato de comércio.
21
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
4.ª Aula – 13/11/2020
A firma da Sociedade indica que ela se dedica ao comércio de eletrodomésticos. O comércio de
eletrodomésticos – que não se confunde com o seu fabrico – é uma atividade mercantil uma
vez que se traduz na compra coisas móveis para revender e na revenda coisas móveis
compradas para esse fim. Assim, os n.ºs 1 e 3 do artigo 463 permitem-nos concluir que o seu
objeto se traduz na prática de atos objetivamente comerciais.
Naturalmente, este raciocínio parte do princípio de que a firma da Sociedade respeita o
Princípio da Verdade e não é enganosa, indicando uma atividade diferente daquele que é o
objeto da sociedade. Mas importa ver se o disposto no artigo 1.º do Código das Sociedades
Comerciais é respeitado.
O artigo 1.º/2 estabelece que «são sociedades comerciais aquelas que tenham por objeto a
prática de atos de comércio e adotem o tipo de sociedade em nome coletivo, de sociedade por
quotas, de sociedade anónima, de sociedade em comandita simples ou de sociedade em
comandita por ações».
No que diz respeito à primeira parte da norma, já concluímos que, se a firma respeita o
Princípio da Verdade, o objeto da sociedade – o comércio de eletrodomésticos – traduz-se na
prática de atos objetivamente comerciais. Assim, resta verificar se a sociedade adota algum dos
tipos de sociedade enunciados na segunda parte da disposição.
No Código das Sociedades Comerciais podemos encontrar uma norma relativa à firma de cada
um destes tipos de sociedades comerciais. E, com efeito, o artigo 200.º/1 dita, na sua parte
final, que a firma desse tipo de sociedades deverá sempre conter o aditamento “limitada”, cuja
abreviatura é “Lda.”.
Portanto, a firma «Megadomésticos – Comércio de eletrodomésticos, Lda.» revela, mais uma
vez, que, se o Princípio da Verdade na Composição das Firmas for respeitado, estamos perante
uma sociedade que adotou um dos tipos de sociedades comerciais: o tipo de sociedade por
quotas.
Para uma sociedade ser considerada como sociedade comercial pelo artigo 1.º/2 é necessário
que tenha por objeto a prática de atos comerciais. Mas isso não significa que tenha de ter por
único objeto a prática de atos comerciais! É perfeitamente possível que uma sociedade tenha
um objeto misto – um objeto que é em parte comercial, em parte civil – e, nesse caso, continua
a ser uma sociedade comercial. Nos termos do art. 1.º/2 do CSC, é necessário o preenchimento
de dois requisitos: tem de praticar actos de comércio e adoptar uma das formas das sociedades
comerciais (sociedade em nome colectivo, sociedade por quotas, sociedade anónima e
sociedade em comandita simples ou por acções). O segundo requisito está preenchido (adopta
a forma de sociedade por quotas, como a firma denota, art. 102.º do CSC).
Além disso, quando o n.º 3 determina que «as sociedades que tenham por objeto a prática de
atos de comércio devem adotar um dos tipos referidos no número anterior», isto aplica-se quer
o objeto dessa sociedade seja exclusivamente composto por atos de comércio, quer se traduza
só em parte na prática de atos de comércio.
Isto demonstra, mais uma vez, a importância prática da qualificação de atos como atos
objetivamente comerciais, uma vez que para saber se uma certa sociedade tem ou não de
adotar um dos tipos referidos no artigo 1.º/2 a primeira coisa a fazer é identificar qual é o seu
22
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
objeto – e estaremos perante uma sociedade comercial se o seu objeto se traduzir na prática de
atos comerciais (ainda que apenas parcialmente).
Note-se, no entanto, que se o objeto da sociedade configurar um objeto meramente civil (se
apenas se traduzir na prática de atos civis) é possível optar por constituir uma sociedade civil
(artigos 980.º e seguintes do Código Civil) ou uma sociedade comercial, nos termos do artigo 1.º/4
do Código das Sociedades Comerciais. E isso poderá realmente representar uma vantagem nos
casos em que os sujeitos optarem por um tipo de sociedade comercial de responsabilidade
limitada (para os sócios), como a sociedade por quotas ou a sociedade anónima, por exemplo.
Quer estejamos perante uma sociedade com objeto meramente civil, que estejamos perante
uma sociedade com objeto comercial, a escolha do tipo de sociedade é realizada em função do
respetivo regime: o regime quanto à estrutura organizatória da sociedade, o regime da
responsabilidade dos sócios (perante a sociedade e perante terceiros), o regime da transmissão das
participações sociais (inter-vivos ou por mortis causa), o número mínimo de sócios, o capital social
mínimo exigido, etc.
Porém, estamos só a estudar o Regime Geral das Sociedades Comerciais: o facto de essas
escolhas serem geralmente permitidas não invalida que legislação avulsa preveja casos em que
sociedades de direito especial têm necessariamente de adotar um certo tipo de sociedade
comercial em função do seu objeto. É o caso, por exemplo, das sociedades do setor segurador
ou do setor bancário (as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS) têm que adotar o tipo de
sociedade por quotas ou o tipo de sociedade anónima).
Caso prático 5 – O caso do reparador de automóveis
Alberto é dono e explorador de uma oficina de automóveis especializada no controlo eletrónico de
veículos e sua reparação. Alberto celebrou com Jorge um contrato pelo qual este último ficou
obrigado a atuar como agente de Alberto. Diga se Alberto e Jorge são (ou não) comerciantes e se
o contrato de agência referido é ou não um ato de comércio em sentido objetivo.
Questões: Os sujeitos são comerciantes?
- Alberto é?
- Jorge é?
O contrato de agência é um ato de comércio em sentido objectivo?
-230º Significado
A primeira questão que se coloca é a de saber se os sujeitos são ou não comerciantes. E o
primeiro sujeito que nos é mencionado é Alberto, dono e explorador de uma oficina de
automóveis especializada no controlo eletrónico de veículos e sua reparação.
PONTO 1: ALBERTO – SUJEITO 1: A atividade de reparação é a uma atividade de prestação de
serviços. E uma oficina de automóveis pode ser, em regra, qualificada como uma empresa.
Portanto, Alberto é dono e explorador de uma empresa de prestação de serviços.
Ainda que existam empresas de reparação de automóveis artesanais (como acontece, por
exemplo, com muitas empresas de reparação de automóveis clássicos, onde alguém é especialista em
reparar estofos ou volantes de automóveis antigos e exerce esse trabalho de reparação diretamente,
23
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
como uma espécie de artesão), este não parece ser o caso e, por isso, vamos assumir que a oficina
de Alberto é uma empresa de prestação de serviços não artesanal.
PONTO 2: Que vias nos permitem qualificar a atividade destas empresas como comerciais?
Página 9 - NDN
O artigo 230.º não faz expressa referência nem a estas atividade, nem a empresas de prestação
de serviços. Porém, como sabemos a enumeração dos atos de comércio constante da primeira
parte do artigo 2º do CCom é exemplificativa. Nesse sentido, uma das questões que mais dividiu
a doutrina portuguesa foi a de saber se é possível qualificar por analogia como comercial atos
não regulados na lei ou que cujo carácter não é declarado de forma legislativa. A tese da
inadmissibilidade da qualificação de atos mercantis por analogia invoca três argumentos: a letra
da lei, o elemento histórico (o Código Comercial Espanhol de 1885) e a ideia de certeza e
segurança jurídica. Ora, doutrina atual rejeita estes argumentos admitindo o recurso à analogia
para qualificar atos como comerciais. Nesse sentido, os defensores da admissibilidade da
analogia apontam vários contra argumentos: em primeiro lugar, a letra do artigo 2º não é
concludente ; em segundo lugar, os códigos atuais com figurinos de atos mercantis semelhantes
ao nosso, admitem a legitimidade do recurso à analogia. Por fim, actualmente dá-se mais valor
ao valor da justiça ou da razoabilidade em detrimento da certeza e da segurança jur
Ora, é verdade que o artigo 230º não faz referência expressa a esta actividade, mas podemos
lançar mão da analogia legis nos casos em que estamos perante uma empresa de fornecimento
de serviços.2 Para isso, é preciso averiguar se esta empresa de prestação de serviços é uma
empresa de fornecimento de serviços ou não.
Uma empresa de fornecimento de serviços é uma empresa que celebra, com os seus clientes,
contratos de fornecimento dos serviços que presta; de tal modo que o prestador de serviços se
obriga, durante certo período de tempo, a realizar prestações de serviços por um valor
acordado previamente. E é esta nota fundamental que permite convocar o artigo 230.º/2 por
analogia legis.3
O artigo 230.º/2 estabelece que se haverão por comerciais as empresas que se propuserem
«fornecer, em épocas diferentes, géneros, quer a particulares, quer ao Estado, mediante preço
convencionado». Naturalmente, serviços (de reparação de automóveis, neste caso) não se inserem
na categoria de “géneros” propriamente ditos. Portanto importa perceber o que justifica a
analogia legis.
A comercialização, no artigo 230.º/2, da atividade de fornecimento de géneros mediante preço
convencionado deve-se ao risco associado ao facto de alguém se obrigar a desenvolver esta
atividade – o fornecimento de géneros – ao longo de um certo período de tempo mas fixando o
preço à partida.
2
A analogia juris envolve a integração de uma lacuna através de um princípio geral de direito já aplicado em caso
semelhante. Por seu turno, a analogia legis consiste no preenchimento da lacuna através de uma norma existente
que disponha sobre casos análogos. Página 9 e 10 NDN
3
A admissibilidade do recurso à analogia legis não levanta grandes dúvidas, mas o mesmo não se dirá quanto à
analogia iuris. Porém, Coutinho de Abreu considera que é possível extrair vários princípios gerais de vários grupos
de normas qualificadores de diversos atos como ato comércio, que possibilitam o recurso à analogia iuris.
24
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Imaginemos um contrato para o fornecimento de batatas, durante 6 meses, a 0,80€/kg. Quando
propõe o preço à contraparte, o fornecedor tem os seus cálculos feitos e há-de concluir que, para
colocar as batatas junto do cliente àquele preço, tem de gastar 0,80€ – X para ter a sua margem,
pois não aceitaria perder dinheiro logo à partida e sabe que, além de cobrir os custos necessários
ao fornecimento, tem de ter algum lucro para sobreviver e pagar as suas próprias despesas.
Mas estes cálculos são feitos tendo por base que o valor desses custos se vai manter dentro de
uma certa margem ao longo desses 6 meses; o que pode alterar de um momento para o outro (o
preço do combustível pode subir, a inflação pode disparar, etc). E foi essa dimensão de risco que levou à
inclusão desta matéria na matéria mercantil.
No caso do reparador de automóveis não estamos perante fornecimento de géneros. Mas se a
empresa de prestação de serviços (a oficina) for uma empresa de fornecimento de serviços, o
facto de estar a assumir um risco em tudo idêntico ao que se observa no âmbito do
fornecimento de géneros justifica a aplicação do artigo 230.º/2 por analogia legis para a
qualificação da atividade como atividade objetivamente comercial.
As empresas que se dedicam ao controlo eletrónico de veículos e sua reparação (como a oficina
do Alberto) realizam a sua atividade através de contratos de fornecimento de serviços com
outras empresas que têm frotas de automóveis, por exemplo.
De facto, é frequente que empresas que tenham muitos automóveis a circular e precisem de
empresas que lhes forneçam esse tipo de serviços prefiram celebrar um contrato de
fornecimento de serviços com uma oficina do que contratar serviço a serviço, uma vez que esta
segunda alternativa traria custos muito mais elevados.
Assim, esta solução acaba por ser vantajosa para ambas as partes: por um lado, a contraparte
do prestador de serviços beneficia da provável disponibilidade para baixar o preço das
reparações; e, por outro lado, o fornecedor de serviços ultrapassa a insegurança de não saber
se terá clientes durante o período convencionado (os contratos de fornecimento de serviços deste
tipo acabam por ser uma forma de fidelização do cliente).
Este tipo de situações multiplica-se por outro tipo de empresas de prestação de serviços, como
é o caso das lavandarias ou das empresas (não artesanais) que se dedicam a atividades de
recuperação física através de massagens e fisioterapias.
Por um lado, muitas lavandarias dedicam-se a tratar da limpeza da roupa de um hotel ou de
uma cadeia de hotéis, porque seria economicamente ineficiente celebrar um contrato de cada
vez que precisassem de meter roupa a lavar; e, assim, o que estes sujeitos costumam fazer é
celebrar contratos de fornecimentos de serviços.
Por outro lado, há cada vez mais empresas de recuperação física de atletas que celebram
contratos de fornecimento de serviços com clubes desportivos.
Em suma, serve isto para demonstrar que se pode entender que a atividade praticada pelas
empresas de prestação de serviços que realizam a sua atividade através de contratos de
fornecimento de serviços com preço previamente convencionado pode ser qualificada como
comercial, mediante aplicação, por analogia legis, do artigo 230.º/2.
25
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Mas também é possível qualificar como comercial a atividade praticada pelas empresas de
prestação de serviços que não realizam a sua atividade através de contratos de fornecimento de
serviços; já não por analogia legis, mas por analogia iuris. Coutinho de Abreu rejeita a ideia de
um conceito unitário de ato comercial, mas aceita a extracção de vários princípios gerais de
vários grupos de normas qualificadores de diversos atos como atos de comércio, que
possibilitem o recurso à analogia iuris.
Com efeito, se analisarmos a legislação comercial portuguesa (e os múltiplos exemplos
expressamente regulados na lei em que a prestação de serviços é vista como comercial) , parece ser
possível retirar um princípio geral segundo o qual as empresas de prestação de serviços serão,
em regra, empresas comerciais.
Portanto, podemos qualificar as empresas comerciais e os atos praticados no âmbito da sua
exploração como atos objetivamente comerciais, quer por analogia legis (empresas de prestação
de serviços no âmbito de contratos de fornecimento de serviços) quer por analogia iuris (empresas de
prestação de serviços fora do âmbito de contratos de fornecimento).
Retomando a análise do caso do reparador de automóveis, estávamos a abordar a matéria
relativa à atividade a que Alberto se dedicava para responder à questão de saber se ele é ou
não um comerciante.
E já podemos concluir que, se a sua empresa não for artesanal, a sua atividade é uma atividade
objetivamente comercial, quer se trate de uma empresa de fornecimento de serviços, quer se
trate de uma simples empresa de prestação de serviços; ou por analogia legis com o disposto
no artigo 230.º/2, ou por analogia iuris, respetivamente.
O percurso percorrido para qualificar esta atividade como atividade objetivamente comercial é
importante por uma outra razão: para sabermos se o contrato celebrado também é ou não é
um ato objetivamente comercial (pelo lado do Alberto).
Se a oficina for uma empresa de fornecimento de serviços é possível aplicar, por analogia legis,
o artigo 230.º/2 para qualificar como objetivamente comercial a atividade de Alberto, desde
logo; mas também os atos que se integram na atividade desenvolvida no âmbito da
organização. E aquele contrato – o contrato de agência – é um ato que se enquadra no âmbito
da exploração daquela organização.
E se a oficina for uma mera empresa de prestação de serviço (que não realiza a sua atividade
mediante contratos de fornecimento de serviços) a solução é a mesma; já não por força da aplicação
do artigo 230.º/2 por analogia legis, mas através de analogia iuris. Portanto, também este é um
ato objetivamente comercial pelo lado do Alberto – o principal do contrato de agência em
causa.
SUJEITO 2: JORGE: Analisada a situação de Alberto, cabe agora averiguar se Jorge – o agente do
contrato de agência – é ou não comerciante. Assim, naturalmente, temos de ver se a atividade
que ele desenvolve é uma atividade comercial; isto é, uma atividade que se compõe da prática
de atos objetivamente comerciais.
O artigo 2º do Código Comercial deve ser interpretado de forma extensiva, abarcando outras leis
comerciais. Nesse sentido, a determinação concreta do conceito de “ato comercial objectivo” é
operada mediante a utilização de quatro critérios: atos previstos no Código Comercial ; Atos
previstos em leis comerciais substitutivas ou revogatórias do Código Comercial, atos previstos
em leis que se auto-qualificam como comerciais e atos análogos.
26
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Mesmo com base nestes critérios, a questão de saber se a atividade a que um agente se dedica
é ou não uma atividade comercial tem sido muito discutida, tanto na doutrina como na
jurisprudência. Mas a nossa posição passa por saber se o agente tinha uma empresa no
momento em que celebrou o contrato e se esse contrato se integrava no âmbito da sua
exploração.
Segundo o artigo 230.º/3, haver-se-ão por comerciais as empresas que se propuserem
«agenciar negócios (…) por conta de outrem». Portanto, se um agente empresário celebrar um
contrato de agência, ele está a praticar um ato objetivamente comercial.
Isto significa que se o Jorge desenvolver a sua atividade como agente no âmbito de uma
empresa temos elementos para afirmar que o ato por ele praticado pode qualificar-se como um
ato objetivamente comercial.
No entanto, se o Jorge não for empresário continua a ser possível qualificar-se a atividade por si
desenvolvida como uma atividade mercantil. Apesar de no n.º2 do preâmbulo do Decreto-Lei
n.º 178/86 se referir ao «contrato de agência ou de representação comercial», o Diploma
dedicado ao contrato de agência não tem nenhuma norma que diga expressamente que o
contrato de agência é um ato objetivamente comercial.
Aquilo que é fundamental é que a atividade do agente (não empresário) possa ser qualificada
como atividade de interposição nas trocas, uma vez que é como atividade de interposição nas
trocas que se pode dizer que essa atividade é uma atividade objetivamente comercial, por
analogia iuris: mais uma vez, podemos retirar da legislação comercial um princípio geral
segundo o qual a atividade de interposição nas trocas é, em regra, comercial.
Sendo evidente que Jorge é uma pessoa, e assumindo que ele tem capacidade para praticar
atos de comércio, a questão que se coloca é a de saber a partir de que momento é que ele
adquire a qualidade de comerciante.
A PARTIR DE QUE MOMENTO JORGE ADQUIRE A QUALIDADE DE COMERCIANTE? PÁGINA 15-NDN
A lei não nos dá resposta a este problema, pois diz-nos que são qualificados como comerciantes
«aqueles que, tendo capacidade para a prática de atos de comércio, fazem deste profissão» mas
não indica quantos atos se têm de praticar. E não o faz, desde logo, porque estabelecer um
critério fixo também seria algo absurdo. Neste âmbito, entende-se que o início da qualidade de
comerciante poderá depender de um só ato ou de vários. Em tese geral, poderemos considerar
esse início se determina pela prática do ato ou de atos reveladores do propósito e possibilidade
do sujeito se dedicar ao exercício habitual de uma actividade comercial.
EXEMPLO: artigo 95º Código Comercial
Porém, o Doutor Jorge Manuel Coutinho de Abreu vai mais longe e dá um contributo doutrinal
muito significativo neste âmbito! O professor de Coimbra defende que as pessoas singulares se
tornam comerciantes a partir do momento em que praticam atos preparatórios da empresa. Isto
é, atos que revelem, não apenas a intenção, mas também a possibilidade de se dedicarem,
com caráter habitual, ao exercício de atividades comerciais.
27
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Portanto, este critério traduz duas ideias.
Por um lado, a ideia de que não tem de estar em causa um conjunto de atos (basta um
ato apenas).
Por outro lado, a ideia de que não basta ter a intenção: é necessário que o ato ou os
atos revelem a possibilidade de exercer essa atividade habitual.
Em suma, o comerciante é a pessoa que pratica atos de comércio com profissionalidade, isto é,
de modo habitual ou sistemático. Não se exige, no entanto, que a profissão comercial seja a
única exercida pelo sujeito, nem que seja a principal, nem mesmo que esta profissão seja
exercida de modo contínuo. Já será exigível que a actividade seja exercida em nome próprio.
Desse modo, podemos de forma sintética elencar estes elementos do conceito de comerciante:
Têm de ter capacidade de exercício
Tem de praticar atos de comércio objetivos de forma profissional
Por fim, têm de atuar em nome e em interesse próprio
Se aplicássemos este critério a este caso concluiríamos que, se ainda não o era, Jorge tinha
adquirido a qualidade de comerciante com a celebração daquele contrato de agência.
De facto, o contrato revela também a possibilidade de Jorge se dedicar à prática de atos de
comércio com caráter habitual porque, com isso, ele passou a ter poderes para atuar como
alguém que se vai interpor nas trocas para o futuro: através desta vinculação (de certa duração),
Jorge obriga-se a promover os negócios de Alberto – o principal –, de forma autónoma e
estável, mediante retribuição.
A referência à autonomia e à estabilidade é fundamental na medida em que mostra
precisamente a possibilidade de Jorge se dedicar ao exercício de uma atividade comercial
porque, deste modo, são-lhe conferidos poderes para atuar de forma estável no exercício de
interposição nas trocas. E não tem que ter uma empresa para exercer essa atividade!
Que exemplos podemos dar de agentes comerciais? Será que um agente futebolístico é um agente
comercial?
Essa questão é muito discutível, uma vez que, em primeiro lugar, era preciso chegar à conclusão
que a atividade em causa é uma atividade comercial – o que é muito duvidoso. A atividade que os
agentes futebolísticos realizam é uma atividade de prestação de serviços que, por um lado, pode
não ser empresarial; e, por outro lado, pode situar-se muito próxima das profissões liberais.
Um agente comercial é alguém que promove os negócios de outrem. E dizer que um agente
futebolístico promove os negócios do jogador de futebol pode ser algo equívoco. Mas há
argumentos que permitem sustentar que, de facto, promove os contratos que o futebolista quer
celebrar com as equipas de futebol, por exemplo.
De todo o modo, como é natural, a medida em que essa atividade é exercida nos termos de uma
empresa não artesanal e em que essa atividade se liberta do caráter de profissão liberal do agente
variará consoante as situações.
Muitos agentes futebolísticos desenvolvem essa atividade a título de prestação de serviços com
caráter artesanal. É o caso, por exemplo, dos pais que fazem os negócios para os seus filhos.
28
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Mas também há casos em que se pode falar numa atividade comercial. Precisamente como
atividade de interposição nas trocas, na medida em que o agente se liberta da mera atividade de
prestação de serviços liberal (se for uma profissão liberal não é comercial).
Isto poderá acontecer sem empresa, como empresa de prestação de serviços não artesanal por
analogia, ou, eventualmente, havendo empresa, diretamente por aplicação do artigo 230.º/3, que
faz referência ao «agenciar negócios».
Portanto, e sem prejuízo da possibilidade de existirem disposições legais em contrário no Diploma
que regula a atividade dos agentes futebolísticos, parece haver alguma margem para qualificar os
agentes futebolísticos como agentes de caráter mercantil; desde que se dediquem a promover a
celebração dos contratos entre o futebolista e os clubes desportivos ou entre o futebolista e as
empresas que o vão patrocinar (desde que não se trate apenas de promover a imagem), por exemplo.
E as empresas que atuam como agentes de empresas de comunicações móveis à distância (como a
MEO, a NOS ou a VODAFONE)? Muitas das pequenas empresas que encontramos pela cidade são
agentes das operadoras de serviços de comunicações móveis, atuando de modo a promover o
negócio destas.
Com efeito, para celebrarmos um contrato com a empresa que fornece esse tipo de serviços de
comunicações móveis temos, muitas vezes, de assinar uns papéis que são, na verdade, propostas
contratuais. E o agente pega nessas propostas e envia-as à NOS para ver se a NOS as aceita.
Outros exemplos são as agências imobiliárias ou as empresas que atuam como agentes de
fornecedores de gás, por exemplo, que funcionam como meros agentes, recebendo propostas dos
clientes que enviam para o principal.
Importa notar que, para serem agentes, os sujeitos não têm de ter poderes de representação
do principal: têm, de facto, de atuar por conta do principal; mas atuar por conta de alguém não
implica a possibilidade de celebrar negócios em seu nome.
Se tiver poderes de representação, o agente pode celebrar logo o negócio com o cliente de tal
modo que o contrato obriga o principal; se, pelo contrário, não tiver poderes de representação,
o agente limita-se a receber as propostas dos clientes e a enviá-las ao principal para que ele
decida se aceita, concluindo o contrato.
Com efeito, de acordo com a lei, o que o agente faz é promover os negócios. E se o que
caracteriza a atividade do agente é promover os negócios – e não celebrá-los –, basta que tenha
uns catálogos ou umas amostras dos produtos que pretende comercializar de modo a enaltecer
os aspetos positivos da atividade do principal.
No caso que estamos a analisar, o principal – Alberto – desenvolvia a atividade de diagnóstico
de automóveis e sua reparação. Por isso, Jorge provavelmente teria uns folhetos com
fotografias das máquinas que Alberto tem na oficina, umas referências a certificações de
qualidade de entidades certificadoras, umas declarações de clientes satisfeitos, etc. Tudo isso
pode ser utilizado para promover o negócio de Alberto.
Logo, podemos concluir que, segundo o critério do Doutor Coutinho de Abreu, Jorge seria
comerciante pelo menos a partir do momento em que celebrou o contrato de agência.
29
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Consequentemente, também temos elementos para dizer que, pelo lado do agente, o contrato
é um ato objetivamente comercial enquanto ato de interposição das trocas por analogia iuris,
caso Jorge não fosse empresário; ou nos termos do artigo 230.º/3, caso Jorge tivesse uma
empresa.
Assim, estamos perante um ato bilateralmente comercial; um ato substancialmente comercial –
e não meramente formal –; e um ato autónomo de comércio.
30
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
5.ª Aula – 16/11/2020
Caso prático 6 – O caso das cartas que nunca apareciam
A Armar – Montagem de cofragens para a construção civil, Lda., constituída em 1990, queixava-se
ultimamente, com frequência, do desaparecimento de correspondência que lhe era destinada.
Feita a queixa junto dos CTT, veio a descobrir que os carteiros deixavam as cartas na caixa do
correio da Armar – Transporte marítimo de mercadorias, S.A.. Como esta última foi constituída em
2018, aquela primeira sociedade quer avançar com uma ação em tribunal para exigir que a
segunda altere a firma. Terá fundamentos para obter ganho de causa?
O caso em questão enquadra-se na matéria relativa aos princípios informadores da composição
das firmas e denominações. Neste âmbito, importa destacar que a composição de firmas e
denominações obedece a determinados princípios, de cuja observância dependerá a admissão
da firma ou denominação no registo nacional.
Neste caso em questão o problema que se coloca é o de saber se a firma da sociedade
constituída no segundo momento terá ou não de ser alterada; ou, noutros termos, se quem é
titular da firma da sociedade constituída no primeiro momento tem direito a exigir essa
alteração.
O que importa analisar primeiro é se algum dos princípios relativos à composição da firma está
a ser posto em causa. E está: o Princípio da Novidade e Exclusividade. Este princípio é alvo de
consagração expressa no artigo 33º, nº1 do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, traduzindo-
se na seguinte ideia: outras ou novas firmas ou denominações não podem incluir expressões
idênticas ou confundíveis com as já existentes, no mesmo espaço geográfico. Nota, que este
conceito de espaço geográfico é variável consoante o tipo de sociedade em questão.4
No caso em questão estamos perante duas sociedades comerciais de cariz distinto (a primeira é
uma sociedade por quotas, a segunda é uma sociedade anónima), logo, podemos concluir que o
espaço geográfico abrangido por este princípio é todo o território nacional, em conformidade
pelo artigo 37º, nº2 do RNPC.
Assim, surge aqui a questão de saber em que âmbito é que este princípio se aplica. Sendo
necessário colocar duas questões:
1. Quais são os critérios que se devem utilizar para determinar a confundibilidade ou o
induzimento em erro?
Podemos dizer que a firma não é nova relativamente a outra firma ou denominação quando,
atentendo à grafia das palavras, ao efeito fonético das expressões, ao núcleo caraterizante, à
forma oficiosa dos signos, o público médio não consegue distinguir essas mesmas firmas,
tomando uma por outro, ou, não as confundido acredita de forma errada que se trata de
comerciantes distintos mas com uma relação de especial ligação
4
Página 28 NDN
31
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
2. Será que vale relativamente a atividades diferentes (não concorrentes)?
No âmbito do princípio da novidade questiona-se se este princípio vale para comerciantes não
concorrentes que exercem actividades diversas, ou tão-só, para comerciantes concorrentes.
Importa perceber que a doutrina diversa em relação a este ponto. No caso em questão,
podemos partir do pressuposto que que tanto uma, como a outra empresa respeitaram o
Princípio da Verdade na Composição das Firmas. Por isso mesmo, estamos perante sociedades
que se dedicam a atividades diversas. Ora vejamos:
PRIMEIRA EMPRESA: A primeira terá como objeto social a montagem de cofragens para a
construção civil (estruturas utilizadas para serem enchidas com betão ou cimento);
SEGUNDA EMPRESA: a segunda dedicar-se-á ao transporte de mercadorias.
Naturalmente, ninguém vai à Sociedade de montagem de cofragens contratar um contentor
para Singapura; e também ninguém vai a uma empresa de transporte marítimo contratar a
montagem de umas cofragens para fazer uma estrutura em betão.
Como já referi, a doutrina diverge-se em relação a este ponto: Importa neste sentido, referir
duas visões distintas:
Por um lado, temos a visão de PINTO COELHO E NOGUEIRA SERENS: De acordo com
estes autores o princípio só é aplicável a comerciantes concorrentes, não valendo
quando os comerciantes identificados pelas firmas ou denominações não concorrem
entre si. Para defender esta posição, podemos mobilizar dois argumentos distintos:
o O risco de confusão entre firmas em tais casos é inexistente ou quase
inexistente.
o O artigo 33º, nº2 do RRNPC confirma este entendimento, considerando como
critério para aferir a distinção e não susceptibilidade de confusão a afinidade ou
proximidade das actividades das firmas ou denominações consideradas.
Por outro, temos a perspectiva dominante de autores como FERRER CORREIA, OLIVEIRA
ASCENSÃO, CARLOS OLAVO OU COUTINHO DE ABREU: Para este grupo de autores, o
princípio também vale para comerciantes não concorrentes, não relevando para efeitos
de aplicação deste princípio a prática, pelos comerciantes envolvidos, de actividades
concorrentes ou não. Para defender esta posição, estes autores mobilizam uma série de
argumentos:
o Apesar da não concorrência, o risco de confusão mantém-se, sobretudo se
estiverem em causa firmas ou denominações sediadas num espaço geográfico
relativamente reduzido. É preciso ter em consideração o impacto no público
médico, e não um impacto abstracto tendo como referência um público ideal.5
5
Neste sentido, temos o acórdão do STJ de 20/10/98 referente ao caso que envolvia a Brisa – Auto
Estradas de Portugal SA e uma Sociedade de Exploração Turística e Hoteleira chamada Brisa – Hotel LDA.
A jurisprudência alemã no Acórdão Baumbach / Wefermehl de 1993 chegou à mesma conclusão. Isto é,
o princípio vale também para comerciantes não concorrentes.
32
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
o Além disso, a afinidade das actividades é apenas um dos critérios que podem
ser mobilizados para apreciar a confundibilidade. Logo, o argumento
mobilizado pelos defensores da primeira tese relativamente ao artigo 33º, nº2
do RRNPC deve ser rejeitado.
Ou seja, temos duas formas de resolver o caso. Se seguirmos a tese de PINTO COELHO e
NOGUEIRA SERENS diríamos que não se justificaria aplicar o Princípio da Novidade e
Exclusividade nesta situação. Porém, na realidade, o risco de confusão aqui relevante para a
aplicação do Princípio da Novidade não é apenas o risco de se procurar a entidade errada
quando se queria celebrar um negócio com a outra. Logo, devemos aplicar a segunda tese,
considerando que o princípio da novidade e exclusividade se aplica também para comerciantes
NÃO CONCORRENTES. Como já vimos quer a jurisprudência portuguesa e alemã decidiram neste
sentido em dois casos na década de 90.
Ou seja, perante comerciantes com atividades diferentes continua a haver o risco de confusão
de tomar um sujeito pelo outro. Porque, apesar de terem um objeto diferente, a firma oficiosa
de cada uma delas pode ser apenas a expressão “Armar”.
Essa possibilidade de se tomar um sujeito pelo outro (ou uma firma pela outra) olhando para a
firma oficiosa não levará ninguém a contratar um transporte de mercadorias com uma
sociedade que se dedica à montagem de cofragens. Mas pode gerar confusões.
Pode gerar confusões, por exemplo, para a troca de correspondência ou para a imagem da
sociedade: por um lado, se uma das sociedades for declarada insolvente, isto pode ter
consequências na imagem da outra porque, se ambas forem conhecidas pela firma oficiosa
“Armar”, o facto de se espalhar que “a Armar foi declarada insolvente” pode ter consequências
para a outra sociedade; por outro lado, o público médio destinatário que se relaciona com
aquelas sociedades pode pensar que há, pelo menos, uma especial relação entre aquela
sociedade (que são sociedades em regime de grupo, por exemplo).
O facto de se dizer que esse risco de confusão pode existir não quer dizer que exista. Mas é isso
que justifica que o princípio da novidade e exclusividade também se aplique aqui: uma coisa é
ver se o princípio se aplica; e outra coisa é saber se, aplicado, esse princípio conduz a que se
afirme que há uma possibilidade de confusão.
Será que há alguma suscetibilidade de erro ou confusão?
Para responder a essa questão temos que analisar as duas firmas em concreto. Porque, como
não são idênticas, o juízo tem de ser feito com maior cuidado.
Como já vimos, há alguns elementos de grafia comuns, uma vez que ambas as firmas têm o
mesmo núcleo caracterizador – “Armar”. Mas, neste caso, seria importante saber se a sua firma
oficiosa seria “Armar”; isto é, se no mundo dos negócios ambas as sociedades eram conhecidas
apenas por “Armar”, uma vez que esse era um elemento que nos aproximava da possibilidade
de concluir por um juízo afirmativo acerca da confundibilidade.
Nas Lições o Doutor Coutinho de Abreu afirma entender que havia risco de confusão num caso
parecido (“SDP”). Mas nessa hipótese ambas as firmas oficiosas eram iguais; o que tem de ser
provado. E, de facto, no caso que estamos a analisar era muito difícil concluir por um juízo de
confundibilidade se não se provasse que as firmas oficiosas eram “Armar”.
33
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Além disso, enquanto no caso das Lições as sociedades em causa são do mesmo tipo, esta
situação confronta uma Sociedade Limitada e uma Sociedade Anónima.
MEIOS DE TUTELA DO DIREITO À FIRMA OU DENOMINAÇÃO
De acordo co m o artigo 3º e 35º, nº1 do RRNPC, o direito à exclusividade de firma ou
denominação constitui-se com o registo definitivo delas. De forma a proteger o direito à
exclusividade o legislador consagrou uma série de instrumentos de tutela deste direito. Dessa
forma, podemos dividir os meios de protecção em meios preventivos e meios repressivos.
Comecemos pelos meios preventivos:
Certificados de admissibilidade de firmas e denominações: Estes certificados são
emitidos pelo Registo Nacional das Pessoas Coletivas e, sem tais certificados, diversos
atos relativos à constituição ou alteração das firmas e denominações não podem ser
formalizados ou registados. A emissão destes certificados depende da observância dos
princípios consagrados na lei e demais critérios previstos na lei para a admissibilidade
de firmas / denominações.
Além destes preventivos, temos igualmente meios repressivos:
Declaração de nulidade, anulação ou revogação do registo: implica a perda do direito ao
uso da firma ou designação. Artigos 35º, nº4 e 60º RRNPC
Ação de indemnização e acção criminal em caso de uso ilegal de firma ou denominação
nos termos do artigo 62º
No caso em questão poderemos lançar mão deste último meio. No artigo 62.º do Regime do
Registo Nacional de Pessoas Coletivas o legislador diz que «o uso ilegal de uma firma ou
denominação confere aos interessados o direito de exigir a sua proibição, bem como a
indemnização pelos danos daí emergentes, sem prejuízo da correspondente ação criminal, se a
ela houver lugar».
Isto significa que quem viola o princípio da novidade (quem regista a firma em segundo lugar) faz
um uso ilegal dessa firma e, portanto, se a outra sociedade exigir a proibição desse uso, é
obrigada a deliberar uma alteração do contrato de sociedade para alterar a firma.
Note-se, por fim, que, a não ser que se provasse que estava aqui em causa um crime de
concorrência desleal, não haveria, em princípio, fundamento para uma ação criminal.
Algumas notas adicionais:
Para além dos meios repressivos previstos no RRNPC, existem uma série de outros meios
previstos em outros instrumentos legais:
Regime da concorrência desleal: 317º CPI
Convenção da União de Paris (2º,3º e 8º).
34
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 7 – O caso do sócio que deixou de o ser
Armando Gambosino era o sócio-gerente da Armando Gambosino, Lda, sendo titular de uma
quota correspondente a 40% do capital daquela sociedade. Armando Gambosino cedeu a sua
quota a Juvenal Celestino em 1 de agosto de 2019.
Hoje, Armando Gambosino foi contactado por um funcionário de uma empresa de cobranças
difíceis que lhe veio dizer que a Armando Gambosino, Lda, devia muito dinheiro e que alguém
tinha de pagar. Armando Gambosino, incomodado com a situação descrita, pretende saber se
pode exigir que a Armando Gambosino, Lda, altere a respetiva firma. O que lhe diria?
O caso em apreço enquadra-se na temática dos princípios informadores da composição de
firmas e denominações. Como sabemos, a composição de firmas e denominações tem de
obedecer a uma série de princípio, de cuja observância dependerá a admissão da firma ou
denominação no registo nacional.6
A norma que aqui devemos convocar surge num artigo sobre o princípio da verdade: o artigo
32.º/5. Este preceito determina que «quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou
sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação da pessoa coletiva, deve tal
firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que
se retire ou os herdeiros do que falecer consintam por escrito na continuação da mesma firma
ou denominação». A alteração da firma nestes casos é requerida pelo princípio da verdade, bem
como pela tutela do direito ao nome das pessoas humanas. O legislador entendeu que isto
deveria ser tratado a propósito do princípio da verdade porque o facto de o nome dos sujeitos
constar na firma poderia criar, junto do público médio, a ideia de que ele ainda continuava
sócio. As sociedades que têm uma firma nome – como esta – fazem-no, normalmente, em
virtude de a pessoa do sócio ser alguém com bom nome que, por isso, pode significar uma
maior aceitação na própria sociedade (junto dos credores, fornecedores, financiadores, etc).
O NOME DA FIRMA TERÁ DE MUDAR OBRIGATORIAMENTE?
O nome da firma não terá, no entanto, de ser alvo de mudança. Nesse sentido, a doutrina
dominante em França, Alemanha, Itália e Portugal, consideram que, em regra, a saída de um
sócio com nome na firma social não implica a alteração da mesma.
6
Este princípio tem várias repercussões: Página 27 - NDN
a) A firma dos comerciantes individuais deve conter o nome deles e não de outrem; b) A firma-
nome e a firma mista dos ACE devem conter o nome ou firma dos sócios (ou associados) e não
de estranhos;
b) As firmas e as denominações não podem conter palavras, expressões, abreviatu ras, etc. que
induzam em erro quanto à caracterização jurídica dos respetivos titu lares (ex.: “Associação de
Importadores de Automóveis, Lda.” para uma socie dade por quotas)
c) As firmas-denominações, as firmas mistas e as denominações não podem incluir elementos
que sugiram atividades diversas das que os respetivos titulares exercem ou podem exercer.
d) Quando, por qualquer causa (morte, transmissão da participação social, etc.), deixe de ser
associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa
coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o
sócio ou associado que se retire (ou os seus herdeiros) consinta por escrito na continuação da
mesma firma ou denominação (art.32º/5 RRNPC).
35
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Ora, Armando poderia dar o seu consentimento para a continuação do uso do seu nome na firma
da sociedade. Mas não o fez. E se não o fez a sociedade tem o prazo de um ano para alterar a
sua firma, a contar a partir do momento em que a cessão de quotas seja eficaz em relação à
sociedade.
Se a cessão de quotas se tiver tornado eficaz em relação à sociedade a 1 de agosto de 2019, a
sociedade podia continuar a utilizar, licitamente, o nome do ex-sócio na firma até 1 de agosto
de 2020. Mas se dentro desse ano não alterou o contrato de sociedade de forma a retirar o
nome do ex-sócio da sua firma, o uso passou a ser ilícito e, assim, podemos convocar também
aqui o artigo 62.º do Regime do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.
É importante notar que, como o artigo 32.º/5 admite que o sócio que sai dê o seu
consentimento a que a sociedade continue a utilizar a firma com o nome, o sócio que sai pode
fazer repercutir a possibilidade de dar o seu consentimento no preço da quota (se estiver em
causa uma compra e venda da quota).
Isto significa que este regime permite aos sócios fazer dinheiro, porque isto pode ser muito
importante para a sociedade. Tendo em conta que Armindo era sócio-gerente, o facto de ceder
a quota não significa que ele perca a qualidade de gerente e, logo por aí, poderia ser útil à
sociedade manter o seu nome na firma (mostra o grau do empenhamento do gerente).
Mas mais do que tudo isso, importa não esquecer que a firma vai constar em tudo o que é
documentação da sociedade: envelopes, papel de correio, website, veículos, cartazes
publicitários, etc. De tal modo que a necessidade de alteração da firma pode acarretar despesas
de valor muito elevado.
Caso prático 8 – O caso do administrador que já não é mas que parece que é
A 1 de julho de 2019, Adalberto da Visitação foi designado administrador único da
Centrodesporto, Comércio de material desportivo, S.A.. Em assembleia geral que teve lugar em 2
de abril de 2020, Adalberto foi destituído e foi designado, em seu lugar, Juvenal da Costa. Porém,
a destituição e a designação ainda não foram registadas.
No dia 3 de maio de 2020, Adalberto recebeu uma carta que lhe era dirigida na qualidade de
administrador da Centrodesporto citando esta sociedade para uma ação em que ela era Ré.
Adalberto, sabendo que tinha sido destituído, arrumou a carta numa gaveta e de nada tratou. O
Tribunal condenou a Centrodesporto a pagar a quantia pedida na ação, pois a falta de
contestação levou a que se considerassem provados os factos alegados pelo Autor.
A Centrodesporto recorreu da sentença, alegando, entre outras coisas, que não foi citada porque
o Adalberto já não era seu administrador quando a citação lhe foi dirigida. Terá razão?
O caso em apreço enquadra-se na matéria da escrituração e prestação de contas, mais
concretamente na temática referente às inscrições no registo comercial. O registo comercial
publicita certos factos respeitantes a comerciantes individuais, sociedades comerciais,
sociedades civis sob forma comercial e estabelecimentos individuais de responsabilidade
limitada, tendo em vista a segurança do tráfico ou comércio jurídico.
36
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Nesta matéria há quatro princípios de referência obrigatória: princípio da tipicidade; princípio
da instância, princípio da legalidade e por fim, princípio da publicidade.
Se estudarmos o Regime dos Efeitos do Registo concluímos que registo comercial é, em regra,
meramente declarativo. 7 Também há casos de registo constitutivo (o art. 5.º do CSC dita que o
registo comercial é necessário para que a sociedade adquira personalidade jurídica) ; mas a regra é ser
meramente declarativo, mera condição de eficácia em relação a terceiros. Ou seja, em regra, os
factos sujeitos a registo mas não registado, apenas são eficazes entre as partes e os terceiros
em conformidade com o artigo 14º do CRC. Porém, não são eficazes relativamente a terceiros.
Ora, estes factos só produzem efeitos em relação a terceiros depois de serem registados.
Convém, no entanto, sublinhar que esta é a regra geral. Os factos são oponíveis a terceiros se
se provar que:
Foi feito o registo e a publicação
Ou
No caso de se provar que o terceiro tem conhecimento do facto.
Porém, quando o facto em causa diz respeito a uma sociedade comercial ou a uma sociedade
civil sob forma comercial torna-se necessário articular duas normas de diplomas diferentes: o
artigo 14.º do Código do Registo Comercial e o artigo 168.º do Código das Sociedades
Comerciais.
Art.º 14.º
Oponibilidade a terceiros
1. Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois do respetivo registo.
2. Os factos sujeitos a registo e publicação obrigatória nos termos do n.º2 do artigo 70.º só
produzem efeitos contra terceiros depois da data da publicação.
3. A falta de registo não pode ser oposta aos interessados pelos seus representantes legais, a
quem incumbe a obrigação de o promover, nem pelos herdeiros destes.
Da leitura do artigo 14.º do Código do Registo Comercial resulta que, quanto aos factos sujeitos
a registo comercial, importa distinguir:
os factos só sujeitos a registo, por um lado;
e os factos sujeitos a registo e a publicação obrigatória, por outro.
Até certa altura, o n.º 2 do artigo 168.º diz o mesmo que o n.º 2 do artigo 14.º. Mas a norma do
Código das Sociedade Comerciais vem acrescentar que, estando em causa factos relativos a
sociedades comerciais sujeitos a registos e a publicação obrigatória, a oposição do ato a
terceiros é possível mesmo quando essa publicação não é feita; se a sociedade provar que o ato
está registado e que o terceiro tem conhecimento dele (do facto).
Art.º 168.º
Falta de registo ou publicação
1. Os terceiros podem prevalecer-se de atos cujo registo e publicação não tenham sido
efetuados, salvo se a lei privar esses atos de todos os efeitos os especificar para que efeitos
podem os terceiros prevalecer-se deles.
2. A sociedade não pode opor a terceiros atos cuja publicação seja obrigatória sem que esta
esteja efetuada, salvo se a sociedade provar que o ato está registado e que o terceiro tem
conhecimento dele.
7
Página 37 NDN
37
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Isto quer dizer que temos de ver se a destituição de Adalberto e a designação do novo
administrador estão ou não sujeitas a registo e a publicação obrigatória.
A questão de saber se um ato está sujeito a registo comercial é importante, desde logo, no
âmbito do princípio da tipicidade. E para o podermos saber devemos olhar para o artigo 3.º do
Código do Registo Comercial.
A alínea m) do artigo 3.º/1 do Código do Registo Comercial estabelece que «está sujeita a
registo a designação e cessação de funções, por qualquer causa que não seja o decurso do
tempo, dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, bem como do
secretário da sociedade». Portanto, podemos concluir que o facto está sujeito a registo.
Mas será que está sujeito a registo obrigatório? Ora, o artigo 15.º/1 do Código do Registo
Comercial determina que «o registo dos factos referidos nas alíneas a) a c) e e) a z) do n.º1 e do
n.º2 do artigo 3.º» e, portanto, podemos concluir que sim, pois a alínea m) está contida neste
intervalo.
Por fim, para saber se os factos estão sujeitos, ainda, a publicação obrigatória, temos de nos
socorrer do artigo 70.º do Código do Registo Comercial.
A alínea a) do artigo 70.º/1 determina que é obrigatória a publicação dos atos «previstos no
artigo 3.º, quando respeitem a sociedade por quotas, anonimas ou em comandita por ações,
desde que sujeitas a registo obrigatório, salvo os das alíneas c), e), f) e i) do n.º1».
Assim, podemos concluir que quer a cessação de funções, quer a designação do novo
administrador são factos sujeitos a registo obrigatório e a publicação obrigatória, de tal modo
que só são oponíveis a terceiros se se provar que foi feito o registo e a publicação ou, pelo
menos, se se provar que o terceiro tem conhecimento dele (do facto – não do registo –, no
entendimento do Professor Soveral Martins).
Porém, no nosso caso não tinha sido feito, sequer, o registo; pelo que o facto de ter havido
destituição não é oponível a terceiros e, portanto, o argumento não parece poder ter ganho
causa.
38
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 9 – O caso do conselho pouco prudente
A Centrodesporto, acima referida, transformou-se em sociedade por quotas. E, atualmente, está
registada em nome de Antonino Ribeirinho uma quota no capital daquela sociedade com o valor
nominal de 30.000 euros.
Josefina dos Mártires pretende comprar essa quota e está tranquila, pois o seu contabilista disse-
lhe que não havia qualquer problema uma vez que o registo em nome do vendedor era
«definitivo» e nada o poderia alterar. Será assim?
Nesta matéria vigoram uma série de princípios: tipicidade, da instância, da legalidade e da
publicidade.
No âmbito do princípio da tipicidade importa perceber que os factos e entidades sujeitos a
registo são os previstos na lei, destacando-se os previstos nos artigos 1ª a 10ª. Os factos sujeitos
a registo obrigatório estão apenas os factos mencionados no artigo 15º do CRC. A reforma de
2006 veio estabelecer duas formas de registo: o registo por transcrição e o por depósito.
Nesse sentido temos de perceber se o facto em questão é sujeito a registo: A compra e venda
de uma quota é uma cessão de quotas; ou seja, é uma transmissão voluntária, entre vivos, de
uma quota. Ora, tendo em conta que o artigo 3.º/1/c) do CRC prevê o registo das transmissões
de quotas de sociedades por quotas, podemos concluir que o facto aqui em causa é um facto
sujeito a registo. E, além disso, o artigo 15.º determina a obrigatoriedade desse registo.
Porém, a distinção entre registo obrigatório e registo facultativo é apenas uma de várias:
podemos ainda distinguir entre registo declarativo e registo constitutivo; ou registo por
depósito e registo por transcrição. E é esta a distinção decisiva para este problema. Por isso
mesmo, temos de distinguir o registo por transcrição e o registo por depósito: o primeiro
consiste na extracção dos elementos que definem a situação jurídica das entidades sujeitas a
registo constantes dos documentos apresentadas. O registo por depósito, consiste no mero
arquivamento dos documentos que titulam factos sujeitos a regito.
Segundo o artigo 53.º-A/5/a), são registados por depósito «os factos mencionados nas alíneas b)
a l), n), p), q), u), v) e z) do n.º1 do artigo 3.º, salvo o registo do projeto de constituição de
sociedade anónima europeia gestora de participações sociais, bem como o da verificação das
condições de que dependa a sua constituição.».
Logo, como a alínea c) está incluída neste intervalo, podemos concluir que a cessão de quotas é
registada por depósito. E isto é muito importante.
De acordo com estipulado no artigo 47.º do Código do Registo Comercial, que consagra o
princípio da legalidade, «a viabilidade do pedido de registo a efetuar por transcrição deve ser
apreciada em face das disposições legais aplicáveis, dos documentos apresentados e dos
registos anteriores, verificando especialmente a legitimidade dos interessados, a regularidade
formal dos títulos e a validade dos atos neles contidos».
Mas este controlo de legalidade é feito para o registo por transcrição; e não para o registo por
depósito. Portanto, o surgimento de Antonino Ribeirinho como adquirente de uma quota no
registo não foi objeto do controlo de legalidade estabelecido no artigo 47.º.
Por outras palavras, um sujeito pode estar registado como adquirente da quota mas, na
realidade, não ser seu titular em virtude de não ter sido feito o controlo daquele registo nos
termos do artigo 47.º.
39
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Isto significa que, para este efeito, não se pode confiar do que consta do registo. E por isso
muitos autores defendem a criação de uma espécie de seguro obrigatório para os titulares de
quotas (ou, pelo menos, para quem surge registado como titular de uma quota) de modo a possibilitar
pedidos de indemnização caso se verifique que, afinal, não são titular.
A legislação desta matéria mercantil foi alterada em 2016 com o alegado intuito de agilizar os
atos e o registo mercantil, passando a impor-se que sejam as próprias sociedades a requerer a
realização do registo de transmissões de quotas, em regra (a sociedade é que tem de controlar a
legalidade do que depois vai pedir).
Portanto, quando há uma cessão de quotas os sócios têm que solicitar o registo à sociedade; a
sociedade tem que fazer aquele controlo da legalidade; e só depois é que o registo é solicitado
à conservatória.
Porém, em regra, (porque são, na sua maioria, nano-empresas, micro-empresas ou pequenas-empresas)
as nossas sociedades não têm estruturas para controlar se a cessão de quotas realmente
respeita os requisitos que o artigo 47.º enumera.
Isto conduz a um problema prático muito sério, na medida em que faz com que quem queira
aconselhar o adquirente seja obrigado a dirigir-se à sede da sociedade para a consultar e saber
se, quando pediu o registo daquela quota em nome do Antonino Ribeirinho, a sociedade fez
tudo bem (se viu se estava a ser respeitado o trato sucessivo, se havia legitimidade do transmitente, se o
negócio respeitava a forma legalmente exigida, etc).
Por outras palavras, em jeito de conclusão, se o registo foi feito por depósito e a conservatória
não controla a legalidade de todos aqueles parâmetros, então quem pretende adquirir a quota
não pode confiar no registo.
Assim, facilmente concluímos que, na realidade, a proclamada desformalização e/ou
simplificação só o foi para a conservatória, que passou a não ter que gastar tempo com o
controlo da legalidade do que é pedido para registo; mas passou-se o encargo à sociedade: a
desburocratização para a conservatória implicou a burocratização para as sociedades.
40
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
7.ª Aula – 24/11/2020
Caso prático 10 – O caso do Alberto que estava a montar um estabelecimento e foi para um
mosteiro zen
Alberto, casado com Beatriz no regime de comunhão de adquiridos, resolveu dedicar-se à
comercialização de pranchas de surf em Peniche. Para o efeito, tomou de arrendamento uma loja
a Carlos, contratou uma funcionária que abrisse a loja às 9 horas, comprou a crédito a um
conhecido shaper material para revender e celebrou um contrato de locação financeira que teve
por objeto um veículo todo o terreno que permitiria a Alberto andar pelas dunas a fazer
publicidade à sua loja.
Porém, antes mesmo de abrir o referido espaço ao público, Alberto foi acometido por intensa
agitação espiritual que o levou a ir para um retiro de meditação na Índia.
Agora, os credores estão a bater à porta de Beatriz exigindo-lhe o pagamento das dívidas
contraídas por Alberto com os atos acima referidos. Beatriz afirma que nada tem a ver com essas
dívidas, pois sempre dissera a Alberto que os negócios dele não lhe diziam respeito. Terá razão?
Página 14 NDN.
A primeira questão que aqui se coloca é a de saber se Alberto já se podia considerar
comerciante, uma vez que o estabelecimento ainda não abriu as portas ao público.
Nos termos do artigo 13º do Código Comercial, são comerciantes: “as pessoas que, tendo
capacidade para praticar atos de comércio, fazem deste profissão. Este preceito engloba sem
margem para dúvidas as pessoas singulares suscitando, no entanto, dúvidas relativamente à
concretização do conceito de capacidade exigida nos termos deste artigo. A doutrina tradicional
e maioritária entende que a norma se refere à capacidade de exercício. O comerciante é a
pessoa que pratica atos de comércio com profissionalidade, isto é, de modo habitual ou
sistemático. Não se exige, porém, nem exclusividade nem continuidade. Já é exigível, contudo,
que a actividade seja exercida em nome próprio. Ou seja, podemos sintetizar em quatros os
requisitos que se impõem perante o artigo 13º do Código comercial: em primeiro lugar,
capacidade de exercício, está reunida. Em segundo lugar, a prática de um ato de comércio
objectivo, está reunido. Terceiro lugar, profissionalidade, está reunido. Por fim, a atuação em
nome e interesse próprio. Mais uma vez, o requisito encontra-se reunido.
Ora, se Alberto é uma pessoa humana podemos admitir que este tem capacidade (de exercício)
para a prática de atos de comércio. Portanto, se temos todos os requisitos preenchdos a
questão está em saber se, para ser considerado comerciante, o sujeito tem ou não de abrir as
portas ao público e começar a exercer a atividade na relação com os seus clientes.
O critério apresentado pelo Doutor Coutinho de Abreu traduz a ideia de que, para que possam
considerar-se comerciantes, as pessoas singulares têm de praticar ato ou atos que revelem não
apenas a intencionalidade, mas também a possibilidade de exercer, com caráter habitual, a
atividade comercial. E para podermos fazer algum juízo conclusivo a este respeito temos de
analisar os vários atos que o Alberto já praticou.
Sabemos que não há um momento exato pelo qual as pessoas singulares adquirem a qualidade
de comerciantes. Entende-se que o início da qualidade de comerciante tanto pode depender de
um só ato ou de vários. Neste domínio, o professor COUTINHO DE ABREU segue a doutrina
41
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
italiana e o próprio legislador alemão, e considera que o sujeito deve ser considerado como
comerciante a partir do momento em que começa a praticar atos preparatórios da empresa.
Este critério criado por COUTINHO DE ABREU, desdobra-se em duas ideias fundamentais:
por um lado, na ideia de que não tem de estar em causa um conjunto de atos
por outro lado, a ideia de que não basta a intenção de exercer uma actividade
comercial. É necessário que o ato ou atos revelem a possibilidade de exercer essa
actividade habitual.
Ora, a tomada de arrendamento da loja para lá comercializar pranchas, a contratação da
funcionária, a compra do material – das pranchas – para revender e a celebração do contrato
de locação financeira são, sem dúvida, atos praticados para fins comerciais. Portanto, já temos
elementos suficientes para poder afirmar que não é necessário abrir as portas de um
estabelecimento para se praticar atos comerciais.
Além disso, também é possível dizer-se que que Alberto já tem preparado (todos os meios
organizado), ainda que não tenha aberto as portas ao público. Neste sentido, importa focar o
conceito de clientela. 8 A clientela é o círculo ou quota de pessoas, os consumidores em sentido
amplos, que com contactam com essa empresa. A doutrina diverge quando se discute se a
clientela é ou não um elemento da empresa. A doutrina estrangeira, nomeadamente a francesa
e a alemã convergem no sentido de considerarem a relação com a clientela um elemento da
empresa. Já os autores portugueses dividem-se: para MENEZES CORDEIRO ou FERRER CORREIA,
a relação da clientela é um elemento da empresa. Por seu turno, COUTINHO de ABREU ou
ORLANDO de CARVALHO apontam noutro sentido. Ou seja, para a escola de Coimbra a clientela
não é um elemento da empresa. ORLANDO DE CARVALHO refere que a clientela não pode ser
objecto de um direito real ou absoluto, nem objeto autónomo de tutela jurídica. Já, COUTINHO
DE ABREU refere que a clientela não pode ser um meio ou instrumento estruturalmente nem
funcional inserido na organização produtiva que a empresa é. É sim, uma consequência do
funcionamento da máquina produtiva.
Por isso mesmo, a clientela não pode ser considerado um elemento do estabelecimento!
Naturalmente que, antes de as portas serem abertas ao público, já se tenham valores sui
generis associados ao estabelecimento; os denominados valores de organização.
Inclusivamente, é também perfeitamente possível terem-se já valores de exploração, uma vez
que estes valores não resultam só das relações com a clientela; e, neste caso, até se podem
identificar relações prévias com credores (que até acabam por funcionar como financiadores, ao
darem crédito).
Com efeito, observam-se relações com o senhorio, com a funcionária contratada, com o shaper
que lhe concedeu crédito (e este crédito obtido junto de terceiro é já um valor de exploração) e com a
sociedade de locação financeira. Portanto, já há várias relações para o exterior e, com efeito,
parece possível concluir que já temos aqui um estabelecimento.
Importa compreender que, para que um estabelecimento o seja, é necessário que tenha
alguma organização: naturalmente, não é por alguém ter muitas coisas na garagem ou no sótão
que tem um estabelecimento. Por outras palavras, a presença de um mero valor de agregação
não se confunde com a existência de um estabelecimento.
88
Página 82 NDN
42
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
NOÇÃO DE ESTABELECIMENTO:9
Para estarmos perante um estabelecimento temos de estar, portanto, perante uma
organização. Um dos traços característicos do estabelecimento enquanto objecto de negócios é
o facto de o seu valor não corresponder à soma do valor dos diversos elementos que compõem
o estabelecimento. Dessa forma, podemos concluir que o estabelecimento é um valor distinto
desse mero agregado, um valor novo, denominado valor da complementaridade económica.
Neste âmbito, a obra de ORLANDO DE CARVALHO é fundamental. Podemos fazer uma divisão
em três entre: os valores ostensivos ou periféricos; os valores de organização e os valores de
exploração.
a) VALORES OSTENTIVOS, EXTERNOS OU PERIFÉRICOS
Os valores externos ou periféricos são todos aqueles bens, valores ou posições
patrimonialmente ativas que têm uma relativa autonomia económico-jurídica em face da
empresa, constituindo o seu lastro ostensivo.
Este conjunto de meios externos à empresa não são se traduzem no estabelecimento por si só,
mas é neles que o estabelecimento radica e deles depende o seu funcionamento, ainda que
numa numa medida variável. Ou seja, não existe estabelecimento sem um conjunto, mínimo
que seja, de elementos que permitam concretizar e identificar o estabelecimento. Ou seja, uma
ideia, um projeto ou um plano, não constituem um estabelecimento enquanto não se verificar
uma concretização pelo menos parcial dessas ideias ou parciais. Daí afirmarmos que o
estabelecimento é uma organização concreta de factores produtivos.
b) VALORES DE ORGANIZAÇÃO
O estabelecimento é um conjunto organizado de meios. É desta organização de meios que
resultam os primeiros valores típicos do estabelecimento: Os Valores de organização. Os
diferentes elementos que integram a organização por força do plano organizatório do
estabelecimento, tornam-se economicamente complementares, gerando o tal valor de
complementaridade económica. Este valor assenta, por sua vez, em vários outros valores que
são expressão direta da chamada racionalidade económica.
Valor da selecção óptima que é resultante da selecção ideal dos elementos para aquela
empresa em concreto
O valor da dimensão óptima constituído pelos elementos seleccionados de acordo com
uma ideia de optimidade
E por fim, o valor da combinação ótima que se traduz no valor organizativo final.
Olhemos agora aos valores de exploração.
c) Valores de exploração
Apesar de o funcionamento não constituir um pressuposto da existência do estabelecimento,
não podemos concluir que o funcionamento desse estabelecimento é irrelevante. Bem pelo
contrário, porque é do funcionamento que vão surgir os segundos valores típicos do
estabelecimento: os valores de exploração. Estes valores são também valores típicos do
estabelecimento, porque são valores que não existiam antes de existir empresa, só existem pela
empresa e não sem a empresa.
9
Página 75 NDN
43
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Neste âmbito, importa perceber que do ponto de vista do processo produtivo a empresa
mantém ao longo do tempo uma relação estável com os elementos do lastro ostensivo. Porém,
enquanto valor de posição no mercado, a empresa vai alterando a sua relação com os bens do
respectivo lastro ostensivo. ORLANDO DE CARVALHO falava numa lei tendencial de
desenvolvimento do estabelecimento. Segundo este autor, enquanto o estabelecimento não se
encontra em funcionamento, o valor de posição no mercado de estabelecimento liga-se de uma
maneira muito estreita ao conjunto dos elementos do seu lastro ostensivo Mas, quando o
estabelecimento entra em funcionamento, o valor de posição começa a depende cada vez
menos desse lastro ostensivo, passando a ter uma ligação cada vez maior aos valores de
exploração, nomeadamente o crédito, a clientela, o bom nome ou reputação.
Esta lei não chega a ser uma autêntica lei, é uma tendência, porque tem limites à partida e
limites à chegada. 10
E, quanto mais tempo o estabelecimento funcionar, menos se depende dos elementos
organizados e mais se depende dos valores de exploração (bom nome, crédito, relações com
fornecedores, etc). Portanto, podemos dizer que Alberto praticou atos suficientes para que
possamos concluir que esses atos revelam não só a intenção, mas também a possibilidade de
exercer, com caráter habitual, a atividade comercial; e que, assim, o sujeito já adquiriu a
qualidade de comerciante mesmo antes de abrir as portas ao público.
Sendo ele comerciante, o regime consagrado no artigo 15.º do Código Comercial pode ser
convocado para apoiar a pretensão dos credores (que vieram exigir o pagamento das dívidas a
Beatriz).
Isto significa que todas as dívidas comerciais que ele tenha contraído (pelo menos) a partir do
momento em que se pode considerar comerciante vão ser abrangidas pelo regime do artigo
15.º. Portanto, entram aqui em conta não apenas os atos objetivos de comércio, mas também
os atos de comércio em sentido subjetivo.
Naturalmente, a dívida que resultava da compra de pranchas para revender seria uma dívida
comercial, uma vez que esse ato é um ato objetivamente mercantil e, por isso, não era exigida a
sua qualidade de comerciante para que ficasse sujeita ao artigo 15.º.
Mas também se consideram comerciais as dívidas resultantes da prática de atos subjetivamente
comerciais (como as dívidas resultantes da contratação da funcionária ou do arrendamento, caso
tenham ocorrido depois Alberto ter adquirido a qualidade de comerciante).
O artigo 15.º, só por si, tem pouco significado: ele só ganha especial importância pela sua
articulação com o artigo 1691.º/1/d) do Código Civil. Mas desta ginástica hermenêutica resulta
que das dívidas comerciais contraídas pelo Alberto depois de ter adquirido a qualidade de
comerciante ficarão sujeitas ao regime do artigo 15.º. Assim, se a presunção não for ilidida, as
dívidas são comunicáveis e, portanto, por elas respondem os bens comuns do casal e os bens
próprios de cada um deles. Mas ambas as presunções são ilidíveis: tanto a presunção do artigo
15.º - a presunção de contração da dívida no exercício do comércio -, como a presunção do
artigo 1698.º/1/d) - a presunção de proveito comum.
10
Página 79 – NDN
44
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Quando se tenta afastar alguma destas presunções, através da contestação, é muito importante
fazer atenção ao que se alega (arrasa quem quiser, alega quem souber). Porque para tentar afastar
estas presunções podemos acabar por fechar a porta, mas abrir a janela (a janela da aplicação das
outras alíneas do artigo 1698.º/1).
De todo o modo, podemos concluir que Beatriz não se pode limitar a dizer que sempre
esclareceu perante o Alberto que os negócios dele não lhe diziam respeito.
Caso prático 11 – Dever ou não dever
José, proprietário de uma empresa em que emprega 5 trabalhadores, tem dívidas para com 10
credores no valor de 305.000 euros. Aldo, um desses credores, pretende avançar com um pedido
de declaração de insolvência de José para tentar negociar um plano de insolvência que permita a
José ir pagando. Porém, o contabilista certificado de Aldo diz-lhe que não vale a pena
avançar com esse pedido uma vez que só o seu crédito está vencido. Pronuncie-se sobre a
observação do mencionado contabilista.
A primeira questão a que temos de responder é a de saber se José pode ser abrangido por um
processo de insolvência em que venha eventualmente a ser aprovado um plano de insolvência,
tendo em conta que se trata de um devedor pessoa singular empresária.
Para isso, é importante apurar, desde logo, se o sujeito se considera um pequeno empresário;
uma vez que, nesse caso, isso significa que a resposta à questão é não.
APLICA-SE O CAPÍTULO REFERENTE AO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA AO CASO?
O artigo 250.º do Código da Insolvência estabelece que «aos processos de insolvência
abrangidos pelo presente capítulo não são aplicáveis as disposições dos títulos IX e X». E nos
títulos IX e X desse capítulo encontramos as normas relativas ao plano de insolvência e à
administração do devedor.
Portanto, tendo em conta que o capítulo em causa (Capítulo II – Insolvência de não empresários e titulares de
diz respeito à insolvência de não empresários pessoas singulares e de pequenos
pequenas empresas)
empresários pessoas singulares, podemos concluir que, quando está em causa a insolvência de
pessoas singulares não empresárias ou de pessoas singulares pequenas empresárias, os
respetivos processos não ficam sujeitos àquelas disposições.
A alínea b) do artigo 249.º/1 do CI determina que «o disposto no capítulo é aplicável se o
devedor for uma pessoa singular, e, (…) à data do início do processo i) não tiver dívidas laborais;
ii) o número dos seus credores não for superior a 20; iii) o seu passivo global não exceder
300.000€.».
Ora, sabemos que o número de credores do sujeito não era superior a 20; e nenhum dos dados
nos indica que tivesse dívidas laborais. Porém, o seu passivo global excede o valor de 300.000€,
pelo que podemos concluir que o devedor não fica sujeito ao regime deste capítulo e, portanto,
pode recorrer ao plano de insolvência.
PODE O CREDOR AVANÇAR COM O PEDIDO DE INSOLVÊNCIA?
A segunda questão a que temos que responder é a de saber se o credor pode avançar com o
pedido de declaração de insolvência, uma vez que só o seu crédito é que está vencido.
45
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Os credores só podem requerer declarações de insolvência caso os devedores se encontrem em
estado de insolvência atual: não basta nem a mera situação económica difícil, nem a insolvência
iminente.
Naturalmente, pode ser muito difícil provar (ou até saber) se o devedor realmente se encontra
numa situação de insolvência atual. Mas o artigo 3.º oferece-nos dois critérios.
O primeiro – o único que se aplica a pessoas singulares – é o critério dos fluxos de caixa
– cash-flow. Segundo este critério, está em estado de insolvência atual o devedor que
se encontre impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas.
O segundo é o critério do balanço. Nos termos do CIRE, para que se verifique uma
situação de insolvência não chega que o passivo seja superior ao ativo avaliados
segundo as normas contabilísticas aplicáveis, ou seja, não basta que haja falência
técnica. É necessário que o passivo seja manifestamente superior ao ativo. Este critério
é apenas aplicável a empresas e a outras pessoas coletivas:
No enunciado é-nos dito, precisamente, que o crédito que Aldo tem sobre José está vencido e
não está pago; e que esse é o único crédito que está vencido. Portanto, para saber se estamos
perante uma situação de insolvência atual é só o seu crédito que interessa.
Há que ter em conta que o facto de um crédito vencido não estar pago não significa
necessariamente a impossibilidade de cumprir esse crédito: o devedor pode apenas não ter
querido pagar.
Imaginemos, por exemplo, que o credor é um empreiteiro que fez uma obra ao José. É possível
que a obra tenha defeitos (infiltrações, rachas, etc) e que José não queira pagar até que a obra
esteja em condições de ser aceite.
Mas já podemos concluir que o argumento do contabilista, só por si, não está correto.
Além disso, no que diz respeito à legitimidade do credor para avançar com um pedido de
declaração de insolvência do devedor, o artigo 20.º/1/a) do Código da Insolvência dispensa a
necessidade de se provar, logo no requerimento, a situação de insolvência atual, conquanto
haja uma «suspensão generalizada do pagamento das obrigações vencidas».
Neste caso, a verdade é que José não pagou nenhuma das obrigações vencidas (esta era a única)
e, portanto, Aldo tem legitimidade para avançar mesmo que não consiga, logo à partida, provar
a impossibilidade do cumprimento; desde que consiga demonstrar a tal suspensão generalizada
do pagamento das obrigações vencidas.
Isto é muito importante porque pode ser suficiente para obter a declaração de insolvência se
José não apresentar oposição, pois o artigo 30.º/5 do Código da Insolvência diz que, em regra,
os factos alegados consideram-se confessados e a insolvência é declarada.
A legitimidade para requerer a declaração de insolvência de José também pode ser conferida a
Aldo através do artigo 20.º/1/b), que se refere à «falta de cumprimento de uma ou mais
obrigações que, pelo seu montante ou pelas circunstâncias do incumprimento, revele a
impossibilidade de o devedor satisfazer pontualmente a generalidade das suas obrigações».
Esta alínea afasta-se do artigo 3.º/1 na medida em que não se prende com a situação de
insolvência atual; mas não deixa de poder atribuir legitimidade ao credor para avançar com o
seu pedido.
46
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Imaginemos que o crédito de Aldo é de 300.000€ e, assim, o valor das dívidas para com todos
os outros credores é de 5.000€. Provavelmente, nesta situação o juiz concluiria que o
incumprimento daquela obrigação já seria suficiente, pelo seu montante, para revelar a
impossibilidade de José satisfazer pontualmente a generalidade das suas obrigações.
Naturalmente, o devedor poderia opor-se e afirmar que só não pagou porque, dadas as
circunstâncias, não o quis fazer; e que, na verdade, não está numa situação de insolvência atual.
Mas isso não retira a legitimidade ao credor para pedir a declaração de insolvência.
Em suma:
Pode valer a pena avançar com o pedido, desde logo, se o credor tiver fundamentos
para afirmar a sua legitimidade ao abrigo do artigo 20.º do CI.
Ainda que o devedor não esteja, efetivamente, em situação de insolvência atual, a
declaração de insolvência pode ser obtida se ele não apresentar oposição. E, nesse caso,
a aprovação de um plano de insolvência também pode ser conseguida, pois os requisitos
do artigo 249.º não estão preenchidos.
Mas o simples facto de o crédito estar vencido e não pago não significa que José esteja
numa situação de insolvência atual: naturalmente, ele pode apresentar oposição,
demonstrando que só não pagou porque não quis e que, na realidade, não se pode falar
na impossibilidade do cumprimento das obrigações. Nesse caso, não haveria declaração
de insolvência e não seria aprovado nenhum plano de insolvência.
Caso prático 12 – O que tem de ser, tem de ser, e o que não tem de ser, não tem de ser
O mesmo José quer saber se deve, ou não, apresentar-se à insolvência, tendo em conta que tem
receio de não conseguir pagar a todos os seus credores à medida que as obrigações se vencerem.
O que lhe diria?
A primeira questão a que temos de responder é a de saber se as pessoas singulares estão ou
não sujeitas ao dever de apresentação à insolvência.
O artigo 18.º/1 consagra este dever nos casos em que se verifica a situação prevista no artigo
3.º/1. E a remissão expressa para esta norma parece permitir concluir, desde logo, que a
situação de insolvência atual descrita no artigo 3.º/2 já não releva para este efeito.
Assim, apesar de a «manifesta superioridade do passivo em relação ao ativo» ser um critério de
identificação de situação de insolvência atual, ela não nos dita nada acerca do dever de
apresentação à insolvência.
Além disto, também parecem estar afastadas as situações de insolvência iminente. A insolvência
iminente é referida pelo artigo 3.º/4, mas a sua caracterização corresponde a uma construção
somente doutrinal: a lei não descreve o que ela é; portanto, também não faria sentido, logo à
partida, estabelecer um dever tão exigente para uma situação que nem a lei nos explica em que
consiste. Neste caso, a insolvência só pode declarada a pedido do devedor e não dos credores.
O objectivo passa por evitar que os credores coloquem pressão sobre o devedor insolvente.
47
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Como o facto de ter receio de não conseguir pagar a todos os credores à medida que as suas
obrigações se vencerem não significa que esteja numa situação de insolvência atual tal como
descrita no artigo 3.º/1 (impossibilidade – efetiva – de cumprir as suas obrigações já vencidas), José
não tem o dever de se apresentar à insolvência.
E, na verdade, mesmo que entendêssemos (à semelhança de João Labareda e de Luís Carvalho
Fernandes, por exemplo) que o dever de apresentação de pedido de insolvência também se aplica
aos casos de insolvência iminente, isso não faria diferença aqui porque José não se encontra
numa situação dessas.
Para sabermos se estamos perante uma situação de insolvência iminente temos de realizar um
juízo de prognose para um certo período de tempo relevante (tendo em conta os seus ciclos de
recebimento) de modo a verificar se, nesse período, a probabilidade de se vir a encontrar numa
situação de insolvência atual é maior do que a probabilidade contrária. No entanto, José tem
apenas um receio; e nada nos indica que seja este o caso.
De todo o modo, é claro que a apresentação à insolvência pode trazer vantagens e, apesar de
não ter esse dever, José pode decidir fazê-lo.
Com efeito, isto poderá ser vantajoso, por exemplo, se quiser conversar logo com credores de
modo a conseguir já uma proposta de plano de insolvência para apresentar junto do
requerimento que entrega em tribunal (existem também vantagens associadas à possibilidade de
recurso ao regime da administração pelo devedor, mas não estudamos esse regime).
Em suma:
O artigo 18.º/2 do Código da Insolvência só estabelece o dever de apresentação à insolvência
quanto estiver em causa uma pessoa singular empresária (sabemos que José é empresário desde o
caso anterior).
Deste modo, José estaria sujeito a esse dever caso se encontrasse numa situação de
insolvência atual tal como prevista no artigo 3º./1.
Contudo, o sujeito tinha um mero receio de não conseguir pagar; não se encontrava
numa situação de impossibilidade de cumprir todas as obrigações já vencidas.
Portanto, não se encontrava numa situação de insolvência atual tal como descrita no
artigo 3.º/1 e, por isso, sobre si não recaía o dever de se apresentar à insolvência.
48
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
2. Negociação de estabelecimentos
Ainda que vários tipos de negócio possam incidir sobre estabelecimentos (como o usufruto ou o
penhor – ainda que certos autores e certa jurisprudência contestem esta ideia), a maioria dos casos que
vamos tratar quanto à negociação de estabelecimentos dirá respeito, principalmente, ao
trespasse ou a locação.
O trespasse traduz uma terminologia que não designa um tipo negocial em concreto. Em regra,
entendemos o trespasse como uma negociação de estabelecimento, entre vivos, e com caráter
definitivo. Assim, esta designação pode compreender, por exemplo, desde logo, uma compra e
venda ou uma doação (os trespasses não têm de ser onerosos).
Caso prático 13 – E (quase) tudo o fogo levou
Armindo, dono e explorador, há mais de 10 anos, de uma fábrica de máquinas agrícolas em que
emprega 100 trabalhadores, tem créditos sobre os seus clientes no valor de 1.000.000€. Na
fábrica estão instaladas máquinas que Armindo comprou; e, além disso, Armindo registou um
logótipo e adotou firma, também registada.
Tendo a fábrica sido destruída por um violento incêndio (escaparam as viaturas de transporte de
mercadorias estacionadas no parque contíguo e de que tem o uso através de contratos de locação
financeira em que é locatário), Armindo pretende saber se, querendo vender o «estabelecimento»,
está obrigado a pedir o consentimento do senhorio.
Armindo também quer saber se os créditos sobre os clientes se transmitem para o adquirente do
«estabelecimento». Que resposta lhe daria?
Como sabemos, a fábrica de máquinas agrícolas é um estabelecimento comercial, uma vez que
a atividade transformadora desenvolvida no âmbito da sua exploração é uma atividade
comercial, nos termos do artigo 230.º/1 do Código Comercial.
Ora, para responder a Armindo temos de abordar três questões:
O que é que encontrávamos organizado no estabelecimento?
O que sobrou depois do incêndio?
E, por fim, será que o conjunto de elementos que sobreviveu ao incêndio ainda se
pode afirmar um estabelecimento (nomeadamente para efeitos de negociação, atendendo
ao espeito pelo âmbito mínimo de entrega nos termos da lei tendencial do desenvolvimento do
estabelecimento).
Noutro sentido, o facto de o estabelecimento já ser explorado por Armindo há mais de 10 anos
é um dado muito importante para efeitos da sua negociação, pois quanto mais tempo o
estabelecimento funcionar, menos ele dependerá (para se afirmar, perante o mercado, o
público ou os fornecedores, como algo diferente da mera organização de elementos) dos
elementos de organização.
Esta lei tendencial de desenvolvimento do estabelecimento (como lhe chamava o Professor Orlando
– segundo a qual quanto mais tempo o estabelecimento funciona, mais ele tenderá a libertar-se dos
elementos organizados e mais passará a depender dos elementos de exploração) é muito importante
para identificarmos o âmbito mínimo de negociação do estabelecimento. Porque quanto mais
tempo funcionar, menor vai ser o número de elementos organizados necessários ao respeito
49
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
por esse âmbito mínimo de entrega. No entanto, importa referir que nem sempre é fácil
identificar o tal âmbito mínimo do estabelecimento, devido à impossibilidade de enumerar os
elementos constituintes deste âmbito de forma abstrata.
8.ª Aula – 14/12/2020
Retomando o caso, apesar da destruição causada pelo fogo continuava a existir uma série de
elementos. Relativamente a este caso estamos perante um estabelecimento que já entrou em
funcionamento e que por isso mesmo estamos perante uma empresa com valores de produção
e com uma determinada projecção e reputação junto do mercado. Nesse sentido, apesar de a
actividade empresarial ter ficado de forma temporária suspensa, os bens que sobreviveram ao
incêndio têm a capacidade para exprimir a permanência de uma organização concreta
produtiva qualificável como estabelecimento. Entendendo-se que ainda existia estabelecimento,
ainda podia haver negociação tendo em conta o âmbito mínimo, tendo em conta o
consentimento previsto no artigo 1112.º/1 do Cód. Civil.
Importa agora olhar para a segunda parte da pergunta, relativa ao crédito da empresa. Sabemos
que o crédito da empresa são as relações de facto com valor económico com os financiadores
da empresa. O crédito é um valor de exploração, isto é, um dos tais valores típicos do
estabelecimento que “não existiam antes de haver empresa e que só existem devido ao
funcionamento da empresa, não existindo nunca sem ela.
De acordo com o Doutor Coutinho de Abreu, os créditos não são elementos do
estabelecimento; e, por isso, não se transmitem só porque o estabelecimento se transmite. Os
créditos podem ser cedidos (cessão de créditos), não estando isso dependente do
consentimento do devedor.
Caso prático 14 – O caso da porta que não abriu
José pretende dedicar-se à construção de pranchas para saltos acrobáticos. Para exercer essa
atividade adquiriu a devida matéria-prima, tendo também contratado dois trabalhadores. Foi
igualmente arrendado por José um espaçoso imóvel e celebrado um contrato de locação relativo a
variada maquinaria.
Porém, antes de iniciar a referida atividade, e já depois de ter contratado com um jornal local uma
campanha publicitária que estava em curso, José adoeceu e pretende agora vender o seu
estabelecimento.
O senhorio do imóvel entende que isso só é possível se der o consentimento, pois considera que só
há estabelecimento se tiver começado a ser explorada a atividade para que o imóvel foi
arrendado. No caso, acrescenta, nada foi vendido ou comprado no imóvel, que continua com a
porta fechada ao público e sem clientela. Terá razão?
50
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Há várias perspectivas que tentam definir o momento a partir do qual podemos dizer que
estamos perante um estabelecimento. Podemos destacar três:
-A primeira perspectiva defende que só há estabelecimento quando se dá a abertura “ao
público”.
-Uma segunda tese defende por outro lado que o momento certo é o início de uma “autêntica”
actividade de empresa.
-Por fim, temos a perspectiva que defende a ideia que se um determinado complexo de bens de
produção organizados revelar aptidão mínima para realização de um fim económico-produtivo
jurídico-comercial qualificado, isto é, apto para garantir clientela que lhe permita manter as suas
operações, estaremos perante um estabelecimento. Esta é a posição da doutrina portuguesa.
Havendo já estabelecimento (apesar de não funcionar), há também o aviamento. Segundo a
doutrina portuguesa o estabelecimento já está aviado se tiver capacidade produtiva e aptidão
para a realização do fim para ao qual foi criado. Ora, neste caso José já tem capacidade para
construir pranchas para saltos acrobáticos, logo reúne estes dois requisitos.
Ora facto de as portas ainda não terem sido abertas ao público não significa que não haja
relações com o exterior. E, de facto, este caso é exemplo disso mesmo: desde logo, se tinha sido
feita campanha publicitária, já havia uma posição no mercado perante a concorrência; e, além
disso, já havia relações com os trabalhadores, com os fornecedores da matéria-prima, com os
locatários da maquinaria, com o jornal local e com o senhorio.
Tudo isto permite-nos falar na existência de certos valores de organização e, até, de uma certa
importância dos valores de exploração; pelo que parece seguro concluir que já existe um
estabelecimento.
Deste modo, José pode vender o estabelecimento sem autorização do senhorio, conforme o
disposto no artigo 1112.º/1 do Cód. Civil.
Note-se que, no fundo, toda aquela atividade representa atividade desenvolvida através do
estabelecimento (a clientela, por sua vez, não é um elemento do estabelecimento).
51
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso 15 – O trespasse lacónico, o trespassante destruidor e o senhorio ganancioso
Felismino, dono e explorador do estabelecimento que explorava com o logótipo «Superligeiro»,
onde vendia automóveis usados, vendeu o estabelecimento a Gualter.
Quando as chaves lhe foram entregues, Gualter verificou que Felismino tinha retirado da frontaria
do estabelecimento, com um martelo hidráulico, as letras que continham o logótipo; e que o cofre
ali existente estava «a zero».
Gualter quer saber se pode continuar a usar o logótipo e se tem direito a exigir de Felismino o
dinheiro que deveria estar no cofre. O que lhe diria, tendo em conta que o contrato relativo ao
estabelecimento nada diz a esse respeito?
Hipólito, por sua vez, senhorio dono do imóvel em que o estabelecimento em causa funciona, quer
intentar uma ação de despejo relativamente ao espaço arrendado porque no negócio entre
Felismino e Gualter nada foi estabelecido quanto à transmissão dos automóveis expostos para
venda e, por isso, o estabelecimento não foi transmitido no seu conjunto. Terá razão?
DEFINIÇÃO DE TRESPASSE
No caso prático em questão estamos perante um trespasse. O legislador não define o conceito
de trespasse, nem fixa um regime global do mesmo. A abrangência da figura do trespasse, que
abrange uma série de figuras negociais distintas necessita de um conceito elástico que tenha
capacidade para congregar as diversas figuras nacionais sob a mesma designação. Nesse
sentido, podemos definir trespasse como transmissão da propriedade de um estabelecimento
por negócio intervivos. Este conceito é suficientemente elástico e preciso para representar o
trespasse como conjunto de figuras negociais diversas e, simultaneamente, para eximir as
notas essenciais e comuns que, para lá das diferenças, congregam as diversas figuras nacionais
sob uma mesma designação.
FORMA EXIGIDA
Até 2000 o legislador exigia para o trespasse escritura pública. Atualmente, devemos entender
que o escrito é a forma necessária. 11
ÂMBITO DE ENTREGA
Neste âmbito as partes gozam de liberdade para excluírem da transmissão alguns elementos do
estabelecimento. Todavia, tal exclusão não pode abranger os bens necessários ou essenciais
para identificar ou exprimir a empresa objeto do negócio. Ou seja, o trespasse deve ser sempre
respeitar o “âmbito mínimo de entrega”, constituindo pelo conjunto de elementos da empresa
necessários para identificar, sensibilizar e transportar o valor de posição no mercado.
Desrespeitado o âmbito mínimo de entrega, o trespasse fica impossibilitado. O objeto do
negócio translativo serão, então, bens singulares de um estabelecimento, não o próprio
estabelecimento. Naturalmente, que definir a priori os elementos integrantes do tal âmbito
mínimo é indesejável.
No caso em questão o trespassário retirou o logótipo do estabelecimento e levou o dinheiro
existente no cofre. Por isso mesmo, estamos perante duas questões diferentes.
11
Página 89 NDN
52
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
PROBLEMA 1: TRANSMISSÃO DO LOGÓTIPO
Comecemos pela primeira:
Neste ponto, podemos falar num âmbito natural e num âmbito convencional.
O âmbito natural é composto pelos elementos que se transmitem com o
estabelecimento trespassado, independentemente de estipulação ad hoc. Isto, não
havendo cláusulas a excluí-los, estes bem entram na esfera jurídica do trespassário.
o O âmbito natural abrange:
Elementos cuja propriedade pertence ao trespassante
E elementos empresariais na disponibilidade do trespassante a título
obrigacional.
No âmbito convencional incluem-se todos os elementos empresariais que apenas se
transmitem por força de estipulação ou convenção entre o trespassário e o
trespassante.
Ora, no caso prático em questão o primeiro problema é relativo ao logótipo. O logótipo é um
sinal que vai constituir uma representação suficientemente autónoma, estável e representativa
do estabelecimento. Os logótipos e marcas são elementos pertencentes ao âmbito natural. Só
não será assim, se neles constar o nome individual ou a denominação do titular nos termos do
artigo 31º, nº5 do CPI. Logo, Gualter fica titular do logótipo independentemente de Felismino o
ter tirado: naturalmente, isso não o impede de voltar a utilizá-lo.
PROBLEMA 2: O DINHEIRO
O dinheiro, por sua vez, é um ativo do titular do estabelecimento. Assim, não sendo um
elemento do estabelecimento, não se inclui na sua transmissão, pelo que Gualter não tem
direito a exigir o dinheiro que deveria estar no cofre.
No entanto, temos um terceiro problema referente ao trespasse de estabelecimento instalado
em prédio arrendado. 12
O senhorio quer intentar uma ação de despejo por entender que o estabelecimento não foi
transmitido no seu conjunto. Assim, é necessário averiguar, desde logo, se os automóveis se
consideram transmitidos. O artigo 1112º, 1, alínea a) do CC estabelece que, em caso de
trespasse de estabelecimento comercial ou industrial instalado em prédio arrendado, o
trespassante arrendatário pode ceder a sua posição de arrendatário ao trespassário sem
necessidade de autorização do senhorio. Este artigo tem de ser conjugado com outro preceito: o
artigo 1112, nº2.
No caso em questão apesar de não ter sido convencionado nada a esse respeito, os automóveis
integravam claramente o âmbito natural de entrega . Naturalmente, se se declara transmitir
aquele estabelecimento é o estabelecimento com os seus elementos; e os automóveis são
elementos desse estabelecimento! Portanto, deve considerar-se que os automóveis foram
naturalmente abrangidos na negociação do estabelecimento.
Mas o senhorio não teria razão mesmo que os automóveis não tivessem sido transmitidos e
nesse sentido o senhorio quer intentar uma acção de despejo com base numa interpretação
literal do artigo 1112º, nº2 do CC. No entanto, efectuando uma interpretação à letra deste
12
Página 99 NDN
53
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
artigo chegaríamos a conclusões absurdas, verificando-se uma exigência ilógica de exigir a
transferência de todos os elementos do estabelecimento. Nesse sentido, o artigo 1112.º/2,
alínea b) do Cód. Civil não pode ser interpretado literalmente: o que é necessário para haver
trespasse é que seja transmitido o âmbito mínimo de entrega, que como bem sabemos é
composto pelos elementos necessários para identificar, sensibilizar, transportar o
estabelecimento. O senhorio precisa, então, de demonstrar e prova que sem esse tal elemento,
não subsiste aquele estabelecimento concreto, tendo-se verificado uma dissimulação da cessão
da posição de arrendatário.
Neste caso, não temos elementos para saber se, em concreto, aqueles concretos automóveis
integravam o âmbito mínimo de entrega do estabelecimento. Portanto, seria difícil dizer que,
em concreto, os automóveis que não foram transmitidos inviabilizavam a transmissão do
estabelecimento enquanto tal (organização de meios que constituiriam um instrumento relativamente estável
para o exercício relativamente estável e autónomo de uma atividade comercial) .
Em suma, quando se visa determinar se o âmbito mínimo de entrega foi negociado:
Que elementos estavam nas mãos do trespassante?
Dos elementos na titularidade do trespassante, quais integram o âmbito natural?
Estes elementos transmitem-se sem necessidade de convenção
Além desses, que elementos são do âmbito convencional?
Se houve convenção ad hoc, estes elementos transmitem-se; se não, não
Se algum elemento que pertencia âmbito mínimo não se transmitiu, então não houve
negociação do estabelecimento
Por fim, se algum elemento do âmbito natural foi excluído, não se transmite.
Se esse elemento pertencia ao âmbito mínimo não houve trespasse
Se não pertencia ao âmbito mínimo houve trespasse
54
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 16 – Eirl ou não Eirl, eirl, digo, eis a questão!
Alfredo é proprietário de um EIRL, que utiliza para se dedicar à atividade de compra e venda de
produtos de eletrónica. Alfredo também é dono e explorador de um estabelecimento de prestação
de serviços de programação informática. Mas esta última atividade tem gerado prejuízos e as
dívidas com ela relacionadas acumulam-se.
Berta, que trabalha no primeiro estabelecimento para Alfredo, pergunta-lhe se há o risco de ele
perder a propriedade do EIRL por causa das referidas dívidas, pois não gostaria de trabalhar para
outro patrão.
Alfredo diz-lhe que não, pois o EIRL está blindado na sua propriedade: «por isso é que é de
responsabilidade limitada!», acrescenta. Será assim?
O artigo 10.º/1 do Regime do EIRL estabelece que «sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, o
património do eirl responde unicamente pelas dívidas contraídas no desenvolvimento das
atividades compreendidas no âmbito da respetiva empresa».
Com efeito, estamos a falar de dívidas que não têm a ver com a atividade do eirl. Mas o que o
artigo 10.º diz é que o património do eirl não responde por essas dívidas. E o património do EIRL
(máquinas registadores, mobiliário, quadros, expositores, etc) não se confunde com o EIRL
propriamente dito (o EIRL no seu conjunto)!
Na verdade, o artigo 22.º determina que «na execução movida contra o titular do eirl por
dívidas alheias à respetiva exploração, os credores só poderão penhorar o estabelecimento
provando a insuficiência dos restantes bens do devedor».
Assim, tratando-se de uma dívida alheia à exploração do estabelecimento, os bens que o
integram, individualmente considerados, não respondem pela dívida; mas, se o seu titular não
tiver outros bens suficientes para pagá-la, os credores poderão obter a penhora do eirl no seu
conjunto. E, naturalmente, com essa penhora, o EIRL poderá depois ser alienado judicialmente.
Portanto, podemos concluir que, apesar de aquelas dívidas não poderem ser pagas através do
património do próprio eirl; a senhora corre o risco de ter um novo patrão se o estabelecimento
for penhorado e alienado judicialmente.
55
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 17 – O caso das duas funerárias
A Paz Eterna, Serviços Fúnebres, Lda. era proprietária de um estabelecimento em que exercia a
atividade funerária. Mas, em janeiro de 2019, a Paz Eterna vendeu-o à Sublime Descanso,
Funerária de Coimbra, S.A. Em junho de 2019, a Paz Eterna abriu, a escassos 200 metros do
estabelecimento vendido, um novo estabelecimento para se dedicar à mesma atividade.
A Sublime Descanso pretende reagir, mas não sabe como. O que lhe diria?
Está aqui em causa o problema da obrigação implícita de não concorrência. A obrigação implícita
de não concorrência traduz-se numa obrigação para o trespassante do estabelecimento, de não
concorrência num determinado espaço e em certo tempo, a não concorrer com o trespassário.
Dessa maneira, o trespassante fica vinculado a uma obrigação de não iniciar uma actividade
similar à exercida do estabelecimento trespassado.
O enquadramento jurídico desta obrigação pressupõe pensar no regime da compra e venda,
extensível a outros negócios onerosos por força do artigo 939.º do Cód. Civil.
Segundo o regime da compra e venda, os vendedores estão obrigados a entregar a coisa e,
depois, não podem pôr em causa o seu gozo pelo comprador. Por outras palavras, do regime da
compra e venda resulta a obrigação de entrega da coisa vendida e de garantir o gozo pacífico da
mesma depois da venda.
Atendendo ao regime da compra e venda, o Doutor Soveral Martins entende que, em rigor, a
obrigação de não concorrência é até uma obrigação explícita, porque resulta da obrigação de
entrega da coisa que o vendedor tem à luz do regime da compra e venda (tal como acaba por ser
uma obrigação explícita na locação); que depois é estendido aos outros negócios onerosos por força
do artigo 939.º do Cód. Civil. No entanto, o Doutor Coutinho de Abreu considera-a uma
obrigação implícita.
Um dos principais fundamentos deste princípio é o dever de o alienante entregar a coisa
alineada e assegurar o gozo pacífico dela. A empresa que o trespassante tem de entregar é um
bem complexo, com valores de organização e de exploração específicos. Por norma, o
alienante não só conheces essas características organizativas da empresa como mantém
relações pessoais com financiadores, fornecedores e cliente. Ou seja, regra geral, após a venda,
o vendedor de um estabelecimento está em condições de fazer concorrência com uma
perigosidade diferencial. Esta expressão cunhada por ORLANDO DE CARVALHO traduz-se numa
concorrência perigosa que ponha em risco a própria empresa alienada.
Em regra, após a venda, o vendedor de um estabelecimento está em condições de fazer
concorrência com uma perigosidade diferencial (usando palavras do Professor Orlando); isto é, uma
perigosidade especialmente perigosa.
O bem vendido é um estabelecimento comercial. E, como estabelecimento que é, tem, desde
logo, valores de organização; e quanto mais quanto mais tempo funcionar, mais valores de
exploração terá. Conhecendo esses valores de organização e de exploração, o vendedor pode
reproduzir os valores de organização, copiar a organização que transmitiu e retomar todos os
valores de exploração; contactando, desde logo, a clientela, os fornecedores, os financiadores
ou as agências de publicidade: tudo isso pode ser reproduzido.13
13
Além do trespassante, outras pessoas podem ficar vinculadas pela obrigação implícita de não
concorrência: Página 97 NDN
56
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
O Professor Orlando de Carvalho costumava dar o exemplo do sujeito que, depois de vender o cão
ao vizinho, passava a vida toda por cima do muro que divide as propriedades a chamá-lo e a
brincar com ele. E de facto este exemplo ilustra muito bem a situação que poderia ocorrer se não
consagrássemos a obrigação de não concorrência.
Esta obrigação de não concorrência, como é natural, tem limites, pois, caso contrario
estaríamos perante uma violação grosseira do princípio da liberdade de iniciativa económica
(art.61ºCRP) e das regras de defesa da concorrência: Estes limites são, no fundo, pressupostos
cuja verificação é necessária para que se possa afirmar a obrigação implícita de não
concorrência:
i) Limites objetivos (merceológicos)
Os sujeitos passivos da obrigação não ficam, proibidos de exercer qualquer atividade
económica. Não podem é iniciar o exercício de uma atividade concorrente com a exercida
através da empresa trespassada.
Todavia, estes sujeitos não ficam impedidos tão-somente de adquirir estabelecimento
com objeto similar ao do alienado. Outros comportamentos lhes são interditos (ex.:
passar a desempenhar funções de direção/administração em empresa alheia e
concorrente da trespassada; entrar em socie dade com objeto idêntico ao do
estabelecimento alienado, nela passando a exercer funções de administração ou
ficando a deter posição controladora).
No caso em questão, no que respeita aos limites objetivos, tendo em conta a atividade
desenvolvida, será evidente que estamos aqui dentro desses limites, pois a atividade é
exatamente a mesma
ii) Limites espaciais
Quanto aos limites espaciais, quando pensamos no raio de ação do estabelecimento, atendendo
ao tipo de atividade, 200 metros parece uma distância irrisória: ninguém deixa de mudar de
estabelecimento por causa de 200 metros (tendo em conta o tipo de atividade!). Portanto, é de
admitir que estejamos dentro deste limite espacial.
NOTA: Naturalmente, pode haver atividades em que 200 metros seja imenso: se estivessem em
causa estabelecimentos de esquina de venda de cachorros quentes, por exemplo, já seria
diferente! Há cidades onde existem estabelecimentos destes de 20 em 20 metros; e nesse caso
200 metros já iria além do raio de ação do estabelecimento
Na verdade, é cada vez mais difícil estabelecer esse raio de acção. A faturação poder ser um
bom indício desse raio de ação (saber se se fatura para clientes só da cidade ou para clientes de
Cônjuge do trespassante, independentemente do regime de bens do casamento e a qualidade
de bem comum ou próprio do estabelecimento eventualmente a adquirir pelo cônjuge.
Os filhos do trespassante, quando com ele tenham colaborado na exploração da empresa
transmitida
No caso de o trespassante ser uma sociedade, os sócios que possuem os conheci mentos
relativos à empresa trespassada indispensáveis a uma concorrência qualificada.
57
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
todo o país). Mas cada vez mais os estabelecimentos podem começar a ter um raio de ação
mundial, graças às páginas de internet. Recordemos o caso da senhora que faz bonecas de pano
e as exporta para todo o mundo. De todo o modo, será sempre preciso fazer prova: uma coisa é
o raio de ação potencial, outra coisa é o raio de ação definitivo.
iii) Limites temporais
Por fim, relativamente ao limite temporal, importa ter em conta que este não pode ser um
limite muito extenso, sob pena de premiar a preguiça do novo adquirente.
No fundo, o novo adquirente tem de ter tempo suficiente para consolidar nas suas mãos, de
forma razoável, e de acordo com o critério do empresário razoavelmente diligente, os valores
de organização e os valores de exploração daquele estabelecimento.
Neste caso, não tendo passado mais de 6 meses, poderia considerar-se que ainda não houve
tempo para consolidar na titularidade do adquirente o estabelecimento.
MEIOS DE REAÇÃO
Verificados todos estes limites, concluímos que houve violação da obrigação de não
concorrência. E esta violação pode significar a existência de danos causados ao adquirente.
Nesse sentido, o legislador consagra uma série de meios de reacção:
Exigir indemnização por perdas e danos nos termos do artigo 798ºCC
Resolver o contrato por trespasse em conformidade com o artigo 801º, nº2 CC.
Intentar uma acção de cumprimento nos termos do 817º CC
Requerer uma sanção pecuniária compulsória (829ºA CC).
Exigir que o novo estabelecimento do obrigado seja encerrado (829º, nº1CC).
Temos de colocar dois cenários:
CENÁRIO 1 O adquirente não quer pôr termo ao contrato de compra e venda
Se o adquirente não quiser pôr termo ao contrato de compra e venda que celebrou,
tem direito à indemnização pelo interesse contratual positivo; isto é, tem direito a ser
colocado na posição em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido (se a obrigação
implícita de não concorrência não tivesse sido violada).
Não querendo pedir a resolução do contrato, o adquirente pode também intentar uma
ação de cumprimento, através da qual requeira que o vendedor seja condenado no
cumprimento do contrato.
Note-se que o Doutor Soveral Martins entende que este pedido pode ser cumulado com o
pedido de indemnização pelo interesse contratual positivo (é um ponto de discórdia, pois, nas
Lições, dá a ideia que Coutinho de Abreu vê os meios de reação como meios alternativos).
58
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
CENÁRIO 2 O adquirente quer resolver o contrato de compra e venda
Porém, havendo incumprimento efetivo de uma obrigação contratual, o adquirente pode
preferir optar por resolver o contrato de compra e venda. Neste caso, não está afastada a
possibilidade de ser pedida uma indemnização. Mas os termos em que ela é pedida são
diferentes! Com efeito, se o adquirente pretender pedir a resolução por incumprimento, é
muito discutível que possa pedir uma indemnização pelo interesse contratual positivo. Na
verdade, o que parece mais razoável aqui é a possibilidade de ser pedida uma indemnização
pelo interesse contratual negativo; isto é, o direito a ser colocado na posição em que estaria se
não tivesse sido celebrado o contrato.
De facto, em regra, seria algo contraditório pedir a resolução de um contrato ao mesmo tempo
que se pede uma indemnização para ficar na posição em que se estaria se o contrato tivesse
sido cumprido, Por isso, em regra, a resolução deve implicar o pedido de indemnização pelo
interesse contratual negativo (haverá exceções: o Doutor Paulo Mota Pinto defende, na tese de
doutoramento, que há casos que podem ter uma solução diversa).
Tratando-se de uma obrigação de non-facere, não está afastada a possibilidade de ser requerida
uma sanção pecuniária; nem a possibilidade de ser intentada uma ação nos termos da qual seja
pedido o encerramento do novo estabelecimento.
Mais uma vez, esta última ação (829.º/1 C. Civil) parece poder ser cumulada com um pedido de
indemnização (e é aqui que Soveral Martins se distancia de Coutinho de Abreu).
EM AMBOS OS CENÁRIOS É POSSÍVEL RECORRER AOS PROCEDIMENTOS CAUTELARES
Por fim, é possível, em qualquer caso, recorrer a procedimentos cautelares.
59
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 18 – O caso da sapataria que se tornou supermercado
A «Calçaqui, Comércio de calçado, Lda» é dona e exploradora de uma sapataria instalada em
prédio arrendado. Como a «Calçaqui» pretende alterar o seu objeto social e passar a dedicar-se à
exploração de tuk-tuks, vendeu a sua sapataria a Vanda. Esta começou de imediato a realizar
obras no imóvel para o transformar em supermercado.
No dia da inauguração desse estabelecimento, Gualter, dono do imóvel e senhorio de Vanda, ao
saber que no seu belo prédio já não existia a sapataria, decide intentar uma ação de despejo.
Porém, o advogado de Gualter diz-lhe que a ação será improcedente porque não há provas de que
não tenha existido trespasse. Além disso, seria necessário demonstrar que a mudança tornava
inexigível a manutenção da relação contratual. No entanto, Gualter logo acrescenta que sabe que
a venda não abrangeu os sapatos de homem tamanho 45, que o gerente único da «Calçaqui»
pretende usar. «Ótimo», diz o advogado. «Assim sendo, não houve trespasse e podemos intentar
uma ação de despejo de desfecho certamente favorável para si».
Pronuncie-se sobre as opiniões do advogado de Gualter.
Até 2000 o legislador exigia para o trespasse escritura pública. Atualmente, devemos entender
que o escrito é a forma necessária. Quando diz que «a ação será improcedente porque não há
provas de que não tenha existido trespasse», o advogado de Gualter tem razão, pois o facto de
o estabelecimento ter sido vendido com o intuito de mudar de objeto social mostra que, à
partida, o vendedor não teria interesse em ficar com elementos do estabelecimento (isto é, não
teria interesse em violar o âmbito mínimo de entrega). Além disso, Vanda também pode ter acabado
por adquirir o estabelecimento, mesmo que depois o tenha destruído enquanto sapataria (por
outras palavras, apesar de ter havido esse mudança, pode ter havido efetivamente trespasse).
Neste âmbito, importa sublinhar que não podemos efetuar uma interpretação literal do 1112º,
nº2 do CC. Interpretando à letra a al. a) do art.1112º/2 CC, conclui-se que o trespasse de um
estabelecimento exige a transferência de todos os seus elementos. Logo, se faltar um dos
elementos que não há lugar ao trespasse. Dessa forma, a cessão da posição de arrendatário
seria ilícita sem o consentimento do senhorio e fundamento de resolução do contrato de
arrendamento (art.1083º/2/e CC). Porém, sabemos que este artigo deve ser interpretado
noutro sentido, não sendo suficiente que o senhorio prove não ter sido transmitido um ou mais
elementos componentes do estabelecimento. O senhorio precisa, então, de demonstrar e prova
que sem esse tal elemento, não subsiste aquele estabelecimento concreto, tendo-se verificado
uma dissimulação da cessão da posição de arrendatário.
Porém, o caso em questão é um pouco diferente. O problema não é relativo à transmissão (ou
falta dela) de um determinado elemento. Está aqui em causa, desde logo, o artigo 1112.º/2,
alínea b) do Cód. Civil. Este artigo tem um papel semelhante ao artigo 115º, nº2 2 ) do RAU. Esta
norma estabelece que «não há trespasse quando a transmissão vise o exercício, no prédio, de outro
ramo de comércio ou indústria ou, de modo geral, a sua afetação a outro destino». Ora, a redacção
deste preceito é alvo de muitas críticas suscitando várias interpretações.
A doutrina limitou, por via da interpretação, o alcance do art. 115º, nº 2, b), do Regime do
Arrendamento Urbano. Neste ponto em específico verifica-se uma divisão substancial entre
COUTINHO DE ABREU E SOVERAL MARTINS. Para o último, a inexistência de trespasse é necessário
logo à data da celebração do negócio, que ambas as partes pretendessem a mudança de destino.
60
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Ou seja, para SOVERAL MARTINS é necessário que quer X quer Y queiram ter simulado um trespasse
para dissimular a transmissão da posição de arrendatário.
Só nesse caso não haveria, verdadeiramente, trespasse. Se, ao invés, a mudança de destino fosse
posterior ao trespasse ou fosse resultado da vontade exclusiva do trespassário, não haveria
nenhuma consequência relativo ao regime da cessão da posição de arrendatário. Dessa forma, o
consentimento do senhorio continuaria a ser desnecessário para este efeito, já que houve de facto
um trespasse.
No entanto, para o Doutor Coutinho de Abreu, a aplicação desta norma basta-se com uma
intenção de mudança por parte do adquirente.
CONCLUSÃO
De todo o modo, a alínea b) do artigo 1112.º/2 não pode ser aplicada literalmente.
O que a norma nos deve levar a concluir é que o facto de o trespassante e o trespassado terem
ambos a intenção de alterar o destino do estabelecimento poderá eventualmente ter levado a
que, afinal, não tenha havido trespasse: as partes podem ter querido negociar apenas a posição
de arrendatário.
No entanto, isto tem de ser demonstrado: o facto de o adquirente mudar o destino do imóvel
não leva, só por si, a dizer que não houve negociação do estabelecimento.
Deste modo, é necessário averiguar se foi respeitado o âmbito mínimo de entrega, vendo o que
é que as partes disseram expressamente que se transmitia e se os elementos transmitidos do
silêncio das partes respeitavam esse âmbito mínimo.
Assim, caso tenha havido uma efetiva negociação do estabelecimento respeitando o âmbito
mínimo de entrega, podemos concluir que havia trespasse e que não era necessária a
autorização do senhorio; pelo que a cessão da posição de arrendatário não era ilícita. Caso
contrário, se se provasse que não tinha havido negociação do estabelecimento era necessária a
autorização do senhorio para a transmissão da posição de arrendatário. Nesse caso, não tendo
havido autorização do senhorio para a transmissão da posição de arrendatário, a transmissão da
posição de arrendatário seria ilícita.
E, sendo a transmissão ilícita, havia fundamento para pedir a resolução do contrato de
arrendamento ao abrigo do artigo 1083.º, alínea e) do Código Civil.
O artigo 1083.º do Código Civil tem duas partes, começando com uma cláusula geral e seguindo
com uma enumeração. E, neste âmbito, coloca-se a questão de saber se o preenchimento das
diversas alíneas do n.º 2 ainda obriga a considerar inexigível a manutenção da relação
contratual
O Doutor Soveral Martins entende que as várias alíneas são exemplos de situações em que o
legislador considera não ser exigível a manutenção da relação contratual. Mas isto é discutível,
havendo autores que entendem que as várias alíneas têm de ser lidas à luz da cláusula geral.
Por fim, na sua última afirmação, o advogado de Gualter parece querer sustentar uma
interpretação literal da alínea a) do artigo 1112.º/2 do Cód. Civil. No entanto, esta norma não
pode ser lida assim, uma vez que isso levar-nos-ia a conclusões absurdas: bastaria que não
tivesse sido transmitido um par de sapatos para que já não houvesse trespasse. Na verdade, o
que esta alínea significa é que é necessário que seja respeitado o âmbito mínimo de entrega.
61
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Por outras palavras, é necessário que seja transmitido, para o adquirente do estabelecimento
trespassado, o conjunto de elementos necessários e suficientes para individualizar, sensibilizar,
transmitir o estabelecimento enquanto tal; isto é, enquanto unidade jurídica fundada numa
organização de bens para o exercício relativamente estável e autónomo de uma atividade
comercial.
No fundo, é necessário que vejamos elementos suficientes para dizer que foi transmitido aquele
estabelecimento com os seus valores de organização, com os seus valores de exploração e com
aquela posição no mercado. Assim, podemos concluir que o advogado de Gualter não tinha
razão.
EM SUMA:
Ora, a leitura conjugada da redação do atual art. 1112º, nº 2, al. b), e do nº 5, CCiv permite
concluir que a lei distingue, presentemente, dois tipos de casos:
1. Aqueles em que as partes, no momento da celebração do negócio, visam (ambas) a
mudança de destino do prédio (art. 1112º, nº 2, al. b));
i. NÃO HÁ TRESPASSE
2. Aqueles em que uma das partes — o trespassário —, em momento posterior ao do
trespasse e da concomitante cessão da posição de arrendatário, altera o destino do
imóvel (art. 1112º, nº 5).
i. Emerge para o senhorio um direito de resolução do contrato.
A reforma neste âmbito em 2006 veio reforçar a posição do senhorio:
Primeiro, porque se verificou um encurtamento do ponto de vista temporal do direito
de arrendamento sobre o imóvel. Logo encurta-se também o valor económico desse
direito.
Mas acresce ainda que quem adquire o estabelecimento acompanhado da posição de
arrendatário ficará, por força do disposto no art. 1112º, nº 5, CCiv, numa posição
diminuída: o seu direito sobre o imóvel ficará à mercê da resolução pelo senhorio
logo que seja dado “outro destino ao prédio”. Aquilo que era permitido ao primitivo
inquilino (dentro do âmbito estabelecido no contrato de arrendamento), já não o será
ao cessionário. O direito sobre o imóvel fica, por força da cessão não autorizada,
limitado por lei, visto que o direito do novo arrendatário se sujeita a uma causa de
resolução específica.
Como se não bastasse, a Lei nº 6/2006 impôs uma outra diminuição aos contratos de
arrendamento cedidos no âmbito do trespasse. De facto, por força do arts. 28º e 26º,
nº 6, al. a), daquela lei, os contratos sem duração limitada (celebrados antes da
entrada em vigor do NRAU) sujeitam-se a uma denúncia livre pelo senhorio com pré-
aviso de cinco anos, sempre que “ocorra trespasse ou locação de estabelecimento
após a entrada em vigor da presente lei”.
Caso 19 – O estabelecimento locado sem identificação expressa de prazo de duração
Arsénio celebrou com Oliveira um contrato de locação do seu café. No entanto, nada ficou estabelecido
quanto ao prazo de duração do contrato.
62
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Cinco anos e um dia depois da data da celebração do contrato referido, Arsénio exige que Oliveira
abandone o espaço onde o café está instalado, pois diz que quer retomar de imediato a exploração do
estabelecimento uma vez que o prazo de duração do contrato terá terminado. Será assim?
A locação de estabelecimentos encontra-se expressamente prevista no artigo 1109.º do Código
Civil. E um dos aspetos muito importantes do seu regime é o facto de ser regido pelas regras da
Subsecção VIII do Código Civil, nos termos da parte final do 1109.º/1. Podemos extrair três
características do conceito de locação: os estabelecimentos podem ser locados ; a locação do
estabelecimento é um contrato nominado e por fim, trata-se de um contrato típico.
NORMAS RELATIVAS À DURAÇÃO DO CONTRATO
O artigo 1110.º, cujo n.º 2 dispõe que «na falta de estipulação, o contrato considera-se
celebrado com prazo certo, pelo período de cinco anos». Nesse sentido, as partes, nas locação
de estabelecimento, estipulam de forma livre a duração do contrato.
A isto, o n.º 3 acrescenta que «salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado por prazo
certo renova-se automaticamente no seu termo», a não ser que haja oposição à renovação; mas
nunca nos cinco primeiros anos após o início do contrato (n.º 4).
Portanto, podemos concluir que o locador do estabelecimento não tinha direito a exigir que o
locatário abandonasse o locado, uma vez que, nada tendo sido estabelecido, considerava-se
que o contrato duraria por cinco anos, a termo certo, findos os quais se renovaria por um
período de igual duração; sendo que a oposição à renovação nem sequer poderia ocorrer nos
primeiros cinco anos após o início do contrato.
PÁGINA 104 NDN
Caso prático 20 – O caso do limpa-fossas
A X, S.A. é titular da marca «XPTO», que foi registada para identificar um perfume muito caro e
desejado, usado por diversas figuras públicas. Trata-se de um produto que rapidamente se tornou
muito conhecido em todo o mundo desenvolvido e que é o resultado de elementos muito felizes,
dando-lhe um toque de extremo bom gosto.
Alberto ofereceu um frasco de 250ml do famoso «XPTO» à sua mulher, mas viu uma reação de algum
desagrado da sua parte. Após alguma insistência, Alberto soube que a entidade que limpa a fossa
sanitária da fábrica em que a sua mulher trabalha tem como marca… «XPTO», sinal que utiliza na
própria cisterna que presta os serviços.
Alberto contou a história a Carlos, administrador da X, S.A.; e Carlos que pretende saber se esta tem
fundamento para reagir. O que lhe diria?
As marcas são sinais suscetíveis de representação objetiva, clara e autónoma destinados
sobretudo a distinguir certos produtos idênticos ou afins. No artg.208º/1 CPI, diz-se que “a
marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação
(que sejam) adequados a distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outras
empresas”. Já o professor Coutinho de Abreu, por sua vez, critica esta definição e defende que a
marca é constituída por um sinal que distingue só produtos que sejam idênticos ou afins.
Temos uma diferença evidente entre as marcas e os logótipos. Os logótipos servem para
distinguir entidades, as marcas vão servir para distinguir produtos. Em regra, a marca apenas
63
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
beneficia da proteção em relação a produtos idênticos ou afins – princípio da especialidade. Se
o titular registou essa marca, pode exigir a proteção do sinal, perante alguém que quiser
registar outra marca, se essa marca for para produtos idênticos ou afins. O Ac.12/02/2012, fixou
que tinha que ser uma representação duradoura. Isto é importante, porque o que se trata é de
garantir que o sinal registado hoje possa ser comparado com outro sinal que queira ser
registado amanhã, daqui a uns meses, daqui a uns anos, etc. Esta representação é que nos
permite fazer a comparação, com o pedido que irá ser apresentado. Se a representação se
altera estamos a comparar com algo que já não é a marca que foi registada.
Quanto às funções das marcas, temos uma evidente: função distintiva dos produtos, ela resulta
da própria definição do 208º. Trata-se da função primordial. Mas será que esta é a única função
jurídica das marcas? Se olharmos para o artg.235º, vemos que, visa proteger a função atrativa
ou publicitária ou excecional das marcas de prestígio. Como se vê a proteção alargada das
marcas de prestígio é agora assegurada por específico normativo relativo às marcas. Proteção
essa que rompe com o princípio da especialidade, não se limitando a prevenir aqueles riscos. Já
não está em causa a função distintiva das marcas, mas sim a tutela direta ou autónoma da
função atrativa ou publicitária excecional das marcas de prestígio. Embora radicadas em
determinados produtos, estas marcas ganham asas e libertam-se em grande medida da função
distintiva, aparecendo como símbolos de excelência.
As duas atividades aqui em causa não são atividades idênticas, afins ou concorrentes. No
entanto, podem ser geradas associações indesejáveis: neste caso a oferta daquele perfume
podia gerar comentários jocosos por parte de pessoas amigas. E é neste âmbito que surge o
princípio da especialidade.
A marca inicialmente registada era uma marca de prestígio, já divulgada por todo o mundo; e é
precisamente esse prestígio que pode vir a ser prejudicado.
Na verdade, é por isso que o artigo 235.º do Cód. da Propriedade Industrial dita que o registo de
uma nova marca deve ser recusado se prejudicar o prestígio da outra marca. E, não tendo isso
acontecido, a X, S.A. pode pedir a anulação do registo, a cessação da utilização da marca e uma
indemnização pelos prejuízos causados.
NOTAS:
AS marcas têm também uma função de garantia de qualidade direta e autonomamente
tutelada pelo direito?
A resposta tradicional era negativa.
A função de garantia de qualidade não seria autónoma, seria apenas uma função derivada da
distintiva, mais precisamente da função de indicação da proveniência – garantindo a marca a
constância da proveniência dos produtos, garante reflexamente a constância (tendencial) da
qualidade dos mesmos.
Nós respondemos afirmativamente.
Quanto à função de garantia de qualidade, é verdade que o regime das marcas não garante
sempre a mesma qualidade. Mas ainda é possível dizer que esta função existe quanto às marcas
de certificação ou de garantia – os sujeitos subordinados ao seu controlo, tem no seu processo
produtivo de prosseguir de determinadas regras (aqui há uma garantia de conteúdo) – 215º e
216º/1 a).
64
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Quanto às marcas registadas em geral, ainda se pode dizer que há uma garantia de um mínimo
de qualidade (268º b)), apesar de não podermos dizer que esta é uma função para as marcas
registadas em geral. Este artigo diz que quando a marca é registada, é para produtos com
determinada qualidade, e o registo extingue-se se a partir de determinada altura essa marca for
possível de induzir o publico em erro quanto à qualidade da marca – ex.: se em conta dos
custos, se a qualidade diminuir, e a empresa não avisar o publico dessa diminuição, haverá essa
indução em erro. O preceito, não impõe uma constância qualitativa em sentido estrito. São
naturalmente permitidas melhoras qualitativas; e também não são ilícitas pioras não essenciais
ou sensíveis de qualidade. Ilícitas são apenas as diminuições de qualidade suscetíveis de induzir
o público em erro, isto é, as deteriorações qualitativas sensíveis e ocultas ou não declaradas ao
público.
Conclusão:
Um ponto que é importante de referir é que não podemos concluir que a tutela dos interesses
dos consumidores é o objetivo central da legislação sobre marcas. Num sistema capitalista e de
marcas facultativas, o direito sobre a marca serve essencialmente e primordialmente os
interesses do respetivo titular. É certo que os consumidores também beneficiam, dessa função
distintiva, mas este interesse só é protegido de forma eventual e indiretamente, dado depender
da reação do titular da marca às contrafações. Porém, também não se deve pensar que o
regime de caducidade das marcas decetivas nada tem a ver com a necessidade de tutela dos
interesses dos consumidores. Os interesses dos consumidores também aqui são tidos em conta
e protegidos
NOTA: Conteúdo e extensão do direito sobre a marca
Para que se constituam um direito de propriedade sobre uma marca é preciso que a mesma
seja registada (no INPI) – artg.210º CPI. Relativamente, ao registo, é fundamental olhar para as
várias alternativas. Temos a via tradicional do pedido de registo, que vem regulada nos
artg.222º e ss.
Os direitos conferidos pelo registo de marca no nosso país são eficazes em território nacional
(art.4º/1 CPI). O titular de marca registada no INPI que pretenda a proteção do sinal como
marca noutros países requererá o registo nesses Estados. Contudo, não terá de o fazer em
relação aos Estados partes no Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas ou
do Protocolo relativo a esse Acordo. Relativamente às marcas comunitárias: também se tem a
alternativa da marca da EU, que têm caráter unitário, produzem os mesmos efeitos em toda
U.E., sendo o seu registo (único) efetuado no Instituto de Harmonização do Mercado Interno.
Há vários fundamentos de recusa previsto no CPI, mas é fundamental ter presente esta
distinção:
Fundamentos de recusa absolutos – pode ser oficiosa. É por causa do conteúdo da marca
em si. Ex.: reprodução da bandeira nacional.
Fundamentos de recusa relativos – é necessária a invocação. Neste caso, o que surge como
causa de recusa é a relação com outras realidades, não é pela composição em si do sinal
(232º a 235º). Ex.: reprodução de marca anteriormente registada → por relação a outra
marca anteriormente registada.
NOTA: Direitos conferidos pelo registo
O titular de uma marca registada, goza de propriedade e do uso exclusivo dela – artg.210º CPI:
65
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Pode naturalmente usá-la para assinalar os seus produtos, utilizá-la na publicidade,
transmiti-la e cedê-la em licença de exploração 8artg.30º, 31º, 256º, 258º);
Por outro lado, podem reclamar contra pedido de registo feito por outrem de marca
idêntica ou semelhante (artg.226º, 229º);
Requerer judicialmente providencias cautelares contra violações do seu direito (artg.345º);
Pedir junto do INPI a declaração de nulidade ou a anulação do registo de marcas alheias
(artg.262º);
Pedir judicialmente indemnizações por perdas e danos (artg.347º).
Por outro lado, ainda, o direito do titular de marca é protegido criminalmente (artg.320º, 321º,
326º). É proibido o uso de sinais confundíveis com a marca registada “no exercício de atividades
económicas”. Obviamente que não há qualquer ofensa do direito à marca quando numa roda
de amigos falamos depreciativamente de certa marca; ou quando um dirigente de associação
de consumires menciona determinada marca depreciativamente para referir os malefícios de
alguns dos seus componentes.
Caso prático 21 – O caso do cheiro a bolo de chocolate (Acórdão TJUE caso Sieckmann)
Ralf Sieckmann apresentou um pedido de registo de uma marca no «Deutsches Patent- und
Markenamt» para vários serviços das classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice, de 15 de junho, na
versão revista e alterada; os quais incluem a publicidade, a gestão de negócios comerciais, a
administração comercial e os trabalhos de escritório (classe 35), a educação, a formação, o
divertimento e as atividades desportivas e culturais (classe 41), a restauração (alimentação), o
alojamento temporário, os serviços médicos, de higiene e de beleza, os serviços veterinários e de
agricultura, os serviços jurídicos, a pesquisa científica e industrial, a programação de
computadores e os serviços que não podem ser classificados noutras classes (classe 42).
Na rubrica do formulário da declaração intitulada «Representação da marca», prevista no § 8, n.º
1 da Markengesetz, e em conformidade com o art. 2.º da diretiva, disposições segundo as quais,
para poder constituir uma marca, um sinal deve ser suscetível de representação gráfica,
Sieckmann remeteu para uma descrição anexa ao seu pedido de registo. Esta descrição tem o
seguinte teor:
«A proteção da marca é pedida para a marca olfativa apresentada a registo no Deutsches Patent-
und Markenamt para a substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinámico),
cuja fórmula química se reproduz seguidamente.
Também se podem obter amostras desta marca olfativa através dos laboratórios locais
referenciados nas páginas amarelas da Deutsche Telekom AG ou através da empresa E. Merck, em
Darmstadt.
C6H5–CH = CHCOOCH3»
Para o caso de a descrição mencionada no número anterior não cumprir os critérios de registo
previstos no § 32, n.ºs 2 e 3 da Markengesetz, o requerente no processo principal completou-a da seguinte
maneira:
66
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
«O requerente dá o seu consentimento para uma consulta dos processos relativos à marca olfativa
‘cinamato de metilo’, nos termos do § 62, n.º 1 da Markengesetz e do § 48, n.º 2 da
Markenverordnung (regulamento relativo às marcas)».
Com o seu pedido de Registo, Sieckmann apresentou ainda um recipiente com uma amostra do
odor do sinal e acrescentou que o aroma é habitualmente descrito como «balsâmico-frutado com
ligeiras notas de canela». Em suma, Ralf Sieckmann pretende registar como marca o cheiro dos
bolos de chocolate que fabrica. Será isso possível?
67
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
O artigo 208.º do Código da Propriedade Industrial, que trata da constituição da marca,
permite-nos, de alguma forma, construir uma noção de marca
Uma marca um sinal suscetível de constituir representação de forma clara, objetiva e autónoma
de produtos ou de serviços (ou, como Coutinho de Abreu prefere dizer, só de produtos que
sejam idênticos ou afins).
Assim, a marca é um sinal de representação que visa permitir a distinção, entre si, de produtos
(ou, como a lei diz, produtos ou serviços) que sejam idênticos ou afins.
Esta remissão para a ideia de produtos idênticos ou afins significa que vai aqui funcionar o
princípio da especialidade, na medida em que a marca vai atuar na comparação entre produtos
idênticos ou afins (com uma exceção – as marcas de prestígio).
Ora, durante muitos anos, o Código exigia que o sinal fosse um sinal suscetível de representação
gráfica. Mas já não é assim desde o Código de 2018: apesar de a norma ainda começa,
desnecessariamente, por falar num sinal suscetível de representação gráfica; a segunda parte já
faz referência apenas a um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados, não
exigindo que essa representação seja uma representação gráfica.
Esta alteração ocorreu em virtude da própria evolução da tecnologia, dado que hoje podemos
ter representações através de áudio, através de vídeo, e até através de holograma! Mas há uma
espécie de marcas que continua a suscitar muitas dúvidas: as marcas olfativas. Ultimamente a
doutrina tem sugerido alternativas, como: a descrição verbal, a avaliação sensorial, a
cromatografia gasosa ou líquida, a espectrometria de massas, a ressonância magnética nuclear
ou a espectroscopia de infravermelhos e ultravioleta
Mas estas tentativas que se foram adiantando para procurar uma representação gráfica de
aromas foram muito contestadas pela doutrina e pelos tribunais.
Ao nível da prática internacional, podemos destacar um caso de registo de uma marca
constituída pelo cheiro da relva acabada de cortar relativo a umas bolas de ténis (marca essa que,
no entanto, caducou em Dezembro de 2006 por não pagamento das taxas de renovação).
No entanto, e mesmo sem a exigência de representação gráfica, esta possibilidade continua a
ser algo extremamente difícil.
Com efeito, para registar algo como marca tem de estar em causa algo que seja suscetível de
representação clara, autónoma e objetiva; e esta exigência existe uma vez que, quando se
regista uma marca para se assegurar a sua não reprodução, é necessário que seja possível
compará-la: no fundo, quando alguém pede o registo de outra marca para produtos idênticos
ou afins é necessário comparar o segundo pedido com a marca já registada.
Naturalmente, em relação aos aromas, a sua comparação é muito difícil porque o evoluir do
tempo provoca alteração; de tal modo que, sendo hoje guardada uma amostra de um aroma,
dificilmente o teremos intacto para este efeito daqui a 10 anos.
Portanto, apesar de não ser necessário que a marca seja suscetível de representação gráfica,
aquela é uma amostra que não dá segurança, uma vez que o que está no recipiente vai alterar-
se com o passar do tempo.
Com efeito, a lei não afasta estas possibilidades, mas exige que haja meios técnicos que a
reforcem (caráter autónomo de representação). E o cheiro dentro de um frasco não é capaz de
68
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
servir como garantia: naturalmente, se o cheiro vai mudando não podemos tê-lo como termo
de comparação no futuro.
69
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Caso prático 22 – O caso da letra assim-assim
José sacou, à sua própria ordem, sobre Manuel, uma letra pagável no dia 5 de janeiro de 2021.
Porém, a letra não indica o lugar de pagamento; e, por isso, Manuel entende que não tem de
pagar a quantia constante da letra no dia de vencimento, pois afirma que a letra «é nula». Será
assim?
A letra (“lettre de change”, “cambiale”, “bill of change”) é um documento que nos faz recuar a
tempos medievais, tendo surgido como um documento para obter troca de moeda (de uma
moeda com curso legal numa praça por moeda com curso legal noutra praça). Ora, uma letra é,
então, um documento (como qualquer título de crédito) que contém uma ordem de pagamento
de uma quantia em dinheiro que é dada pelo sacador ao sacado, a favor do tomador ou à sua
ordem, para pagar na data do vencimento. Esta noção permite-nos distinguir as letras das
livranças e dos cheques. Importa referir que a letra é um acto de comércio objectivo, uma vez
que estão regulados na LULL. A LULL é uma lei que veio substituir a regulação do CCom. nestas
matérias.
Para valer como tal, a letra está obrigada a respeitar os requisitos externos previstos no artigo
1.º da LULL. No entanto, embora o artigo 2.º comece por dizer que o escrito que não contenha
esses elementos não vale como letra, há três situações em que a falta de determinados
elementos pode ser suprida por outros elementos.
A primeira é a época de pagamento (modalidade de vencimento).
Há quatro modalidades de vencimento da letra: a letra pode ser pagável à vista (à
apresentação), a certo termo de vista (num prazo a contar da data do aceite ou do protesto pela
falta de aceite), a certo termo de data (num prazo contado da data em que a letra é passada) ou
em dia fixo (no dia em que se estabelece). E a letra só vale como letra se tiver indicadas uma
destas quatro modalidades de vencimento. Mas se faltar a indicação da época de pagamento
letra é pagável à vista. Portanto, não sendo indicada uma modalidade de vencimento (uma
época de pagamento), vale como letra à vista; isto é, pagável quando é apresentada a
pagamento (sendo que tem de ser apresentada nos prazos legais).
A segunda é a indicação do lugar do pagamento.
Se não for expressamente indicado o lugar do pagamento, vale como lugar de pagamento o
lugar que é indicado ao lado do nome do sacado (quem recebe a ordem de pagamento). O
problema coloca-se é nos casos em que a letra não é indicado nem lugar de pagamento, nem
lugar ao lado do nome do sacado. Nestes casos já não é possível suprimir a lacuna e, portanto, o
documento não vale como letra.
A terceira é a indicação do lugar onde a letra foi passada.
Neste caso, vale como lugar onde foi passada o lugar ao nome do sacador. Semelhantemente,
isto também tem lógica porque o sacador é quem dá a ordem de pagamento; é quem cria a
letra enquanto tal. Semelhantemente, se não é indicado nem lugar onde a letra foi passada,
nem lugar ao lado do nome do sacador, também não é possível suprimir a lacuna e, portanto, o
documento não vale como letra.
Pode dar-se o caso de ter havido um acordo de preenchimento. E nesses casos as coisas mudam
de figura. Com efeito, é necessário distinguir a letra incompleta da letra em branco.
70
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
Uma letra incompleta é aquela em que pura e simplesmente faltam elementos
indicados no artigo 1.º e não é possível suprimi-los através dos expedientes previstos no
artigo 2.º da LULL.
Porém, se houver um acordo de preenchimento a letra não é uma letra incompleta,
mas uma letra em branco.
O que se discute é o que é que é necessário que conste da letra para que ela valha como letra
em branco.
i) Tem de constar, desde logo, a palavra letra.
Mas discute-se se tem de constar alguma assinatura; e, se sim, de quem. O Doutor Soveral
Martins entende que, além da palavra letra, o documento tem de conter necessariamente a
assinatura do sacador (há autores que entendem que basta a assinatura de qualquer um dos
obrigados cambiários – avalista, endossante, aceitante – se houver acordo de preenchimento).
Isto é muito importante porque o artigo 10.º trata de casos de letras em branco em que houve
acordo de preenchimento mas esse acordo foi violado.
Imaginemos que Aldo (sacador) sacou uma letra sobre Beatriz (sacada), que aceitou a letra.
Houve elementos que ficaram por preencher, nomeadamente a quantia a pagar e a data de
vencimento da letra; mas celebraram um acordo de preenchimento da letra.
A letra foi sacada por Aldo à sua própria ordem (Aldo é simultaneamente sacador e tomador); e
Aldo endossa a letra a Clementina. Quando Clementina recebe a letra podem ter acontecido
duas coisas:
pode receber a letra já preenchida por Aldo, de acordo com o que foi combinado com
Beatriz;
ou pode ter recebido a letra ainda não preenchida por Aldo, caso em que é a própria
Clementina que vai preencher, porque o Aldo lhe diz que tem de preencher de tal
maneira porque foi assim que combinou com Beatriz.
o A questão que se coloca é a de saber se o artigo 10.º confere proteção ao
portador de boa-fé em ambas estas situações.
O Doutor Soveral Martins entende que não; isto é, entende que o
artigo 10.º só protege quando o portador que vem invocar esta tutela
já recebe a letra preenchida. Porque, caso contrário, apesar de haver
um acordo de preenchimento, o portador recebe um documento que
ainda não é letra porque ainda não está completo. E quando recebe
um documento que ainda não é letra não pode invocar a proteção do
artigo 10.º. Além disso, pode considerar-se que quem recebe a letra
sem estar ainda preenchida vai poder ver invocadas todas as defesas
que o endossante poderia ver invocadas perante si. Porque se não, ele
deveria ter perguntado aos intervenientes no acordo de
preenchimento como é que a letra deveria ser preenchida.
Negócios cambiários admissíveis
Uma letra pode conter, desde logo, o saque. E na verdade o saque é fundamental para que o
documento valha como letra: o saque é que cria a letra (é a ordem de pagamento dada pelo
sacador ao sacado). O sacador obriga-se como obrigado de garantia (não é só o aceitante que
se obriga, o sacador também se obriga, a pagar ao tomador e ulteriores portadores da letra se o
71
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
sacado não aceitar ou se, aceitando, não pagar – o sacador é um obrigado cambiário inicial,
porque cria a letra com o saqui; e é um obrigado de garantia). Mas o sacado não é obrigado
cambiário com o saque: o sacado só se torna obrigado cambiário quando aceita; e o aceite é um
outro negócio cambiário – unilateral. O aceite chama-se assim porque significa isso mesmo:
significa que o sacado aceita a ordem de pagamento que lhe é dada. E, com o aceite, torna-se o
obrigado principal. Assim, enquanto o sacador é o obrigado inicial de garantia; e o aceitante é o
obrigado principal.
NUNCA DIZER QUE O SACADO É OBRIGADO CAMBIÁRIO. O SACADO ENQUANTO TAL NÃO É OBRIGADO CAMBIÁRIO – SÓ SE TORNA OBRIGADO
CAMBIÁRIO QUANDO SE TORNA ACEITANTE – PALAVRA DO SAMU
ENDOSSO
Temos depois o endosso. O endosso pode ser realizado pelo tomador ou por um sujeito a quem
a letra tenha sido legitimamente endossada – qualquer sujeito que receba a letra por endosso
pode depois voltar a endossá-la. O endosso é uma declaração cambiária que transmite a letra
(tem uma função de transmissão do título de crédito).
Mas, ao mesmo tempo, o endossante também se obriga, perante os portadores posteriores, a
pagar se o aceitante não pagar; e obriga-se a pagar se o sacado não aceitar (a letra pode circular
antes de haver aceite – e é para estimular essa circulação que cada endossante se obriga a
pagar se o sacado não aceitar; e se não pagar depois de ter aceitado).
Portanto, o endosso tem uma função de transmissão e uma função de garantia. Há ainda uma
outra função: a função de legitimação. Com efeito, um portador mediato da letra só pode exigir
o pagamento se estiver legitimado por uma cadeia ininterrupta de endosso.
AVAL
E, por fim, temos o aval. O aval é um negócio cambiário através do qual o avalista se obriga a
pagar em lugar ou por outro obrigado cambiário: em lugar do sacador, do aceitante ou de um
endossante. Mas o avalista também é um obrigado de garantia! Todos estes sujeitos (obrigados
cambiários) têm uma responsabilidade solidária entre eles perante o portador (artigo 47.º).
Naturalmente, esta responsabilidade solidária também vai servir para estimular a circulação do
título: se todos os obrigados cambiários se obrigam a responder solidariamente perante o
portador é muito mais fácil ter o documento a circular de mão em mão, pois quantas mais
assinaturas lá constarem (quantos mais endossantes), melhor. O facto de o avalista responder
nos mesmos termos da pessoa por quem se obriga a pagar é muito importante. E é muito
importante por causa do artigo 53.º. Se o aceitante não pagar, o portador da letra deve fazer,
no cartório notarial, o protesto por falta de pagamento, previsto no artigo 53.º. Esta norma
estabelece que «se o protesto não é feito em tempo, o portador perde os direitos de ação
contra endossantes, sacador e outros co-obrigados à exceção do aceitante». A não referência
ao avalista parece levar-nos a crer que a falta de protesto em tempo leva a perder os direitos de
ação contra o avalista. No entanto, a falta de protesto também não faz perder os direitos de
ação contra o avalista do aceitante: o avalista responde nos mesmos termos da pessoa cujo
pagamento que ele vem garantir; por isso, se o aceitante responde mesmo que tenha passado o
prazo, o avalista do aceitante também responde.
Características A característica da independência recíproca das obrigações cambiárias, que
resulta do artigo 7.º LULL, significa que os vícios previstos nesta norma que afetem um obrigado
cambiário não se repercutem, depois, nas obrigações dos outros signatários. Importa notar que
72
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
estes vícios não podem dizer respeito ao saque: como é o saque que cria a letra, se a assinatura
do sacador for a assinatura de uma pessoa fictícia, por exemplo, não há letra. A característica da
abstração das obrigações cambiárias, que resulta do artigo 17.º. De acordo com esta norma, as
pessoas acionadas em virtude de uma letra, não podem opor ao portador exceções fundadas
sobre as suas relações pessoais com o sacador ou com os portadores anteriores. Por outras, isto
significa que os vícios da causa da obrigação cambiária não se repercutem na própria obrigação
cambiária perante um portador mediato de boa-fé; ou seja, o portador mediato de boa-fé não
pode ver ser invocadas, perante si, vícios que resultem das causas das obrigações cambiárias.
Quando falamos em causas estamos a falar na compra e venda, no arrendamento, na locação
que deu origem à emissão da letra. A existência de um vício a afetar essa causa das obrigações
cambiárias não pode ser invocada perante o portador mediato. Pedro compra um automóvel a
Bruno. Bruno saca uma letra sobre Pedro, para garantir o pagamento do preço. Bruno saca a
letra à sua própria ordem e depois endossa-a a Gonçalo, portador mediato. O portador mediato
vem exigir o pagamento a Pedro, comprador do automóvel, que aceitou o pagamento.
Imaginemos que Pedro diz que não paga porque o automóvel está avariado. Isto não pode ser
invocado ao abrigo do artigo 17.º ao portador mediato – o portador mediato não tem nada a
ver com isso. A chamada relação fundamental subjacente entre Pedro e Bruno (as relações
pessoais que vêm sendo mencionadas) não podem ser invocadas perante um terceiro portador
de boa-fé. Isto são vícios que afetam as relações causais. Mas os vícios também podem dizer
respeito a uma qualquer combinação verbal ou extra-cartolar (fora da letra). E aqui é a
característica da literalidade da letra a funcionar: uma convenção extra-cartolar também é
abrangida pelo artigo 17.º. A característica da autonomia do direito do portador da letra, por
sua vez, é uma autonomia do direito sobre o próprio documento: o direito que o portador tem
sobre o próprio documento não é afetado pelo que possa afetar o direito sobre o documento
de anteriores portadores. Por outras palavras, o direito que cada portador tem sobre a própria
letra, enquanto documento, não é afetado pelo que possa afetar o direito do portador anterior
sobre a letra. Esta autonomia do direito sobre a letra resulta do artigo 16.º, segundo o qual «se
uma pessoa foi por qualquer maneira desapossada de uma letra, o portador dela, desde que
justifique o seu direito, não é obrigado a restituí-la… Imaginemos que Berto saca uma letra
sobre Licínio à sua própria ordem e Licínio aceita a letra sacada por Berto. Berto endossa a letra
em branco a Víctor (não diz na letra que está a endossar a Víctor, está a endossar em branco).
Víctor, que recebe a letra por endosso em branco (sem conhecer quem é que recebe a letra),
endossa a letra em branco a Fernando. Fernando deixa a letra endossada em branca em cima
mesa; a sua casa é assaltada e um ladrão rouba-lhe a letra. Este sujeito não tem direito de
propriedade sobre a letra; mas, entretanto, aproveitando-se dos endossos em branco, faz um
endosso a Nuno, que endossa a Adérito. Adérito tem a sua posse do documento legitimada por
uma série ininterrupta de endossos: formalmente a sua posição está legitimada – ele não sabe
nada do que aconteceu antes. O que o artigo 16.º, 2.º parágrafo diz é que Adérito tem a sua
posição protegida porque o seu direito sobre o documento é autónomo na medida do disposto
no artigo 16.º.
73
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
74
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
A indicação do lugar do pagamento da letra é um dos requisitos externos (formais) da letra,
conforme resulta do disposto do artigo 1.º da Lei Uniforme de Letras e Livranças.
Em princípio, a falta dos requisitos externos referidos nesta norma tem como consequência a
não produção de efeitos do documento enquanto letra. Mas já não será assim se estiver em
causa um dos requisitos não essenciais.
Com efeito, esta é uma falta que pode ser suprida, nos termos definidos no art. 2.º, valendo
como lugar do pagamento o lugar que tenha sido designado ao lado do nome do sacado; ou, se
tal não constar da letra, o lugar designado ao lado do nome do sacador.
Assim, o documento só não produzirá efeitos como letra se, não sendo indicado o lugar do
pagamento, também não constar qualquer designação de lugar ao lado do nome do sacado
nem ao lado do nome do sacador.
Caso prático 23 – O caso da letra que ainda não era e passou a ser
Alberto, vendedor de eletrodomésticos, sacou uma letra sobre Joana, que a aceitou, para garantia
do pagamento de uma quantia em dinheiro que esta devia àquele por lhe ter comprado um
frigorífico no–frost. A letra foi sacada à ordem de Alberto, que a endossou posteriormente a
Bernardo, seu fornecedor.
Na data do vencimento da letra, Bernardo exigiu o pagamento a Joana, que recusou alegando que
a quantia nela aposta era muito superior ao que tinha sido combinado com Alberto. Na verdade, a
letra tinha sido sacada sem indicação da quantia a pagar e da data de vencimento, pois Joana
comprometera-se a fazer o pagamento da quantia em dívida em prestações.
Bernardo diz que preencheu a letra tal e qual como Alberto disse que deveria fazer. Estará Joana
obrigada a pagar a Bernardo a quantia que este colocou na letra?
Estamos perante um caso atinente às letras em branco, surgindo aqui o problema da aplicação
do artigo 10.º da LULL, que confere proteção ao portador de boa-fé.
Soveral Martins entende que o portador não tem direito a invocar esta norma quando é ele que
vem a preencher a letra; isto é, quando ele adquire a letra por preencher.
Com efeito, quando percebe que a letra não está completa o portador deve averiguar quais os
exatos termos do acordo do preenchimento; e se não teve esse cuidado não merece a proteção
do artigo 10.º. Assim, no fundo esta solução obriga os portadores a falar com as pessoas nos
casos em que recebem a letra por preencher. Na verdade, além disso, Bernardo pode ver
invocadas contra si as defesas que poderiam ser invocadas contra o endossante.
Caso prático 24 – O caso das vacas doentes
Márcio, comerciante de gado, comprou várias vacas a Godofredo. E, para garantir o pagamento
do preço dos animais, Márcio aceitou uma letra que Godofredo sacou à sua própria ordem.
Este último endossou a letra ao ferrador Gabriel, a quem devia dinheiro; e este fez a mesma coisa
a favor do talhante Ramiro. Na data do vencimento da letra, Ramiro exigiu a Márcio o pagamento
75
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
lOMoARcPSD|12188079
Direito Comercial I │Dr. Soveral Martins
da letra, mas este recusou-se a fazê-lo alegando que as vacas compradas estavam doentes e
tiveram de ser abatidas e que Ramiro sabia do estado das vacas, pois tinha ido com Godofredo
entregar os animais.
O talhante Ramiro, que realmente tinha conhecimento do que se passara e que esperava obter o
pagamento por a letra lhe ser endossada, alega que a letra lhe tinha sido endossada por Gabriel e
que este nada sabia. Será que isto basta para que Ramiro possa exigir o pagamento a Márcio?
Está aqui em causa a aplicação do artigo 17.º da LULL (abstração das letras).
Neste caso, a pessoa acionada é Márcio, o obrigado principal (os outros obrigados também
poderiam ser acionados). E a relação pessoal aqui em causa é o contrato de compra e venda
celebrado entre Márcio e Godofredo.
Em princípio, as ações fundadas em exceções que resultassem desta compra e venda não
poderiam ser apostas a Ramiro, uma vez que, sendo o portador mediato, ele é um mero terceiro
que não participa nessa relação de compra e venda. Portanto, à partida poderia dizer que não
tem nada a ver com isso.
Mas o artigo 17.º não protege o portador se este tiver «procedido conscientemente em
detrimento do devedor» (quer tivesse intenção de prejudicar o obrigado cambiário, quer tivesse apenas
consciência de que iria haver esse prejuízo e se conformasse com o resultado).
Não obstante, importa ter em conta que Ramiro diz que Gabriel nada sabia (16.º LULL)! E isto
significa que Gabriel é um portador mediato de boa-fé! Será que isto tem alguma consequência,
tendo em conta que foi Gabriel que endossou a letra a Ramiro?
A boa-fé do portador imediato de boa-fé sanaria a má-fé do portador posterior, pois, se não
tivesse endossado a letra a favor de Ramiro, Gabriel teria exigido o pagamento.
Logo, o endosso a favor de Ramiro não traz prejuízo a Márcio, conforme o princípio da
abstração da obrigação cambiária.
Além disso, como a obrigação cambiária é, de facto, abstrata ou mercenária, por ser
independente de uma causa (pode servir qualquer causa), o devedor cambiário não pode opor
ao portador mediato exceções fundadas em relações causais anteriores:
i) Nem na causa remota / relação jurídica fundamental – C & V das vacas
ii) Nem na causa próxima / convenção executiva (um outro acordo) – a combinação
do vendedor sacar a letra sobre o comprador, com certo valor e em
determinada data de vencimento
76
Downloaded by Fernando Donas-Bôtto (ferdonasbotto@gmail.com)
You might also like
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20025)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2567)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12947)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3278)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5509)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseFrom EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseRating: 4 out of 5 stars4/5 (1108)












![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)