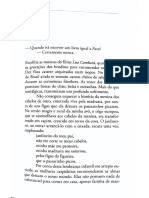Professional Documents
Culture Documents
Cristina Mello
Cristina Mello
Uploaded by
Diogenes Maciel0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views16 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views16 pagesCristina Mello
Cristina Mello
Uploaded by
Diogenes MacielCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
CRISTINA MELLO
Géneros literdrios
e leitura
no Ensino Secundario
1. Neste texto, propomo-nos reflectir sobre processos e estratégias de
representagdo dos géneros literdrios na leitura em contexto escolar.
As certezas da filologia respondem, hoje, hermenéuticas que estao longe
de acreditar numa verdade possivel. So contra a fixagao do texto num tema,
numa ideia, em palavras que o aprisionam. Em diversos niveis de ensino, &
frequente ocorrerem interpretagdes abusivas, dada a dificuldade dos leitores
penetrarem na opacidade semantica dos textos, elemento intrinseco a ficciona-
lidade literdria. Quais as consequéncias dessa tendéncia desconstrucionista no
ensino secundario? Alguns reflexos no campo da didéctica da literatura
podem ser vistos em orientagdes metodolégicas, presentes por exemplo em
instrugdes emanadas de programas oficiais de ensino ou em obras ensaisticas
que se debrugam sobre questdes da leitura, do ensino da literatura, de pedago-
gia literdria.
Maria de Lourdes Ferraz, num artigo sugestivamente intitulado «O
ensino da literatura ¢ a liglio desconstrucionista de Paul de Man», reflecte
sobre a questo do ensino da literatura na actual situagdo de reestruturagio
dos cursos de Letras, invocando a perspectiva desconstrucionista de Paul de
Man. Considera como iteis ensinamentos a abertura a leituras plurais, relati-
vizando assim 0 préprio sentido da leitura, mas reclamando, a0 mesmo
tempo, a objectividade no caminho escolhido. Pondera Maria de Lourdes
Ferraz: «nao a impossibilidade da leitura-interpretagao, mas a impossit
dade de uma sé leitura ea nao-existéncia de uma leitura verdadeira; a abertura
permanente as reformulagdes da leitura-teoria-teitura; finalmente a aprendi-
zagem de que o tinico critério (que ndo € primariamente estético) para a
ina Mello & Assstente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ess a preparar uma
dissertagio de doutoramento sobre Diddetca da Literatura, incidindo sobre tematiea contemplada no
present artigo. autora da «Introdugio~(1984)a Duas Flores de Sangue, de Pinheiro Chaguse de um livro
{de poemas, Mesade Silencio (1992).
o
apreciagao dos discursos que a literatura sugere é 0 do rigor analitico desses
mesmos discursos» (Ferraz, 1990: 144).
Por seu turno, Fernanda Bernardo, numa longa reflexdo sobre a leitura
na perspectiva de Jacques Derrida, interroga-se acerca dos pressupostos ideo-
ogicos da leitura, dizendo: «como continuar também a ignorar que a praxis da
lcitura, a simples — mas, sem divida, sem simplicidade — postura ‘diante’ de
um ‘texto’ é iminentemente (ultra)-ético-politica?» (Bernardo, 1992: 180).
Teorias menos polémicas, mas didacticamente mais promissoras, como a
estética da recepgao ea pragmatica literdria, veiculam o problema da acgio do
texto sobre o leitor, & luz de um novo quadro tedrico. Entre os dominios
actualmente convocados, refiram-se a teoria da enunciagao,a teoria do texto,
a teoria dos actos de fala, que redimensionaram o estudo da literatura,
propondo uma perspectiva nao exclusivamente estética dos textos mas extre~
mamente itil ao estudo dos constrangimentos formais dos géneros literdrios
que as obras configuram'. Completam o campo de investigacao os trabalhos
que se voltam para a leitura em situagdo, tendo em conta as operagdes
cognitivas implicadas*.
Deste modo, qualquer teoria da leitura que valorize a interacgao entre
texto e leitor, traduzida nos efeitos estéticos daquele ¢ nas respostas deste, para
ser produtiva, ndo pode desligar-se da necessidade de determinar 0 horizonte
te6rico da leitura.
Ao abordar os géneros literdrios no contexto da leitura escolar, temos em
conta algumas evidéncias: os géneros constituem um aspecto da racionalidade
da literatura e sdo de natureza convencional, contratual, pragmatica’. Deduz-
-se destes principios que as obras literarias manifestam uma determinada
configuragao dos géneros. Desde o romantismo, tendem a contrariar a orien-
tacio prescritiva das poéticas classicas, verificando-se praticas literdrias que
subvertem constrangimentos estéticos de uma determinada época, periodo,
autor, obra, sem que se possa deixar de pensar e falar em géneros literarios.
A literatura contemporanea, fértil na produgdo de todos os géneros,
solicita uma teoria dindmica dos géneros que tenha em conta as convengdes
TCE Umberto Geo: =é nesta perspectiva que a doutrina dos interpretantes aparece ligada a outras
‘oncepedes de pragmdtica, que no privilegiam tanto a estrutura semintica do enunciado, como as
funstancias da enunciaglo, a rlagSes com © co-exto, ox prestupostos que 0 interpeterealiza, ©
abalho inferencal de interpretagio do texto= (Eco, 1979: 49.50)
2 Para além da obra de Umberto Eco citada na nota anterior, que aborda esta problemitic, refeimos
‘outros contibutos: Descotes, 1990; 31-39: Orland, 1988: 587: Sousa, 1989: 45-75.
» Autores como Todorov, Genet ¢ Jean Marie Schaeffer, entre outros, veiculam eta posgio,
o
préprias de cada um, passiveis de serem modificadas em fungao de factores
diversos (cf. Soto, 1983: 593-599). O desaparecimento das fronteiras entre
géneros, a rapidez com que se modifica o seu cinone é to intensa que, no
sistema literdrio contemporaneo, nfio podemos ser categéricos quando faze~
mosa distingio entre romance, conto, novela, etc. Por isso, fala-se do romance
‘4 Saramago (como um tipo de romance de actualidade que procura inscrever-
-se na hist6ria) ou do conto brasileiro urbano (que alimenta-se do imaginirio
das grandes megalépoles), etc.
De acordo com uma perspectiva pragmatica dos géneros,¢ sob o signo da
contratualidade, ressalta a acgdo de um leitor investido na obra literdria,
potencialmente apto para descodificar os constituintes tematicos, formais ¢
arquitextuais. Mas a pragmatica nao se preocupa com os efeitos reais do texto
sobre 0 Icitor. De tal tarefa ocupa-se a estética da recepeao, que valoriza as
atitudes do leitor, 0 efeito real do texto sobre o mesmo.
As representagdes ideais seriam aquelas em que 0 leitor desse conta do
contetido semantico dos textos, que detectasse no s6 0 que é dito, bem comoa
forma como € dito, enfim, a vinculagao dos procedimentos estético-literdrios a
um determinado arquitexto*
2. A guisa de identificagao ¢ caracterizagao dos modos de representagao
dos géneros no proceso da leitura na escola, refira-se
a) na maior parte dos casos, os jovens leitores fazem leituras apressadas,
incompletas, pouco profundas;
b) a representagdo do contetido seméntico dos textos normalmente €
amparada pelo professor, mesmo quando suscita maieuticamente as
respostas dos alunos;
©) as referéncias culturais, miticas, simbélicas, filoséficas sio também
descodificadas pelo professor. que assim preenche a meméria do aluno
‘mas no substitui a sua leitura;
d)_acomplexa rede de elementos internos ¢ externos que confere signifi-
‘cago ao estilo das obras ¢ dos autores também ¢ desmontada a par ¢
passo pelo professor;
‘De acordo com a concepgio de Genet, 0 arquitexto constitu «ensemble des eatégorics générales, ov
Uusnseendantes — types de scours, modes 'énoneiation, genres ittraires et. — dont releve chaque texte
singulir= (Gevete, 1982: 7.
6
©) os conteiidos da leitura configuram uma espécie de amalgama. Diante
de situagdes de bloqueio, o aluno e o professor no podem sentir-se
bem.
Ao fim da escolaridade do Secundario e & entrada para os Cursos de
Letras, a representagiio que os alunos fazem das obras literdrias € precaria no
que ais convengdes literdrias diz respeito, incluindo as de género. O seu
conhecimento da tipologia de géneros literdrios € ndo literdrios também é
bastante sumério, E isto acontece mesmo com alunos (entre os 15 ¢ 0s 17. anos)
que afirmam let fora da escola, estando atentosa obras como O Nome da Rosa,
Memorial do Convento, Memérias de Adriano, etc., 0 que significa que a
dificuldade de apreensio, de concretizacdo, verifica-se na leitura na escola,
justamente por ser uma leitura controlada, em que professor pode testar os
conhecimentos dos alunos.
Uma das dificuldades que se pode apontar éa de estabelecer associagdes a
nivel sintagmatico € paradigmatico, operagio que exige a manipulacao de
estratégias coneretas, Uma espécie de atrofia dos mecanismos discursivos que
poem em acco a apreensio de sentidos do texto abate-se sobre o leitor e,
quando chega ao final da leitura, confunde dados, troca cenarios, os pormeno-
res significativos so relegados para segundo ¢ terceiro planos, quando nao
simplesmente silenciados, enfim, a inteligibilidade da obra é reduzida.
3. A questio dos géneros literdtios ¢ a da Icitura sio dominios que se
articulam em situago didactica, envolvem a pedagogia literaria ca da leitura,
sabendo-se a priori que os alunos demonstram muitas resistencias,
Ha mais de duas décadas ¢ um pouco por toda a parte, a questio da crise
do ensino da literatura e a concomitante crise da leitura tém sido objecto de
debate tebrico, Em Nous Enseignons la Littérature di2-se: 0 professor faz figura
de dinossauro, a leitura é sem apetite, sem prazer. os alunos Item menos que
antes, 0 nivel baixa (Boissinot, 1986: 17- 41).
Uma preocupagao nos debates em torno da leitura literdria €a questo da
motivago e do prazer de ler. E possivel destacar na extensa bibliografia sobre
esta matéria duas vertentes fundamentais: uma que se preocupa com consta-
tagio do insucesso e outra que pondera percursos, estratégias, caminhos,
aplicagdes/implicagdes, cenirios didactico-pedagogicos.
Considerando as dificuldades de leitura ¢ a necessidade de reconquistar
os alunos para a pratica da leitura activa, nomeadamente em contexto escolar,
somos levados a partilhar uma constatagdo a que chegou Germaine Finifter,
66
ao fazer um diagnéstico extremamente realista: «ils n’aiment pas lire parce
quills ne savent pas lire!» (Boissinot, 1986: 37). Se é verdade que toda a leitura
reclama um pacto, que pacto podemos estabelecer com leitores que, via de
regra, desconhecem os mecanismos semantico-pragmaticos, a dimensao esté-
tica do objecto literdrio que tém em maos? Como concretizar os protocolos de
leitura a que o leitor é convocado, em primeira instancia.
Ha que incentivar processos praticos de leitura que «obriguem»a memé-
ria a funcionar desde um primeiro contacto com o texto. Trata-se de treinaras
direcgdes do olhar, de despertar o aluno para o trabalho da leitura, com vista a
uma melhor competéncia. Ora se os alunos demonstram resisténcia a leitura, €
natural que estas assumam formas particulares. Nesta altura, ha que pergun-
tar: qual €0 efeito do texto sobre o leitor? De aceitagao, recusa, compreensio,
incompreensio, valoracao estética, ideol6gica?
Dada a natural experiéncia verbal e discursiva do leitor, mesmo 0 de
pouca instrugao é capaz de penetrar no universo dos livros, mas a situagao da
leitura escolar exige um contacto diferente com a obra literdria, exige um
pronunciamento sobre 0 contetido dos livros, baseado em conhecimentos; ha
rubricas programéticas a cumprir em nome das quais 0s alunos so avaliados*,
Uma posigao pragmatica perante o problema ea responsabilizagao do leitor, 0
seu engajamento nas actividades de leitura, com vista a cumprit objectivos
previamente delineados, para o que é preciso considerar as suas operagoes
cognitivas.
Ao aluno importa progressivamente familiarizar-se com os aspectos
semantico-pragmaticos dos textos literdrios, dominar varias tipologias discur-
sivas, de forma a tornar-se mais competente na leitura, ao mesmo tempo que
amplia o seu horizonte de expectativa. Se entendermos que a leitura activa
implica a verbalizagiio do que se lé, a competéncia discursiva torna-se um
factor fundamental de aprendizagem, pois constitui um suporte para a com-
preensio’ hermenéutica. Assim, & medida que constréi imagens das obras
literirias 0 aluno-leitor devers ir formalizando uma consciéncia abstracta dos
‘elementos constitutivos dos géneros literdrios. Pensamos que se pode conside-
rar um trabalho centrado em actividades como: ler, comparar, seleccionar,
antever hipéteses, pesquisar informagdes, enfim, actividades relacionadas
Tx propose detas questOes, nomeadiment alguns eselarcvimentos acerca das contustes metodolOgieas
aque envolvsmn letra, ver Scholes, 19
© A leitura na escola ato € alia a ste conjunto de Fatores que acaham exercendo press sobre todos 0s
{uv farem parte do process educative, sendo os alunos os mas divextamente implicados, por nem sempre
Tograrem o sucesso escolar prossequicm nos estudos.
0
com a apreensao dos sentidos do texto. Deste modo, trata-se de por em acgio
uma concep¢&o e uma metodologia da leitura como pratica interactiva em que
© leitor da os primeiros pasos, em solidao, acabando por partilhar os seus
movimentos com outros leitores.
Sabendo-se que a compreenséo é um horizonte que se forma e que
funciona de modo diferente em cada leitor, que nao se dé toda de uma sé vez,
ha que treinar as operagdes intelectuais de interaccdo com o texto, que podem
assumit diversas formas como a intuigao, a pré-compreensao, a verificagao de
hipteses e tomar em consideracdo as relagdes com 0 co-texto, as circunstncias
da enunciagao, os pressupostos ¢ o trabalho inferencial, incluindo a abdugao’.
Cremos que, na pratica do ensino, as operagdes intelectuais sAo tanto ou
mais eficazes quanto se tiver desenhado um conjunto de objectivos a perseguir
que tenham em conta, como meta final, a mudanga de atitude do aluno
perante a leitura literaria, para o que ha que reflectir sobre «objectifs centrés
sur les activités des éleves et notamment sur les opérations productives»
(Toussaint-Dekker, 1988: 157-163). Tal recomendacdo & voz corrente na
moderna pedagogia, que considera que no centro do processo de ensino-
-aprendizagem situa-se 0 aluno.
Nos anos terminais do ensino secundario (10.*, 11." 12.° anos) espera-se
que 0s alunos desenvolvam estas operagdes mentais e queremos acreditar que
tém competéncia para fazé-lo. Mas nem sempre a pratica confirma o critério
tedrico, Nestes anos, de verdadeira iniciagdo na histéria da literatura portu-
guesa, de crescente familiarizagao com os modos e géneros literdrios, tradu-
zida numa abordagem rigorosa do texto literdrio, a capacidade de atribuir €
justificar 0 sentido do que se Ié constitui competéncia fundamental necesséria
aos alunos de Letras. Importa assegurar, nesta fase propedéutica aos estudos
literdrios de nivel superior, uma progressiva inteligibilidade da natureza com
plexa da literatura, Para a realizagao deste projecto, torna-se necessdria uma
intensa pratica de leitura ¢ a concomitante reflexao sobre os procedimentos
estético-literdrios, 0 que nem sempre acontece com os jovens leitores. Nesta
fase, ndo se pretende que se ensinem os processos da leitura, embora haja
situagdes que pedem ao professor mais esta dadiva, demonstrando o modo
como ele, leitor mais experiente, rompe barreiras ou, entdo, fica «preso por um
texto sobre 0 qual ndo sabe o que dizer»
"Ver Eco, 1979 Eco, 1978: 237-238, no qual define abdugio: «como cualquier otra imerpretacion de
contextos ycircunstancas no codificados, representa el primer piso de una operacion mitalinguistica
estinada a enriquecer el ebdigo, Consttuye el ejemplo mis evidente de PRODUCCION DE FUNCION
SEMIOTICA:
Nestes niveis da leitura na escola valoriza-se a relagio afectivo-existencial
com o texto’, a experimentagio do prazer do texto. Tais concepgdes, se nlio
forem amparadas por uma metodologia de leitura, podem cait no vazio
interpretativo com resultados pouco eficazes.
As estratégias de leitura em sala de aula contemplam actividades que
também se revestem de racionalidade. Analisar é uma palavra que os novos
programas «subtilmente» pretendem banir. Mas, de facto, as actividades em
torno de um texto so de andlise (a andlise que prepara a compreensao eo juizo
critico). Entre compreensio subjectiva, feita de intuigéo, de «adivinhagao
espontdnea» ¢ compreensio objectiva, bascada em associagdes que se estabe-
lecem, se tece a teia da leitura. Tais movimentos assumem configuragdes
diversas, graus especificos de dificuldade, dependente dos objectivos a atingir
da bondade semantica dos textos.
‘A chamada leitura escolar pressupde ainda o debate, a discusséo, enfim,a
circulagdo de ideias. Das vozes que emanam no espago colectivo que é uma
sala de aula, além da voz do professor, é sabido que so poucos os alunos que
intervém com o seu contributo. As oportunidades so as mesmas, as habilida-
des nao. A atitude do aluno é normalmente de escuta. No entanto, o professor
espera a palavra dos alunos, espicagando-os. Por isso, é muito comum
somente através dos textos escritos pelos alunos (os testes de avaliagaio suma-
tiva, 0s trabalhos de casa, o teste diagnéstico, 0 teste de verificacao de leitura,
© teste formativo, ete.) 0 professor ter uma perspectiva das imagens que estes
fazem da obra literéria. Considerando as limitagdes acima expostas da leitura
eas suas implicagdes, acreditamos que um trabalho centrado nas dificuldades
dos alunos pode contribuir para 0 sucesso escolar,
4, Tendo em contaa observacao de praticas pedagégicas ea leitura de textos
diversos dos alunos do Secundério (do 8.° ao 12." anos de escolaridade),
apresentamos alguns dados acerca das representacdes que estes elaboram dos
modos ¢ géneros literdrios’. A situacdo de representacdo que se reveste de
maior «sucesso» ¢ facilidade ¢ comummente a de géneros narrativos, depen-
dente, no entanto, da complexidade semantica das obras em causa.
Maior dificuldade revelam os alunos na apreensio do discurso lirico. Tal
resisténcia tem a ver, entre outros Factores, com 0 magro espago consagrado &
, nesta medida, uma eritica de idemiieucao existent
Doubrowsky, 1966.
com o texto veriica-se ainda actual. Ver
° Trabalho que temos vindo a talizar desde o ano leetivo de 1991/1992.
poesia no curriculo escolar. Mas esta nfo deve ser a causa principal, ja que,
tradicionalmente, a poesia é considerada mais dificil do que a narrativa. A
maior espessura semantica do texto lirico exige mecanismos de leitura especi-
ficos que proporcionem o desvelamento de sentidos, da sua complexidade
tematica (Reis, 1982: 41-55), cujas estratégias operam sobretudo através das
associagdes paradigmaticas e sintagmaticas, lembrando a ligio jakobsoniana,
Quanto a nés, hd que contactar com varias tipologias de textos posticos,
dos mais monolégicos (um Sebastiio da Gama) aos mais dialégicos (um
Herberto Helder), procurando inculear uma atitude de ponderagio relativa-
mente ao cénone estético, impensdvel quando se adopta a iiltima moda em
teoria literdria,
Quanto as obras dramaticas, verifica-se alguma simpatia pelas activida-
des de representagio, a comecar pela simples leitura que valorize a dimenséo
teatral deste tipo de texto, a par de uma atengio consagrada as personagens,
nomeadamente 4 sua verosimilhanga, merecendo menor interesse aspectos
relativos a estrutura externa. Exemplificando uma situaglo ocorrida em aula,
a atribuigao de significados a personagens vicentinas como Inés Pereira (Farsa
de Inés Pereira) Isabel (Quem Tem Farelos) pela adesio as obras, sobretudo
os ingredientes do cémico e sua fung&o ideolégica, suscitou respostas muito
adequadas.
Das componentes dos géneros mais apreendidas podemos apontar algu-
mas que nos parecem ser as principais, como 0 conteiido semantico, com uma
certa diversidade de respostas, verificando-se maior heterogeneidade, fluideze
grandes indecisées na captagdo de tragos formais ¢ elementos técnico-
-compositivos ¢ retérico-estilisticos. A excepgiio de personagens ¢ temas, no
que diz respeito narrativa © ao drama, a previsio das respostas é extrema-
mente variavel, Maior dificuldade revelam, neste aspecto, os alunos do nivel
Unificado, A questio das respostas possiveis parece-nos constituir assunto
polémico, pois a expectativa é sempre apoiada em perspectivas tedricas ¢
metodolégicas, nem sempre convergentes. Na nossa opiniao, um handicap
visivel & a dificuldade de dialogar com o texto, para o que se requerem
capacidades discursivas, de gindstica mental ¢ verbal.
Alguns autores consideram didacticamente eficazes préticas de leitura
que abordam os lugares estratégicos dos textos literérios. No caso de géneros
narrativos, estratégias ha que seleccionam, por exemplo, o incipit de varios
textos, os quais sto objecto de uma leitura que procura identificar, através de
determinados pressupostos semisticos, auxiliados por operagdes intelectuais
que temos vindo a referir, elementos caracteristicos de uma determinada
matriz de género (por exemplo, a do romance realista ¢ naturalista). As
”
estratégias didacticas em torno dos incipits textuais parecem-nos pouco fecun-
das se nfo se tiver em conta a pratica da leitura integral. Se adoptada em
exclusividade e tendo em vista a escassez de tempo para a leitura integral, tal
estratégia pode correr o risco de diminuir ainda mais 0 contacto do estudante
com as obras, de pouco Ihe servindo a configuragio de esquemas narrativos.
Esta perspectiva é muito frequente no ensino da literatura em Franga (lugares
estratégicos do texto, como titulo, subtitulo, epigrafes, prefiicios, incipits, ¢
mesmo outros elementos, como badanas, contracapas, cte., sao objecto de
renovadas praticas de leitura). O objectivo é, para além da jd mencionada
configuragaio de esquemas narrativos, colocar o estudante em contacto como
objecto livro, na sua totalidade semiética. A partir destas zonas limiares
(sewils, como Ihe chama Genette)!" é suposto que tais movimentos de leitura
despertem nos leitores 0 desejo de empreender outras leituras, entre as quais,
as tradicionalmente praticadas (ver Verrier, 1988 e Boissinot, 1986: 149-151).
Relativamente ao texto narrativo, a consciéncia estruturante € mais noté-
ria, se bem que as relagdes internas nem sempre sejam levadas a cabo integral-
mente e se verifique uma percepgao parcelar: 0 aluno aprecia uma obra porque
identifica-se com uma personagem (Joaninha das Viagens na Minha Terraé um
aso tipico), mas nem sempre é capaz de verbalizar o sentido da adestio, o que
nos parece fundamental. Mesmo aceitando a identificagao afectiva (assunto
que nao é pacifico) com personagens, temas, situagdes, comportamentos, &
preciso verbalizar esta relagio, nao esquecendo que linguagem que funda os,
mundos artisticos e que pode servir de deleite ao homem € veiculo de comuni-
cago humana, que a escola tem responsabilidade de instruir''.
A titulo de exemplificacdo das perguntas do leitor ao texto literario, de
matriz narrativa, consideremos 0 comego do romance O Crime do Padre
Amaro, de Ega de Queits":
Foi no Domingo de Pascoa que se soube em Leiria que 0 piroco da Sé, José
Miguéis, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O paroco era um
homem sanguineo e nutrido, que passava entre o clero diocesano pelo “comi-
WTtulo do seu tro de 1987
On peuten conclure qu'un dialogue critigue qui méne un jugement de valeur ne pourea se passer d'une
argumentation, Celli sera surtout valable si elle se fonde sur des erteresexpliciés et lustrés & aide
‘Sexemples pris dans le texte, (Toussant-Dekker, 1988: 158)
"2 Embora aqui se tate de experitnciae realizadas no Ensino Secunditio, recorremos a esta por nds
realiza no imbito da discipline de Introdugio aos Estudos Literitios, que lesciondmos na Universidade
de Tris-0s-Montes¢ Alto Douro, no ano lectivo de 1986/1987,
n
io dos comilées’. Contavam-se histérias singulares da sua voracidade. O
Carlos da Botica— que o detestava — costumava dizer, sempre que o via sair
depois da sesta, com a face afogueada de sangue, muito enfartado:
— Lé vai a jibéia esmoer. Um dia estoura!
O fragmento transc: de elementos que pdeem accdo
um horizonte de expectativa. A partir daqui, o leitor poderé empreender um
percurso de interpreta¢do, tendo em atengao elementos como o espaco fisicoe
social, focalizago narrativa, posigdo ideoldgica do narrador, etc. O prosse-
guimento da leitura ird preencher a expectativa inicial, confirmando ou nao os.
ressupostos interpretativos desencadeados logo pelo titulo, que esboga a
possibilidade de tratar-se de um romance de personagem,
Evidentemente que as pistas que professor possa dar (pontos de apoio
em determinadas zonas do texto) nao recobrem unicamente a sintagmatica
nartativa. Outras implicagdes surgem no percurso: de cardcter semantico,
estilistico, pragmatico, etc, Neste aspecto, uma «baterian de questdes, objecto
de pesquisa, poderd ser facultada ao aluno, que tomar4 a iniciativa de
informar-se para ajudar o texto a funcionar, como diz Umberto Eco.
Quanto a nds, a utilizagio da estratégia didactica de andlise dos incipits
textuais constitui sobretudo uma forma de motivagdo A leitura integral, um
ponto de partida.
Tendo tido oportunidade de acompanhar o estudo da obra Frei Luis de
Sousa de Almeida Garrett,” observamos, inicialmente, uma operagao de
contextualizago no curriculo da disciplina. A seguir, os alunos reconstruiram
© percurso das personagens, iniciando as actividades de identificagdo destas,
explicitagaio das suas miituas relagdes, compreensdo da sua representatividade
semantica e do simbolismo trégico. Os aspectos ideolégicos foram aqueles que
mais despertaram a atengao dos alunos, o que motivo um debate em torno da
tematica do Sebastianismo na cultura ¢ na historia portuguesas.
No que diz respeito a recep da poesia, refira-se um trabalho de campo
centrado na realizagao de experiéncias de leitura, 4 margem das actividades
Tectivas, da obra Orfeu Rebelde, de Miguel Torga, no 12.° ano de escolaridade.
Uma das experiéncias decorreu apés o estudo da poesia de Miguel Torga
(rubrica consagrada no programa da Literatura Portuguesa ainda vigente e
anterior a nova reforma curricular). Os alunos fizeram uma apreciagio nfo
orientada de diversos aspectos da obra, apreendendo temas, elementos da
linguagem, aspectos estilisticos, referencias miticas ¢ simbélicas, etc. Oconhe-
‘Numa turma de 1
‘ano de Humanistices de uma escola seeundria de Coimbr
n
cimento desses alunos acerca da obra de Miguel Torga, nao sendo profundo,
mas tendo sido «adquirido» pouco tempo antes do inicio da leitura da obra
escolhida, revelou-se importante para a «feliz experiéncia de leitura», de
acordo com a opiniao dos mesmos ¢ dos professores que acompanharam 0
trabalho realizado sob nossa orientagao.
Uma outra experiencia de leitura com a mesma obra decorreu antes do
inicio do estudo, em aula, da poesia de Torga, tendo os alunos sido convidados
a referirem a tematica dos poemas, operagio que consideram muito dificil e
que os obrigou a ler a obra varias vezes. A dificuldade de apreensao dos temas
confirma a especificidade que Carlos Reis refere acerca da «informagao temé-
tica» —a sua feigao abstracta ¢ ampla irradiago (Reis, 1982: 42-43), o que, em
parte, justifica as indecisoes interpretativas dos alunos. Numa segunda activi-
dade, e tendo em conta temas que consideramos recorrentes (a criacao pottica,
a figura do poeta, a reflexio ontoldgica, a vida, a morte, etc.), 0s alunos
procuraram identificé-los ao longo da obra, verificando-se ainda uma hetero
geneidade de respostas, algumas inaceitaveis. Desta feita, também considera-
ram a experiéncia de grande utilidade, independentemente da adesiio aos
poemas e ao poeta e apesar das limitagdes que sentiram, o que nao podemos
deixar de relacionar com o seu nivel de conhecimento acerca da obra e da
figura literdria de Torga aquando da leitura do livro Orfew Rebelde. Refira-se
ainda que somente alguns conheciam 0 Didrio e alguns contos contemplados
nos programas de Portugués do 7.° € 8." anos. Evidentemente que, se estes
alunos tivesem realizado a leitura da obra em causa apés 0 estudo orientado de
Miguel Torga na escola, os resultados seriam diferentes. Mas neste trabalho de
pesquisa da recepsio da literatura no Ensino Secundario, éimportante auscul-
tar diferentes experiéncias.
O confronto entre os resultados das duas situagdes demonstra a impor-
tancia que © horizonte de expectativa assume na leitura, 0 que nos leva a
verificar que esta actividade na escola deve preparar o leitor empirico para
realizar-se como leitor modelo, a fim de que as estratégias textuais concretiza-
das, se traduzam em situagdo de «condigdes de felicidade textual», de acordo
com as concepgées de Umberto Eco, (1979: 65 ss).
5. Relacionemos ainda a questo da leitura com a do sucesso escolar. Varios
cenarios ocorrem na pratica pedagégica, podendo-se apontar como mais
frequentes: a situagao do aluno que tem uma razoavel competéncia linguistica,
literdria e cultural, o que the permite «viajar sozinho»; ado aluno que também
tem competéncias mas nao habitos de trabalho intelectual e, consequente-
a
mente, no sabe como proceder e, finalmente, a do aluno que demonstra
limitagdes em todos estes aspectos.
Apesar dos elementos que temos vindo a constatar em observagdes de
Praticas pedagégicas ¢ na leitura de escritos dos alunos, cremos que ainda é
prematuro tirar conclusdes acerca da leitura como prética interactiva porque
na pritica do ensino hé muitos percursos, justamente em fungao do heterogé-
neo perfil do leitor que temos vindo a esbogar'
De facto, qualquer professor tem, na sua meméria de mestre que pretende
promover a inteligéncia do aluno, a perspicécia c a sensibilidade, a lembranga
de situagdes diversas: dos amantes da literatura e que péem em acgo essa
relacdo afectiva, cumprindo, ao mesmo tempo, os objectivos da leitura esco-
lar; dos amantes da leitura, mas que resistem ao ritmo do calendario escolar e
aos contetidos programéticos, nomeadamente as obras que no podiam
escolher.
© professor, mesmo quando nao consegue romper barreiras ¢ resistén-
cias, ndo deixa de dar o seu testemunho pessoal para uma importante vocagao
pedagégica da escola — a de contribuir para a formag&o humanistica do
individuo. A relago como livro felizmente que nao se limita ao espaco de um
ano lectivo ea vida pode levar o leitor resistente, passado tempo, a gostar de
ler. Se aflorémos 0 percurso do professor, foi com o intuito de relativizar a
questo do insucesso, pois ele nao é 0 tinico educador nem um «propagandista
da literatura a toda a forga». As pessoas tm o direito de recusar. Por outro
lado, o simples facto de 0 aluno ser um leitor assiduo fora da escola, nao é
garantia de sucesso escolar na disciplina de portugués e na abordagem das
Obras literdrias, assim como o sucesso escolar ndo é, de modo algum, atestado
de cultura literaria, O que fica nos leitores da relagao com os livros sio coisas
extremamente dificeis de identificar, mensurar, e apenas pode dizer-se que a
frequentagao dos livros é prova de cultura.
A elaboragdo de actividades por parte do professor para levar a cabo as.
operagdes produtivas surge todas as vezes que se pensa num novo texto, o que
torna invidvel receitas sobre como ensinar 0 conto, 0 romance, a novela, a
poesia trovadoresca, os Sermdes de Vieira. No entanto, porque a literatura é
um sistema semidtico, nfio nos afastamos da sua capacidade de comunicacao
¢, por isso, defendemos uma didactica dos géneros literarios suportada meto-
dologicamente pela pragmética e estética da recepcdo, o que significa que o
leitor é «obrigado» a situar-se no universo dos textos, reagindo com respostas
Vt que ter em conta ain
sspoeto quc lo tratamos neste
situayo do professor (Formagio cientifica,experiéncia pedagigicd ee)
4
diversas: o gesto de interpretar, a situagao da fruigdo, etc. Assim, a pouco
€ pouco, o leitor adquire uma capacidade discursiva que se reflecte no &
vontade diante da obra literdria, no renascer da empatia, por vezes ausente da
leitura escolar, e no prazer que experimenta em explorar os seus « mundos
possiveis»'s. A tudo isto ndo sto alheias as operagdes de leitura, materializadas
em actividades diversas e apoiadas por instrumentos de leitura. Se concorda-
mos com Fidelino de Figueiredo quando diz que: «ler é uma técnica ¢ uma
arte» (Figueiredo, 1941: 194) entendemos que recomendagdes de tarefas gené-
ricas como ler, interpretar, analisar, comentar, trazem resultados que, nem
sempre, satisfazem os professores de todos os niveis de ensino, incluindo o
superior.
A questao que os professores dos anos terminais se colocam, acerca das
competéncias que os alunos devem possuir & entrada para a Universidade, é
possivel responder, situando-nos em relagio as instrugdes do Programa de
«Portugués A», quando considera como uma das finalidades desta disciplin
«proporcionar a aquisigao de métodos ¢ técnicas que reforcem ou permitam 0
dominio das operagdes intelectuais inerentes & pratica do discurso ea reflexo
linguistica e estético-literaria»*, Segundo os conselhos de Umberto Eco, pode-
riamos referir a urgéncia de uma especial disponibilidade para fazer «passeios
inferenciais» (certamente trabalhosos) mas sobretudo a consciéncia de que a
obra literdria é uma singularidade extremamente complexa e séria, cuja fre~
quentagio é importante para o individuo em diversas dreas ¢ momentos da
vida.
A didactica do professor, nesta perspectiva, privilegia uma articulagao
entre o conhecimento cientifico da literatura e os modos de apreensao na
leitura da sua expresso multiforme.
Reconhecemos, nestas consideragdes sobre processos mentais ¢ estraté-
gias didacticas de representagao dos géneros literérios no processo da leitura
escolar, algum idealismo, pois o percurso do professor, em termos cientificose
on pose Fexistence d'un ensemble d'objectsabstaits appelés «mondes possibles», qui feprésent ls
iférets cats de choses possible, ou les differents hstotes de mondes possibles> (Putnam, 1981: 37), Ver
também Reis; Lopes, 1987: 236-238.
15, Pormpués. Organizaedo Curricular Programos. Ensino Secundério, Lisboa, DGEBS-Direcso Geral
‘dos Ensino Basico ¢ Seeundirio, p. 2.
8
pedagégicos, sendo certamente mais facil que o do aluno, nem sempre se
realiza a contento, mesmo quando detecta dificuldades e sabe como supri-las”
Nesta reflexio perfilhamos uma pedagogia do ensino da literatura que
implica um modo nao individualista de estar no ensino. Implica a troca de
experincias, 0 didlogo de varias vozes, a produgio, circulagao e discussio de
materiais didacticos, numa perspectiva de projectos levados a cabo por profes-
sores € alunos.
‘Esta questo tem a ver com stuasio profs
ional do professor e outros fctores de ordem sociologic,
6
Referéncias bibliograficas
BERNARDO, Fernanda (1992) — «O dom do texto. A leitura como escrita. O
programa gramatolégico de J. Derridan, in Revista Filosdfica de Coimbra, 1
(Marco de 1992), Coimbra, Instituto de Estudos Filos6ficos da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra.
BOISSINOT, Alain et alli (orgs.) (1986) — Nous Enseignons la Littérature, Paris,
Syros.
DESCOTES, Michel (1990) — «La lecture méthodique: un probleme de répresenta-
tions?», in Le Francais Aujourd hui, 90 (Junho de 1990), Paris, Hachette/
Marousse.
DOUBROVSKY, Serge (1966) — Pourquoi la Nouvelle Critique, Paris, Mercure de
France.
ECO, Umberto (1978) — Tratado de Semiética, Barcelona/México, Lumen/Nueva
Imagem,
ECO, Umberto (1979) — Leitura do Texto Literdrio. Lector in Fabula, Lisboa,
Presenca.
FERRAZ, Maria de Lourdes (1990) — «O ensino da leitura ¢ a ligao desconstrucio-
nista de Paul de Man», in Coléquio/Letras, 100, Lisboa, Fundagao Calouste
Gulbenkian.
FIGUEIREDO, Fidelino de (1991) — Ultimas Aventuras, Rio de Janeiro, Empresa A
Noite.
GENETTE, Gérard (1982) — Palimpsestes, Paris, Seuil.
ORLANDI, Eni Pulsineli(1988)—«O intligvelointerpretével eo compreensivels,
in Regina Zilberman e Ezequiel Theodore da Silva (orgs.) —Leitura,Perspec-
tivasInterdisciplinaes, So Paulo, Atica,
PUTNAN, Hilary (1981) — Raison, Vérité et Histoire, Paris, Minuit
REIS, Carlos (1982) — «Tema e Leitura Critica», in Construgao da Leitura, Lisboa,
INIC/CLP.
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. (1987) — Diciondrio de Narratologia, Coim-
bra, Almedina,
SCHOLES, Robert (1991) — Protocolos de Leitura, Lisboa, Ed. 70, cap. I.
n
SOTO, Alfonso Ruiz (1983) — «Una teoria dindmica de los géneros literarios y no
literarios», in Miguel Angel Garrido Gathardo (ed.) — Teoria Semistica,
Lenguage y Textos Hispdnicos, vol. 1 das Actas do Congresso Int, sobre
‘Semistica e Hispanismo, em Madrid (20-25 de Junho de 1983), Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
SOUSA, Maria de Lourdes de (1989) — «Ler na Escola, in Fétima Sequeira et alii
—0 Ensino-Aprendizagem do Portugués. Teoria e praticas, Braga, Univer
dade do Minho, Centro de Estudos Educacionaise Desenvolvimento Comunitario,
‘TOUSSAINT-DEKKER, Alida (1988)—«Théories et pratiques de l'enseignement de
la littérature, in Le Francais dans le Monde («Littérature et enseignement. La
perspective du lecteur»), ntimero esp. (Fev./Marco de 1988), Paris, Hachette.
VERRIER, Jean (1988) — Les Débuts de Romans, Paris, Bertrand/Lacoste
®
You might also like
- (1933) Oduvaldo Vianna - AmorDocument67 pages(1933) Oduvaldo Vianna - AmorDiogenes Maciel100% (1)
- Cbtij Revista Teatro para Criancas No Recife Ano 19391Document18 pagesCbtij Revista Teatro para Criancas No Recife Ano 19391Diogenes MacielNo ratings yet
- LISBOA - Cadaveres AdiadosDocument12 pagesLISBOA - Cadaveres AdiadosDiogenes MacielNo ratings yet
- Onde Canta O Sabiá - Gastão Tojeiro-1973Document47 pagesOnde Canta O Sabiá - Gastão Tojeiro-1973Diogenes MacielNo ratings yet
- A Modelação - Peça em 3 Atos-Virginius Da Gama e Melo-1966Document48 pagesA Modelação - Peça em 3 Atos-Virginius Da Gama e Melo-1966Diogenes MacielNo ratings yet
- Teatro Do PovoDocument15 pagesTeatro Do PovoDiogenes MacielNo ratings yet
- Lucia Helena - Personagem FemininaDocument16 pagesLucia Helena - Personagem FemininaDiogenes MacielNo ratings yet
- Terra Roxa e Outrs Terras - 20 Jan 1926Document1 pageTerra Roxa e Outrs Terras - 20 Jan 1926Diogenes MacielNo ratings yet
- Hipólito - Sonia CoutinhoDocument10 pagesHipólito - Sonia CoutinhoDiogenes MacielNo ratings yet
- Tigrela (1977) - LygiaDocument7 pagesTigrela (1977) - LygiaDiogenes MacielNo ratings yet
- Antoine Compagnon - O AUTOR PDFDocument26 pagesAntoine Compagnon - O AUTOR PDFDiogenes MacielNo ratings yet
- Lua-Ronaldo C de BritoDocument17 pagesLua-Ronaldo C de BritoDiogenes MacielNo ratings yet
- O TEATRO PLANETÁRIO de A VERDADEIRA ESTÓRIA de JESUS A Apropriação Do Imaginário Sociocultural Dos Anos 1970 Por W. J. SolhaDocument109 pagesO TEATRO PLANETÁRIO de A VERDADEIRA ESTÓRIA de JESUS A Apropriação Do Imaginário Sociocultural Dos Anos 1970 Por W. J. SolhaDiogenes MacielNo ratings yet
- Offenbach No Rio A Febre Da Opereta No BDocument14 pagesOffenbach No Rio A Febre Da Opereta No BDiogenes MacielNo ratings yet