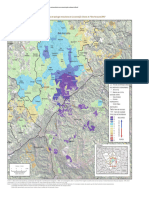Professional Documents
Culture Documents
INTRODUÇÃO À ÉTICA FILOSÓFICA 1 - LIMA VAZ
INTRODUÇÃO À ÉTICA FILOSÓFICA 1 - LIMA VAZ
Uploaded by
pliniolucascatalan70 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views36 pagesOriginal Title
INTRODUÇÃO à ÉTICA FILOSÓFICA 1_LIMA VAZ
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views36 pagesINTRODUÇÃO À ÉTICA FILOSÓFICA 1 - LIMA VAZ
INTRODUÇÃO À ÉTICA FILOSÓFICA 1 - LIMA VAZ
Uploaded by
pliniolucascatalan7Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 36
LECAO FILOSOFIA
—UFMG
tho —PUC-Rio
Fernando Eduardo de Barres Rey Puente — UFMG.
Fi
-UNISINOS
= FAIE
lo Perine — PUC-SP.
Ayo APUS T
TTRODUGAO
na
de massa, E evidente, por outro lado, a deterioracio seméntica
jermo nessa sua migracio incessante por tantas formas diferentes
sobre Buea que se pretend filesdfico
a definir assim, em
aro suas investiga-
Piimeira aproximacio, 6 abjeo 20 qu
Be suas reflexdes, bem como a caracterizar a natureza e a ext
jecer of limites do tipo de conhecimento a ser praticado no est
a Elica, Essa a tarefa que nos propomos levar a cabo nesta
_ Dnas questOes fundamentais aqui se nos apresentam: a primeira
mais histérica, a segunda de cunho ao mesmo tempo his
Ho) ¢ tbvca. A primeira dia respeto as origens lingisticas do te
Biica, & sua wanscricio na p
s6fica grega, ¢ ao rico cor
Adicio. A segy
oséfica or
individual e social que passa a ser designad:
p, © que desde os primeiros passos da cultura ocidental
ESCRITOS DE FILOSOFIA Iv
Interrogacio prévia sobre a possibilidade bu
como pretendemos venha a ser o discurso deste livro. feces
ese eons atta aces
faa lolstent aisenoale canine fas sie eee
sre Be i at ev atid pes
Pel ens A penser pos ar ee
titulos de rua valde teiricae de sua necessidade histoea nee von
atuais, ae
parece exprimir lum aspect diferente da conduta humana em suas
da moralidade interior, a segunda significando 0 campo classico d
¢ticidade social e po a. ee
Considerados, porém, em sua procedéncia etimol
os casos, talvez seja preferivel m
, ferivel manter ess sino-
mia de origem e empregar inliferentemente os termos Een
joral para designar © mesmo objet. A tentatva de conterinihes
strom 4 separacio
© geralmente, & cisio entre
indiduo e sociedade ou entre vida no espago private ¢ vies no
Examinemos
mo Etica, herds
da lingua grega. No uso vulgari-
ca (ethike) € um adjetivo que qui
ido de saber que Aristételes foi, de resto, o prime
EXTROPUGAO ee
“yo. definir com exatidio. Assi
- pragmateia (Aristoteles usou ig}
= Mel. Mi (alpha elatton), 1, 993 b
“como o exerciio constante das vi
gio da investigagao ¢ da refle
surge a expressio aristotélica ethike
ente 0 termo praktke philasophia,
98}, que podemos traduzir seja
irudes morais, seja como 0 exerci-
tddieas sobre os costumes (era)
Posteriormente, a parti prOvavelmente ji da Primeira Academia
(ee. WV ah, segundo 0 testemanho de Xenderates (fk 1), 8 ade
[hos athe, loge e physke passam a qualificar cada wa as tes partes
c é dWvidida a Filosofia concebida como ciéncia (episthene)
as qu: i
= ogica, Fisica © Etica (loge, plysite, etl), divsio que perdura até
“© 6 século XVIII d.C. Lentamente adjetivo se substantiva, dando:
| Nitlingun ootca prea, ate proce do subsantvo tho, que
eceber duas grafias distintas, designando matizes diferentes da
-gnesina realidade: ets (com eta inicial) designa o coujunto de cos
| Ames normativos da vida de um grupo 10 passo que ethos
“\com epsilon) refere-se & constincia do comportamento do indlividuo
vida é regida pelo ethos-costume'. E, pois, a realidad historico-
Jal dos costumes e sua presenca no comportamnente dos indivi
‘que € designada pelas duas grafias do termo ethos. Nesse set
ind prevalecer na linguagem filos6fica, ethos (eta) € 2 trans
jigem as disciplinas hoje conhecidas como Logica, Fisi
que
i¢ao metaforica da significacio original com que o vocab
ppregado na lingua grega usual ¢ que denota a morada, covil
{yrigo dos animais, donde 0 termo moderna de Biologia ou estado
do comportamento animal. A transposico metaforica de ethos pat
mindo humano dos costumes extremamente significativa € €
bre as condi-
oe
= Frito de uma inwicdo profunda sobre a natureza e s
fs de nosso agir (praxis), ao qual ficam confiadas a edificacao ¢
svagio de nossa verdadeira residéncia no mundo como seres
Wieligentes ¢ lives: a morada do ethos cuja destruicio significaria 0
@ todo sentido para a vida propriamente humana.
‘ed, 1993, pp. 12-14. Observes,
1s diferentes no indo-europelt €no
apresenta uma
wologicamente
corresponde a0
mais rica,
loga A do termo ético (a). Ei
a raiz de moralis € 0 substantive mos (mores)
greyo atlas, mas é dotado de uma polissem
Mas jé desde a época classica, morals, como substantive ou ad-
jetivo, passa a ser a taducao usual do grego sthike’ © es
transmitide ao lati
tardio e,
valecendo seu emprego tani
partes da Filosofia’ ou qu: fi
4 fica com a
expresso Philosephia moratis, hoje vulgarizada nas diversas I
ocidentais, quanto simple:
nossa linguagem corrente.
‘almente, a0
‘nte como substantivo", como Moral em
Yemos, assim, que a evolucio sen
ica paralela de Eta © Moral
no denota nenfiuma ciferenga
Siniicatva enue eses dois ermos, ambos dsignando fundamen:
imente 0 mesmo objeto, a saber, seja 0 cxtume socialmente onside.
rad, seja 0. tuo de agir segundo o
> pela sociedad.
ap
me estabe-
de es, seguindo wn ode
tad, dejo; b. condute, 3
i, contuetud), ver Tomas de Aquino,
Referindo-se a ethite diz M. T. Cicero: sol det augentem linguam
Ref as goes Einguam fatinarn
sola 102, 4; Ep. 89): (Stee) phlaphive ies parts ea divert
an. Santo Ags
ico medi
Lillo sta doce, quid edo
INTRODUGEO ae
A tent recente de atribuir matizes diferentes a Etica €
‘Moral para designar o estado do agit humano social e individual
lecorse provavelmente do crescente teor de complexidade da socie-
rderna c, nela, da emergéncia do individuo, pensado ori
“Gigncia politica’, a filosofia moderna pressupde uma nitida distin-
{elo ou mesmo tima oposicio entre as motivagdes que regem 0 agir
“Go individuo, impelido por necessidades e interesses, € 08 objetivos
dade politica, estabeleci ativo de sua
ervagao, fortalecimento € progresso, Foi provavel-
ectval formado sob a influéncia dessa distinea0
‘ihe @ significagio do termo Moral refluiu progressivamente para 0
“iprreno da praxis individual, enquanto o termo Etca vit ampliarse
iii campo de significacio passando a abranger todos os aspectos da
social, seja em suas formas h empiricas, das quais se
peupiamn ‘tnologia e Antropologia cultural);
jsem sia estrutura teorica, da gual, segundo pensimos, deve
ento hegeliano de unifiear, numa supe
J Filosofia do Espirito objetivo, praxis individnal © praxis social ©
ifica, reintegrando num campo mais abrangente de si 4
© Meal, nao encontrou herdeiros & altura das suas ambicSes
.de do agir, enquanto Fica aponta preferentemente para
istérica ¢ social dos costumes’, Tal o matiz seméntico
istinguir, na linguagem contemporanea especializada, |
ia Nic, I, 2, 1004 a 25:27,
‘AS fonts do Sof (ts
“aisiniemente plas PUF (ver bi
conougio die
theory, designac
"0. No Lesion doy Ethik de O. Hoe
ESORITOS DE FILOSOFIA IV
Embora em nosso texto 0s dois rermos ocorram em sua sino-
nimia original, damos preferéncia a0 termo Etica, em seu uso subs
antivo out adjetivo, de acordo com a precedéncia histrica reivin-
dicada pelas pr as do ico sabre 0 ethos
que a wadicio consagrou com ¢ vocibulo Etica © termo. mora
substantivo ou adjetivo, comparecera também em expresses jé fix
das pelo uso, como "consciencia moral",
“norma da moralidade’
Essa pequena incursio etimolégica permite-nos tentar, atenden-
do. jo semantico do termo, uma primeira definigao da
Erica, que se pretende apenas uma resposta & questio quid nominis.
A wansicao da intencao significante de ethos do dominio animal para
© doi ano teve lugar no curso da complexa transformagio
da cultura grega arcaica, da qual se originou a cultura conhecida
como ckissica, Podemos supor que um dos motivos te6ricos profun-
dos dessa transicao foi a impossibilidade de abranger e compreen-
der, & luz do incipiente logos demonstrativo, sob o mesmo conceit
univoco de physis 0 mundo humano € o mundo das coisas. As pecu-
liaridades do agit humano, designado com o nome especifico de
praxis, nio permitem pensilo em homologia esirita com © movi
mento dos seres dotados de uma physis especifica. Nesse sentido o
termo ethos, transposto para a esfera da praxis, acaba por exprimir a
versio humana da physis, ¢ assim 0 entendeu Aristoteles ao interpre-
tar 0 «thos no homem como o principio que qualifica os habitos
(hexeis) 0 les (areiai) segundo os quais o ser humano age de
acordo com sua natureca racional’. A distingao essencial entre physis
€ ethos é a que vigora entre a necessidade que reina nos movimentos
da physis ea freqiiéncia ou quasenecessidade que caracteriza, pot meio
dos hdbitos, 08 atos de acordo com o ethos"
Soave, v. bibliog) a qualidade da vida ica € denominada moralidade (O. Hiffe,
pp. 225.228).
9. Ver 0 tratado sobre os hibitor em gral na Summa Theil, 1a 2a. 4,49; hte
«nature (ID, q. 5L a. 1c); sobre O halite a virtue sen, Etca Nie, Uy
ko comentivio de R.A, Gasbien]. ¥. J
pp. S115,
Diz Aristteles: “O Ditbito & cemelhante & naturcea (physe): a matureza &
do ‘sempre’ (ae), 0
187007.
Transposia, pois, para 0 mundo da pais humana, a pls ¢
ahs Nexstencia ido athos é uma evidéncia primitiva e indemonstravel
| Gtornase, assim, principio primeiro da demonstracio na estera do
[2 fg humano, ob a forma Io do
“J iwnecimento pritico: Borum fa
= ‘radu a natureza normativa ¢.prescritiva do ethos qv
vila e arcena a bondade do agit do ponto de vista da sua necess
| fia insercio num contexto historico-social
Naprimeira tentativahist6rica de interpretar 0 ethas segundo os
= anones da Razio, que teve lugar na filosofia grega cléssica, dois
modelos teéricos se apresentaram, ambos send
jinentes estruturais da cultura grega tal como vinha se formando a
parr do perfodo arcaico: 0 ethos na sociedade sob a forma da ld
= Ghirmas) ¢ 0 ethos no individuo sob a forma da virtude (arte). Dessas
| has versoes do sthes proceciem as duas disciplinas ja bem definidas
sy enciclopédia aristotélica e que até hoje part
axis Ftica e Politica, unificadas, segundo Aristétele
” pela unidade objetiva do ethos.
Jo expressio de com:
phorado segundo regras ou segunel légica pecu
jmeiro uso adjetivo do termo qualificava justamente, em Aris
(ds, una forma fandamental de conhecimento,contraposta 205
yahecimentos tedrico € poiético. O objeto i idad
We se apresenta a experiéncia com a mesma evidencia inquestionsvet
m os seres da natureza. Realidade humana por
dual € que, com profunda inti
egos designaram com 0
€ a ciincia
que se
Jéncia,
1¢ de ethos. A Etica, portanto, nominalmente defini
nas, Nessa breve e simples defini¢do esto implicitos problemas
Jexos, seja epistemoligicos, no que diz respeito a0 sujeta, isto € A
1094 2 2) oe
TLC. Lima Vaz, Ector de Plowrfia It Btica e Cultura, op. cits pe:
ca, V1 (2), 1, 1025 b $1026 a 83.
——__BScHITOS De FILOsoFTA ty
ionciay seja ontol
ixieos no que diz respeito ao objeta, isto 6, 20 ethos.
Serio esses problemas que vio constitin alinal campo da inves
tele: Teflexao e sistematizagio desse saber que a tradieao
me de Etica on Moral
| consagrou com 0 n
AOS fildsofos gregos,
Rar uulteio com os mais altos conceitos aos quals se elemes
Razio, como o Fim, o Bem e o Ser, nao deixavem did, quanto
wea ea Liat do saber ético. Na cultura contemporanen po
rém, a tendéncia a conferir a Ltica 0 estannto de uma Ciéacia humana
yeunds especifcamente para a descrigdo dos axpecton empiricos e
implicam em seu contetido semantico 0 conceit fimdamental de
jbem" (agathon), que sera o eixo conceptual em torno do qual se
construirdo os grandes sistemas éticos da tradi¢ao ocidental. Sendo
0 ethos da cultura grega © que primeiro se presto a uma wansp.
sao racional na forma de uma Erica, os termos basicos da linguagem
étiea dos gregos passim a ser um indice heuristico importante para
gue termos equivalentes se descubram na tinguagem dos ether de
outras tradigdes,
A experiéncia primeira do ethos revela, por outro lado, uma
estrutura dual carateristica e constiuutiva: o ethos, inseparavel
social © individual. E uma realidade séciorhistérica, Mas $6 existe,
concretamente, na praxis dos individuos; é essa praxis que deixa
seus tragos nos documentos € testemunhos que nos permitein o
acesso 4 fisionomia prépria de um determinado «thos historico.
Considcrado na evidéncia primeira c irrecusivel de um fend.
meno fundamental da vida humana exprimindo-se numa forma
otiginal de linguagem, o ethos oferece-nos uma primeira via de acesso
& sun elucidacio racional mediante uma descrigio fenomenolégica
que deve indicarnos o caminho para sua compreensio filosifica ou
para a Etica propriamente dita. A fenomenclogid® apresenta-se, pois,
5, Ver M, Veget
entende por “n
inde ca” uma teoria
cup cro & anibuida a
iteles. Ver ig shaun, The Frogility of Goodness Luck and
Bibs in Grek Te
século XVUE (Lambert)
-
smentat Bu sou’, No caso, porém,
ss intersubjetivas.
wan A passagem do sab dic Eiea€ am evento cleral reat ote aot ¢ opera a
ments tard em algumas chilagbese, esc sim, explicate doc jompanka © conhecimento dj e200 Cardo com 0
mentacamente por alguma forma de ose a ameagar 0 ethos daque- H ho agente, ie Ine € propria ea dstingve de
las ci
outras formas dé saber reflexo. Podemos descrevé-la sob
£ necessirio, no entanto, ter presente o fata hist6rico indiscur
que a Btica nasce do seio do saber ética, A tarefa que se do, ou a yoltarse do saber para
Propsem os fundadores da Erica e, de modo exemplar Arisoreles, [4g] fom primeiro lugar, a rine, ov 9 wisens CO A A
€ a de encontrar uma nova forma ligica, uma nova estrutura ja intencion: atico que oc
gnosioigica, © novos fundamenios racionais pata 0 saber dco ja codif
cado no ethos da tradi¢ao. Mesmo o intento mais audaz de reestr
turacio do saber ético tradicional, empreendido por Platio na Repl
biica, permanece, como viu Hegel, em referencia constante a0 ethos
dda polis grega; ¢ & a racionalidade nele imanente que é submetida presente : {io de fundamento do saber
at eee eo cccebido em Séerates aprofundamento Gechi-
como tal e 0 estabelece 1
na realizagdo do ethos. Em
‘a injuncao do
Vaz, Antropolega Filosifica I, op. cit, pp. 160165
et Savon divin em La décvuwate de Usp fica “eonhecee a Hi mest
cance, ap. Lloyd Bi
1996, pp. 112.181. Eis
ignasein fgnois), thearin
se het Antopelgi Pn J pp. 3335) qe
peer ie, ey. 2). Ner M Neg, Lice deh
fa sopiarne (temperana) sobre @ qual ver} Piepen 2c
inion der Phitsophie ds Recs, pat. 185, nota (Wiehe
7, pp. 341-342),
_NATUREZA B_ESTRUTURA DO CAMPO
yo, ¢ vindo a constituir um dos primeiros cap
Brica. O “conhece-te a ti mesmo” em sua versio é
portanto, entre 0 sujeito portador do “habito” (hexis), ¢ 0 sujcito
causa eficiente do proprio agir (prams), a relagdo eticamente especi-
ficada da responsabilidade, cireunscrita a0 espaco intencional medido
pelo metro do conhecimes ano e compreendendo as coisas
gue estio a nosso aleance (ta eph’ hemin na expressio de Aristteles)
ou 0s bens propriamente humanos (ta anthrapina), por nos “operé-
veis™ (lo praitien)
Permanecer no Ambito desse espaco do “operivel” humano,
aberto pelo conhecimento de si mesmo, passa a ser uma das consig-
nas fundamentais das tradicdes sapienciais ¢ objeto do “julgar sabia
mente” (phronein)', que descobre o ‘justo meio” entre os excess0s.
Aqui reside igualmente a origem da nogao de censciéncia moral que
vir a ser posteriormente uma das categorias fundamentais da Ftica
0 segunde aspecto é como a outra face do primeiro € diz res
peito & carateristica do conhecimento ético que decorre da natureza
de seu objeto como bem, ou seja, 0 que convém € € 0 “melhor”,
assegura ‘al’pela milenar experiéncia humana depositada
na racionalidade imanente do «thas e prescrito autoritativamente por
sua legitimidade social. E esse o aspecto que marca, talvez, mais
profuncamente a experiéneia ética dos individuos, traduzindo-se na
interrogacio sempre renascente sobre a necessidade do dever, sobre
a natureza da obrigacio moral, enfim sobre a forca inata e misteriosa
do juizo de obrigacio que nasce no mais intimo do sujeito ético:
deomai, debeo, Eu devo, A relacao de conseqiiéncia moralmente neces
siria entre © bem e o dever constitui justamente uma das estruturas
fundamentais do saber ético e ira inspirar os dois grandes sistemas
que dominam a histéria da Etica: a ética do Bem em Aristdteles ¢
‘ica do Dever era Kant’
nocio fundamental na tradigio greg
(DK, 68, B, 42): phronein a de *pensar o que convém” ou “fazer
» Carmides, Yl b 5; Apo
sala flsofa
ratice, Bolonha, Dehoniane, 1987.
NATUREZA B PORMAS DO SABER ETICO
A consciéncia morale a olnigacéo, fenomenole
radas, aparecem por outro lado como o terreno onde nascem alg-
ras das mais carateristicas experiéneias éticas, analisadas magisir:
Inente por Max Scheler, como as experiéncias do remorse, do arrepen-
| dimento eda rgenaragi,inscpariveis do conhecimento do Ber como
Minculo do individuo com 0 ethos (dean = o que lige; deontologia)®.
Passemos agora a considerar as formas d dtico. Sendo ©
ethos coextensivo & cultura ¢ sendo a cultura essencialmente expresso
da vida como vida propriamente humana, é licito concluir que a
vida humana é j por esséncia, uma vida élica, © todas as
suas expresses sio expresses do ethos como forma universal da vida
(Letensformy®. Assim sendo, © saber ético se difunde por todas as for
‘mas da cultura, ¢ © vemos consubstanciado nas mais diversas mani-
festacées culturais, constituindo propriamente a fradicdo ética dos
varios grupos humanos.
Antes de se especializar em determ ‘bes e, de modo
exemplar, na wadicio ocidental, numa forma candnica de saber
ientificamente organizado que se denominara Etiea, 0 saber a
encontrar formas c 9 que privilegiadas de expresszo ©
transmissao que serio, de resto, as fontes primeiras da Btica e subsis:
‘io a0 longo do tempo com maior ou menor intensidade de pre-
senea na vida ética da sociedade.
Entre essas se apresenta em primeiro lugar, como sendo a mais
antiga e cuja origem se confunde com a propria origem da cultura
8, Ver Max Sel
France, 1954, pp. 27
Simon, Morale (bi
‘9.8 consencia mora
Reue und Wiedergebut, ap. Gerommute Werk, V, Berna
Repenir et Renaissance, Pati, 1936. E ainda
. pp. 88,
Wo do devertrazem conmigo, por:
deve
‘esinae, cone preter
1 vale com respeito is
‘mento do dever, cod
‘Kaltusthih, Ver H.C. Lima Vaz, Eseries de Filosofia I: Filosofia « Cultura, op.
Br-100.
NATURE2A B ESTRUTURA DO CAMPO,
r1C0
ral no seu sentido mais compreendendo as crengas, 08 ritos,
as prescrigdes rituais, os interditos e as priticas regidas por normas
proprias de conduta, O estudo das relagdes entre ethos ¢ rligido envol
ye um grande niimera de problemas e c ia vasta bibliogra
fia, sobretudo de Aqui nos restrin-
Embora 0 saber é
heca historicamente, sobret uma Tent
ue 0 levaa separarse da expressio religiosa, sendo esse umm
ddos fatores que infuirio 1a origem ci Etica (ver indieagdes bibliogté+
cas pa pagina 81), a rel até hoje como portadora
logilente dle mensagens éticas, nio se conecbendo uma religido pu
ramente ritualista, que acabaria confundindo-se com a magia, ¢ uma
Lighio cyjas cren le uma for
ina ou de outra, 0 fendmeno essen
Ses entre 0 ethos como fendmeno cultural
0 © a expresso religiosa no sto linearmente simples
m mesmo formas opostas que se manifestam na tradigi0
do mascimento da Etica’
No entan
tiva quando determinado estilo
ow resultado de uma
m saber ético de
iraclos na religiio, como & 0 caso da moral biblica no Antigo
doa
Mensching, tem lugar ainda quando uma profunda
ia dtica prolonga-se em experiencia religiosa e aparece como
‘op. cit, pp. 23:54 J
sing, morale chron,
. ap. Die Relig
ético para con
18 filésofos pré-socriticos como
Xenéfanes ¢ Anaxigoras ou a sofistiea da religiio tradicio-
anunciando 0 apareciment ‘de um saber
4 que Platio critica 0 comportamento dos
‘a0 mesmo tempo em que recebe com
speito os mitos escatologicos de
sa concepcio da justica, Mas € no clima filos6fico da modernidade
= que a separacao entre Etica € Religiéo é explicitamente proposta,
seja na afirmagic
da ReligiZo, na distineio ¢ independéncia rec
~ do Sagrado e do Etico em F. Schleiermacher, dos estigios
*religioso” da exist 1S. Kierkegaard, da autonomia do “valor
* em Max Scheler ¢ N. Hartmann. Por outro lado, a pratica
josa mostra-se indiscutivelmente como cri Gticas
de vida, como mostra H. H, Schrey", que
Jogi
criando um ethos da vontade de estruturacio (Gestalt
‘como no Cris
© de faga ¢ desprezo do mundo (contempi
moral de aspirardo cortes
foposto ¢ ilustrado elogiientemente por H, Bergson!
‘A outra forma privilegiada de expressao do saber ético é designs
(Lebensweisheit) ou simplesmente “sabe-
indo ao sentido primitive do termo grego sephia,
da qual 0 “sibio” (sephas) & portador. A sabedovia da vide cor a
Jorma de linguagem pr ico e, como a religiio e 0
proprio «thos, sua origem se perde no pasado m
"grupos humanos que nela depositam os ensinamentos de sux
ja e fazem dela a substincia da tradigdo ética ¢ 0 documen-
“tw mais precioso da identidade cul
1A. Ver HL. H, Schrey, Kiyuhrung in die
15. H. Bergson,
(Omeres Corps, é
__NATURBZA E PSTRUTURA DO CAMPO K11CO
cin da sabedoria da vida como forma do saber ético para a futura
constimigzo da Eica vem do fato de que nela esti condensada «
racionalidade imanente, depurada pela experiencia dos seculos que,
sobretudo nas culeuras mais avancadas, confere 3
do tinico de ser atibuto do “animal possuidor do lo
(soon logon echon) que & 40 mesmo tempo, razioe linguagen Ess
racionalidade sera a fonte primeira e insubstituvel do diseurso ex:
mente racional da Eten”
A sabedoria da vide €
tos, a raxdo € a lingwagem.
mitida jusiamente nesses dois regis
A raza, entendida como racionalidade pritica ow razoabilidade,
encontra uma expressio concreta na figura do sdbio, paradigma ou
exemplar da conduta ética que aparece sob os mais variados perfis,
‘© muitas vezes revestido dos véus da legenda, em praticamente todas
as tradigdes culuurais, E le resto, um dos mais poderosos arqué-
tipos do inconsciente coletivo ¢ veiculo provavelmente insubstit
da transmissio do ethos. Decaido de sua alta fungo ética de outrora,
nds 0 vemos perseverando obstinadamente nessas formas degenera-
das que se mostram na “idolatria” dos stars do espeticulo e dos
esportes, ¢ mesmo manipulado pelas ideologias politicas nessas sinis-
tras figuras de ditadores totalitirios que m tragicamente a
historia de nosso século.
© oppositum per diametrum da nobre figura do
sdbio das grandes tradigies lepresentacio viva da sabedoria da
penha um papel social de fanda-
fncia nas culturas do Oriente Médio e do Mediterré-
s familiares e em cujo terreno
ma documentacéo abundante nos é oferecida a
la tanto da tradigio antiga greco-romana quanto da
biblico-rista. Quanto a primeira basta acompanhar a evo-
10 do ethos grego arcaico desde Homero até velo personificado
na legenda dos Scie Sabios, dos quais varias listas nos foram tans:
s € cuja sabedoria em forma gnémica ov sentencial foi reco-
ia por H. Diels e W. Kranz na colegio dos fragmentos dos Pré-
Eatica.
16, Sobre a “sabedoria da vida" ver G. Harkness, The Sowres of Western Mon
New York, Charles Secbner’s a. Son, 1954
2
NATURBZA B FORMAS DO SABER ET1CO
peraticos"”. A tradicao grega dos sdbios', herdada pela filosofia a
partir de Sécrates, o sibi
3, pelo exemplo do dente” (phrénimas), as carateristicas
ica’ da "prudéncia” (phréess)
tc”, unidos exemplarmente em $6
lidos por Arist6teles, 0 primeiro portador do conhecimento
© segundo do conhecimento pritic, antes de se reunir nova-
Jente nas éticas hiclenisticas como realizacio concreta da estrutura
‘Wiricoprdtica da Etica. A wadi¢io romana, por sua vez, ird integrat,
a expressio literdria dos moralistas como M. T. Cicero e Séneca, 0%
lores romanos dos mores maiarum ao ideal est6ico do "sébio™*. Nao
nos significativa € a personagem do “sibio” na tradigio bfblico-
| ris, desde os chamados livros “spienciis” no AI’ até a formagio
_do-culto dos santos na Antigiiidade tardia, que faz da i
mhodelos um topas clissico co ensinamento ético-espi
seatdlico, ¢ cujo desaparecimento, em algumas das verses do Cristia-
jsmo posReforma, € um indice incontestével da crise do antigo
saber ico no clima cultural da nascente modernidade, Na tradicao
i é, em face de um modelo singular € tinico,
lador reconhecido pela sua autoridacle absoluta © normativa so-
toda a tradicao € no qual transluz nao apenas a racionalidade de
‘hos histérico, mas sobretudo a transracionalidade de un
le 0 fato Jesus Cristo, rico de inexaurivel significagio ético-
| Beligiosa, apresentase como um evento decisivo na historia do saber
| thico no Ocidente, enquanto a imitatio Christi deixa sem duvida 0
| filco ético mais profundo entre as conduras que marcam nosso «thos
| hisiorico®.
—
Text, Leiden, B,J Br
18. Dentre a vata bibliogra
la Grice erchaiqu, Basis, May
Las Sawir gre, op. ci
19, Ver Brontr de
20. Ver a bibliografia citada em
21. No conhecido Haralbuch der hathalische
NATUNBZA B ESTRUTURA DO CAMPO BIC
to, a expressio privilegiada da saledoria da vida, pre-
sas culturas em formas estilizadas tpicas, € a lingua
gem, Juntamente com a linguagem do mito e do rito na conservacio
sabeioria da vida na conser-
obras de linguagem conservadas, em extraordinario paralelismo for-
mal, pela multiforme tradicio dos mais diversos grupos
jderada do ponto de vista de sua significacio social, a linguagem
da sabedoria da vida 6 como a memdria ética das culearas, € por i880
a vemos perseverando tenazmente, a exemplo da constincia do etlios,
através de tantas vicissitudes histéricas ¢ oferecendo-se como um dos
campos mais ricos para a investigacao antropolégica sobre 0 ethos
das varias cultura. Aqui também a perda da forga mativa dessa Tin-
guagem em meio 4 multiplicacao das linguagens artificiais de nosso
tempo, ¢ de sua instrumentalizacio ideologica sob © conceito ambi-
guo de “cultura popular”, denota inequivocamente um progres
apagarse da meménia ética de nossa civilizacao, com as conseqiigncias
que comecam a ser dramaticamente sentidas,
no terreno da sabederia da vida, como iremos ver, que a Etica
6 a wadicio grega que nos conserva os
melhores paradigmas dessa expressio do sader ético, vindo desde o
primeiro documento literario escrito da lingua grega, que sio os
ho excepcional da sabedoria da vida
nna cultura arcaica grega é proporcionado pelos Thabathos e Dias de
Hesiodo (VII séc.), ja significando uma alternativa ao ethos aristocré-
tico € guerreiro dos poemas homéricos®. No século VI, difundem-
as fabulas de Esopo. O género literario das fabulas mostrase, de
como uma das expresses mais eficazes do saber dco e, como
tal, aparece como expressio universal diversas tradicbes
No Ocidente, conhecera uma fortuna literiria ilustre, na esteira do
velho Esopo, com Fedro na literatura latina e La Fontaine na litera-
fa francesa. Outra forma consagrada de expresso do saber ético &
i. A mesma perspe
mental da Btica crs yada por Joo Paulo Ina
‘2. Vera obra clissca de W. Jaeger, Paideia: a formacéo do home gro, I Cap.
17 (uw. br, Brasia, UNB); JG, Mainbesger, Sein und Site im Mythos, ap. Seu und
Bios, op. cit, pp. 3755
4
NATUREZA E FORMAS DO SABER ETICO
altura sapiencial” que na Grécia assume sobretudo a
ma gnmica, de sentencas ou provérbios, ilustrada, como vimos,
il tradicao dos Sete Sabios. A literatura sapiencial floresce sobretu-
_ Convém ainda observar que € como expressio universal da
dona da vida que o fendmeno ético fundamental da reciprocidade
mulado na chamada “regra de ouro™, im
ica comutation (unicuigue sum), cuja forma positiva € cs
Evangelhos: “Tudo o que quiserdes que os homens vos facam,
j-o também a eles" (Mt 7,12; Le 6,31)
| Essas duas expressdes universais, a religido ¢ a sabedoria da wida,
€ diretas do saber ético ©
yempo, Mas sendo ethos ¢ cultura coextensivos, todas as grandes
6es culturais sio expresses do saber e do ideal éticos de uma
jedade. Em particular é conhecida rclagio entre ethos
fie nas sociedades tradicionais, tema analisado agudamente por
sel A Arte como expressio do salvr tice, de seus problemas e
maa evolugio mostrase extremamente si
dria, sendo a literatura notoriamente um dos espelhos mais figs
ida ética de uma sociedade. A separacio recente e, mesmo, 0
ito entre artee moval revelam justamente a crise e fragmentacio
8 paradigmas éticos tradicionais na cultura da modetnidade. Por
UU lado, a propria sociade, em sua organizacio, inst
ques, nio é sendo o corpo histérico do ethos ¢ foi justamente
mo cura da “enfermidade” — para falat como Platio" ~ desse
spo na Atenas do século V que
1976, caps. 1916; cap. 27,
‘ie Eth, op. it, p. 127
G. W. F. Hegel, Vericungen ther die Aesthtdy Ei
Fiche, 13, pp. 52-83)
26. Ver RS. Cushman, Terapia: Plato's Conyption of Philosophy, Chapel Hil,
ity of North Carolina Press, 1957,
M1, 23 (Ware,
55
CariTuLO
DO SABER ETICO A ETICA
A ago rn do saber étice. Ela nio @, em suma, senio
© proprio saber ético de determinada tradicio cultural que,
“yuna conjuntura especifica de crise do ethos, recebe uma nova ex
ppressio tida come capaz de conferinihe uma nova e mais eficaz
_ Jorea de persuasio, no momento cm que stas expresses tradicion
f iligito © a sabedoria da vida, perdiam pouco @ pouco a
nedibilidade. Essa nova expressio adorara uma nova forma de in
1 fem do logos demonstratioo ou da cigncia, que se
junfante referencial simile em funcio do
“nl pouco + pouco se reorganizava mundo da cultura. © asc
J agate da Etica inserese, portanto, nesse grande movimento de trans.
ra grega nos séculos V e IV que antecipa, de alg
sno do mundo ocidental, Se considerarmos que
0 vird a comstituir 0 que
mente a Logica, podemos dizer que a Erica teri
wr fundamental a légica explicitada © formalizada da
_nguagem do ster ice modernamentedeignaa come Metaética
| 5 £m aplcagio a0 contd do mesmo sbe
E esse um primeiro e decisivo passo a ser dado tendo em vista
| reia compreenisio da nattreza da Ktica. Por sua propria Gnalidade
“fle saber normativ, indicativo e preseritivo do agir humano, o saber
Fico um saber antes vivido do que pensado nas indmneras vicisinudes
| a vida humana, decantado no correr dos sculos pela longs expe-
mens E esse saber que a fica se propoe pensar. Portan-
NATUREZA
rRUTURA DO CAMPO.
ICO. iz
to, 0 saber tivo recebido pela Btica no pode, como o saber da nar
surexa ou 0 das puras formas, submeterse 20 sonho cartesiano de um
novo e radical comeco. A bumanidade nio pode recomecar cada
manha sua historia, nem refazer continuamente scus critérios de
conseguiram ter vida, é clogiientemente conclusiva.
‘uschiana Umuertung de todos os valores prestamse a brilhantes
ins literarios A margem da vida real mas, do ponto de vista de
uma efetiva realizacdo hist6ricosocial, séo perfeitamente
‘00, mesmo, insensatos, € o que na verdade conseguiram foi agir na
“desconsittucao” dos valores éticos consagrados pela experiéncia dos
sécullos ou na “suspeicao” sobre cles lancada, abrindo o vazio ét
em cyjo clima medra 0 nilismo de nossa cultura,
Ora, a transcripio do saber dtico presente no ethos grego tradicio-
nal para os codigos do novo saber demonstrative ou da nascente
cléncia (episteme), dd lugar a uma das
lectuais da historia.
is fascinantes experiéncias
Jénia do séewlo VI, como ciéncia da natu
rea (physis),¢ foi a partir da natureza, observada na regularidade do
seu vira-ser (genesis), que se formularam as primeiras regtas do dis-
essidade ligica ligando 0 anteceden-
logia com a necessidade causal ligando
10s. Aqui vemos surgir © primeiro esboco de
leis da navureza (ciéncia) em correspondéncia com as leis do discurso
(légica), Ora, a entrada no dominio da razio demonsttativa repre-
senta para a interpretacio humana dos fenémenos n uma
radical. O que era explicavel pela particularidade do mito,
ido segundo as exigéncias da universalidade da raza,
Eis ai a experiéncia intelectual que funda a ciéncia e que confere &
ciéncia grega um privilégio nico, com as carateristicas de um hapax
na his espirito humano, vindo a tornarse paradigmatica para
todas 8 na Grbita do saber cientifico'. A
ono qual B. Snell estuda a 10 dos conceitos
da analise Hingulstica: La Ditouvere de 1Expmt, op. cit,
DO SABER ETICO A ETICA.
ravdo se mostra, por natureza, ess jente universal, € seu us0 $6
se torna possivel se a particularidade do fendmeno for assumida na
_ universatidade de uma categoria, de uma lei ou de um principio, do
ual parte o discurso demonstrativo. Tal a origem do conceito wn
Fnal le natwren (physi) que se torna englobante de todos os fe
menos segundo o pressiposto de sta inteligiblidade © de sua
idade em seqliéncias causais que a logica permite transcre-
nguagem da ciéncia, O nascimento da cénca da natura,
- contemporineo ao aparecimento da matenética e da légica como
ciéncias das formas, da origem, portanto, a uma profunda revolucio
- episten ica na cultura humana que foi a formacio de
_-nomes ¢ coneeitos gevais ou universais que a lingua grega, conforme
| mostrou B. Snell, tornou possivel pelo uso do artigo definido. Sem
it uma exper
a partir da qual surgiré a Elica como cidncia do ethos. Essa experiencia
tem diante de si, inicialmente, o desafio tebrico que € pensar o ethos
segundo 0 método € a Tinguagem da ciéncia, isto é, tendo como
ponto de partida do discurso termos ¢ conceitos universais dos quais,
por necessidade ogica, decorrem as conclusées da ciéncia, Em outras
ppalavras, ela se defronta inevitavelmente com a interrogacao pr
ar: como pensar o ethos, que é analogicamente @ physis do mun-
do humano, segundo os padrées de universalidade ¢ necssidade da
| physis do mundo dos fendmenos?®
‘Tendo em vista a constituigx
intransponiveis. Em primeiro lugar, 0 ethos é, por definicio, particu
Tay, € 0 ethos de determinada cultura histérica como, por exemple
0 ethos greyo. Nao & wniversal como a physis, cujos fenémenos so os
maesmos qualquer que seja 0 contexto cultural em que sio observa
2. Vor H.C. Lima Vaz, Ksetos de Filosofia I ica « Cultara, op cit, pp. 4848:
Em seg
|) humana concreta que, embora adquirindo pelo hibitocerta constan.
ia e regularidade, procede da indeterminagao prévia da livre esco-
(proairesis), irredutivel a qualquer determinismo légico ¢ natu-
ral, Conciliar 0 universal © 0 particular, 0 necessério © 0 livre, tal & 0
primeiro desafio tedtico que se oferece no caminho da etiacao de
uma Giéncia do ethos. E verdade que os termos aqui opostos © que
hoje nos parecem, & distancia de muitos séculos, configurar nitida
mente a situacio te6rica do ethas tradicional grego no clima intelec-
lustraco ateniense do século V no se apresentavam com
tal clareza aos pensadores que promaviam a nova cultura cientifica
Mas as questdes entio suscitadas ¢ as solugdes propostas mostram
que 0 grande problema posto entio em torno da possibilidade de
‘uma ciéncia do ethos dizia respeito & descoberta de um paradigma
racional segundo 0 qual o ethos ea praxis ética fossem expliciveis em
termos universais, isto 6, transcendendo a particularidade historica
as culturas’ ¢ admitindo uma forma de nectssidade racional compa-
vel com a indeterminacdo basica da praxis,
igar, ethos é, como vimos, a forma da praxis
Se pensarmos que 0 dominio da universalidade é 0 dor
€ vigoram, a0 menos na concepgio clissica, as
kkis da razio, as quais compete 0 predicado da necesidade, veremos
que comecam jé a emergir aqui os dois pélos em torno dos quais
se desenrolara toda a histria posterior da Etica: a lei e a liberdade.
Ora, nesse climax da hist6ria intelectual grega no qual nasceu a
e que compreende a segunda metade do século V € 0
io propostos justamente os paradigmas destinados a concil
‘iniversal (necessidade) © 0 particular (contingéncia) ou a ki e€ a
‘iberads, paradigmas que, sob as mais diversas formulagdes te6ricas,
ermanecem até hoje; nem se vé como possam ser suplantados por
algo intciramente novo, pelo menos enquanto o ser humano for,
nds, © “animal portador do logos" ou si
ria de nos cultura ede novos pa
“su ral importante pars o mondo grevo,
© Mis adenuitar mais logientce 20 hsorlator Herddono ecco
Mtoe nvr ito et sur aguante Toure Paks
DO SABER ETIGO A erICA
___Esses paradigmas podem ser designados comodamente como 0
cinvencionalismo, © naturalismo, € © intelectualismo 0% normativismd
iguilos facilmente se considerarmos como, em cada
fin deles, se-apresentam as concepgdes da nevessidade ¢ da contingén-
i ou da lei e da liberdade
© convencionatismo, adotado com matizes diversos pelos prime
Sofistas, formulase no clima da oposicio
os decénios do século V entre a “naturez:
jo? (noms). A convengao € um pacto social implicito aceito pelos
iividuos ¢ ligado imemorialmente & propria origem do ethos &
slo qual as exigéncias da nalurazasdo socialmente controladas pelos
stumes, A convencio é, pois, o universal do ethos, particularizado
diversas tradigdes e costumes. Ela é um limite social & lberdade,
‘ela fundando-se as leis (nomoi) que regem a vida da comunidade
ysis) € a “conven
| filpsis que se sobrepde 20 universal do nomos na medida em que esta
a a do da sociedade e
fesente no individuo anteriormente & const
as suas Lis como, por exen
"a “legitimidade da injustica” ete.; essas leis
© 0 maturatismo passa a dominar
-Piovavelmente a iiltima geracio dos Sofistas, deixando seu testemue
fas, tem como consegiiéncia incvitével © naluralisna, e toda a
Gtia da Erica confirma essa filiagao entre os dois paradigmas
fin cfcito, se 0 etlus © a praxis ética no se fandamentam em algo
sestvel do que a simples convmdo, sujcita sempre a0 consenso
vir gree, op. it, pp. 133160.
Thores inteodngaes que ci
NATUREZA B ESTROTURA DO CAMPO ETICO
io das liberdades, acaba buscando finalmente na necessidade
da natureza a resposta & pergunta com a qual Socrates inaugura a
reflexdo ética propriamente dita: como devo viver? A forma extrema
no, na qual a satisfacao das exigéncias elementares da
na Urania dos desejos ¢ no imperia
lismo do poder, & proposta como tinica resposta razodvel A questiio
do como viver aparece ja nos tiltimos Sofistas como Gorgias, Antifonte,
‘agem Cilicles do Gérgias, e na pritica dos
descreve © historiador , Seja a0 naturalisme
seja 20 convencionali 1 longa posteridade que
chega até nés aparentemente mais vigorosa do que nunca, € 0 na
turalismo recebe na Antiguidade um titulo insuspeitado de nobreza
filos6fica ao ser adotado por alguns dos chamados Socriticos meno-
res, ipo de Cirene,
° do hedonisme, A poderosa corrente do naturalismo es
escava reservada
iciad
‘aia-se ao longo das mais diversas manifestagoes da cultura antiga
€ dela recebem influxo as grandes éticas helentsticas como o Epicus
rismo e 0 Estoicismo®.
ura lei, as
Ds costumes e, mediante
regendo 0 exercicio das liberdades individuals, parecem
nao encontrar expresso adequada no universo da razéo demonstrati-
va, 0 ‘ategorias € coceitas que Ihes sejam préprios e uma légica
cespecifica do agir que os articule em discurso coerente. Tal 0 desafio
diante do qual se encontrou Sécrates, entre os extremos do convencio-
nalisma e do naturalism, a0 ensaiar 2
tes do suber ético,
paradigma que ird tornarse cfetivamente 0 modelo fundamental da
eflexdo ética no Ocidemte. Esse paradigma intelectuatista ou norma
Darakiy Une rigs samt Dine esa
» La Décowerte, 1980,
vrs
O SABER £7160 A ETICA
reduzem todos a0 convencionalismo ou a0 naturalismo, e mostrar
erado o paradigma ético por exceléncia.
‘A tradicao do ethos grego trazia consigo uma interrogagio apa
emente sem resposta a respeito do dominio do homem sobre set
interrogagio se torna mais aguda com o advento da individuc-
lirieos*: como pode a livre individua-
idade co Destino (Moira)? A tuta da liber
rodigiosa criacdo literdria da tragédia atica, wltimo passo no cami
‘tho que conduzira a criagao socratica da Erica. Com efeito, como
uminosa da Razio, a primeira oprimindo ab extra 0 individuo
segunda fazendo emergir ab inira o espaco de sua
jberdade? Questio
+ Titica e mesmo da cultura antigas, ¢ & qual o Estoicismo
| der com a paradoxal tentativa de unir Destino e Razio,
los que se erg
expago para 0 exercicio do auademinie ou da ikerdad,
ha lugar para o pensamento ético. O outro obsti-
ilo € correlativo a0 primeito € € mesmo a sua face laiizada ow
despida do revestimento mitico. Tratase do deierninismo da physi,
posto em cvidéncia pela leitara présocritica dos fenémenos e que
leangara sua forma extrema no. a
RS/Vaves, 1903, pp, 209217; © Mi
suck and Ethice in Gros Tragedy and Philasophy, op. cit, pp. 2388.
NATUREZA B ESTRUTURA DO CAMPO ETICO
dois procedimentos da razio demonstrativa que permnitiram tracar com
éxito um espaco razdvel para o agir humano e, por conseguinte,
explicar rarionalmente a estrutura desse agir — individual € comuni-
tirio — ¢ justificar as leis ou normas racionais que © devem reger
Esses dois procedimentos, nos quais tem origem propriamente a
Eica como. cincia do thas, tem em vista estabelecer de um lado a
cigncia do finalismo do Bem como superacio da crenga na necessidade
cega do Destino e, de outro, definir 0 Ambito das “coisas humanas"(¢a
anthropina) que esti sob nosso arbitrio (ta eph’hanin) € que podem
ser objet de nossa liberdade e responsabilidade ou, em outras
palavras, de nosso agir ético, independentemente, em principio, dos
xzares da Fortuna, A vertente soeriticoplaténica da Exica toma sobre
si estabelecer racionalmente o Ginalismo do Bem, a vertente aristotéica
‘ocupase prioritariamente em circunscrever 0 mundo das
humanas. © finalismo do Bem exprime a universalidade racional da Lei
(nomos), © mundo das coisas humanas & o horizonte universal da
Liberdade (fo ckousion). Cireunscrita pelo espago de tniversalidade
que resulta da conjuncio da Lei ¢ da Liberdade & que a praxis ética
poder exercerse racionalmente na particwlaridade das situagses ©
na singwlaridade das decisbes’
Ora, a proposicio que enuncia 0 universal objetivo como homé-
logo A wniversalidade subjetiva ow ativa do logos enuinciante — como,
por exemplo, 0 Bem ¢ o fim universal ou 0 Bem é a realidade a que todo
ser aspira!® — supoe necessariamente a transgressio dos limites do
empirico que & por definigao, particular Em outras palavras, 0 univer
sal verdadeito € Iida, ¢ tal € 0 fim como Bem. Essa a demonstracio
levada a cabo por Plato no Fédon © na Reptblica ¢ que assinala 0
termo da inquisigao socritica da definigao da virtude. O paradigma
Atico fundado na universalidade do Bem como Idéia deve ser designa-
do, pois, como normativo no sentido estrito pois a norma do Bem,
transcendendo, coma principio tiltimo de retidio do agir ético, a par
ficularidade do empirico, nio depende da conveneao social nem se
identifica com o determinismo da plysis, representando, desta sorte,
uma superasio radical do convencionatismo ¢ do naturatismo, Deve set
9, Essa dialética & apresentada igualmente sb outro Angulo em nosso texto
10. Arisoteles, Et Nie, I, 1, 1094 2 2
64
Do SABER SN1CO A ETICA
BE. sob a norma do paradigma idenbnico, guisndoee por opées
roricas distnias, segundo os grandes modelos clssicos, placonismo
os
‘Nessa organizagao racional do saber dice, trés problemas funda
‘nentais irdo emergir, aos quais corresponderio trés grandes com-
lexos categoriais que, através de toda a movimentada historia da
D. O problema da existéncia ¢ natureza do sujeito ético, homélogo
a0 universo dtico, participando, de alguma maneira, de sua uni
versalidade transempirica e constituindo, como tal, © individu
da comunidade ética.
Esses trés problemas formulam-se, de fato, em torno dos valores
\cipais que conferem tadigio do ethos grego sua fisionomia
i: 0 valor do Bem (to agathon) ou do Melhor (to ariston)
| pp. 447-448,
| YY Sobre © primeito tema ver H.C. Lima Var, Plato revisiado: Fuca &
Metatisica nar origens platinicas, Siete, 61 (1093): 181-197; e sobre o segundo,
1 Vaz, Estes de Plosofia I: Pibsfia Cultwaop. cit. pp- 164A
18. Esse tés wpicos sio estudados por L. Robin em sua excelente sinteve Lo
rg Paris, PUF, 1947.
65
BZA E ESTRUTURA DO CAMPO BTICO
descoberto objetivamente na ordem do universo (hosmos) ¢, correla-
que Socrates
virtade (areté) que ira con:
iretriz da reflexdo
‘Tragadas, assim, as fronteiras do campo da Etica, no proprio
terreno onde a experiéncia milenar da humanidade fez,
tamente sta-nos nesta
te, da est sca que abrange os trés aspectos:
smetodolégico, epistemoligico e sistemtic,
fem face da pra
éculo V, fu
idade pode ser aplicada 4 ordem dos costumes.
ica deve comecar,
ssa carefa a ref
la por aqueles dois modelos, ora
yondo-se como étiea cientifica, ora como simples téenica do agir
ido convencdes so tracio hoje mais poderosa do que
© advento da ‘ecnociéncia como eda
mostra que, no cump!
foi permanentemente
1. Ver H.C. Lima Vaz, Eusites de Blosfia I: Bion e Cu
‘op. cit, pp. 6-78
67
Jectual, a nosso ver conclusiva, da
qual nascew a Etica e que teve como protagonistas Socrates, Platzo
e Arist 0s que 0 caminho (méthodos) proprio da Exica
pressupée, por um lado, que ela proceda como um saber de natn-
reza filosifica ¢, de outro, que seu objeto formal a praxis
aia ¢ veis a qualquer 0
tro tipo de fendmeno da natureza. Sobre a natureza filsifica da
Exica fundamental ja nos explicamos na Intoducio. Restanos de-
mente, em sua formalidade d é
lica, 01 seja, a praxis que se exerce sempre na esfera do ethos, cujos
ivamente organizados pela estrutura sistematica
“O sujeito (« objeto) da flosofia
joral € a operacao humana ordenada a um fim ou entSo © homem
nquanto age voluntariamente em vista de 1 Nessa defini-
Gho'o definientun, ou ej, 0 ojo da Etia, ¢ identificado logicamente
Gu tem sua «onda manifesaca por diss notas constitutvas: a 2
peragdo humana eB sua ordenagao a um fim. Operatio €, aq
traducdo latina de prasis, ato especifico do ser humanos ¢ a
ordenacio dese ato a um fim por parte do agente caract
como ato moral
surgem a par
distngue de outras formas da atividade h b. qual a natireza
Ao consttutiva entre a praxis € 0 fim, que torna a praxis uma
press etica on um agir moral? A resposta a essas das interrogacdes
fornase condigie prévia e sine qua non para que poss set dada
mite una resposta A questio socratica que esti na origem da
Fticar como devenas viver de acordo com nossa natureza de seres
mo praxis ética, Duas questdes fundamentais
dessa definigio: a. qual a natureza da praxis que a
imo prow 0
robs 2 13) conte
{ado em Plato ¢ trata do objeto, do modo d
Etica. Ver o comentario de F. Ditimeier, Nckomachche Eihk, op.
nudes da redagio desse Prdlogo ver Gauthier}
ica parte de
ica estabelecicia a nocdo de um aperar humano como operat de
_ er inteligente e livre; e a0 lidar com a nosio de fim a
Essas sio,
discurso coerente para a Etica que se pretenda filosfica
1. A reflexio sobre a natureza da praxis foi conduzida inicial
praxis © tuchne. Com efeito, ambas $20 modos do operar humano
© dirigidos intencionalmente para a producio de uma obra (
_ bedecendo a regras ou normas seja de aria no caso da praxis
js bela obra de arte que ao ser humano é dado criar. A diferenga
‘aire os dois modos de operacio foi estabelecida de maneira det
mo da praxis é voltado para a perfeicdo
A techne para a perf
ismos estio entrelacaclos
lunidade complexa do operar humano que envolie sempre 0
mem todo: ass
deve estar presente no
thalho do ar
fe em grege, podendo sign)
dece a regras Assn no in
NATUREZA E ESTRUTUNA DO CAMPO EFICO
Em outras palavras, na praxis a perfeicdo ou a realizag20 do me
thor, que € o fim do agente moral, é, em primeiro lugar, a perfeicio
do priprio agente. Sua aco tem seu fim em si mesma, ¢ um movi
mento que se completa na imanéncia (in-manere, permanecer ern.
do sujeito que o causa, nele realizase a perfei
caracteriza como tak: assim no ato de ver rei
thar, segundo o exemplo de Aristteles'. Por sua vez, na téchne a
perjeigdo que o ato de produzir tem em vista é a perfeigao da obra a
ser produzida. O ato de produzir um movimento que se completa
na exterioridade do produto, sendo, como tal, um movimento
transiente (transi, passar além...). Essas duas propriedades funda-
mentais definem os dois modos distintos do operar humano, delim+
c € do tnico. O enfraquecimento
‘ou mesmo o desaparecimento dessa distineio na cultura contempo-
rinea signifiea, finalmente, a perda da especificidade ica de nossas
ages ea tirania do produzir nas relaces humanas.
A nitida distingao entre a praxise a techne ow poiesis fabricacio)
i por sua ver a Aristoteles sistematizar definitivamente a divisio
dos saberes em tedrico, pritico e poittico, divisao j4 esbocada em Platio
ica e a Politica, ciéncias
da praxis, sua especificidade na enciclopédia das ciéncias constituida
desde a Antigtidade ¢ cujas linhas fundamentais permanccem até
ho}
_Na defini¢io da praxis como objeto proprio do saber prétice ou
epgoes distintas, que se tornaram paradigmas
1a toda a histéria do pensamento ético, serio propostas por Platio,
© Arist6teles. Segundo Platio, a pravis verdadeira ou segundo a vir
ule é assumida imteiramente pela theoria que, como ci@ncia das Idéias
ESTRUTURA CONCEPTUAL DA ETICA,
“foroada pela cigncia ou intuigao (noess) da Idéia do Bem, deve reger
aces humanas orientadas finalisticamente para 0 Bem. Desse
modo, a Etica é primeiramente uma ciéncia teérica €, enquanto tal
© passa a ser derivadamente (ou pedagogicammia, segundo a Reiblica)
a ciéncia pritica, Platioadota, pois, uma concepeao univoca da
1a qual a eiéncia da prética & igualmente, por det
io, uma ciancia pratica, ou seja, A ciéncia cabe reger inteiramente
pritica, Essa concepcao é profundamente modificada por Aristoteles,
za, dada a diferenga dos objetos @ que se aplica, uma
Alivisio analdgica da razao cientifica, na qual a praxis rece seu or
fica. A Etica passa a ser entio uma teoria da prasis (gen. subj.) que
0 mesmo tempo, una feria prtica, se assim se pode falar; ou seja
‘a prdtica que produz sa propria troria tencio em vista nfo apena
, conhecimento (teoria) do Bem mas igualmente © proposito de
jprnar bom o seu praticantet. Nesse sentido a Etica, segundo Aristé-
tra uma correspondéncia estrutural com 0 saber éicn da
m o has é um saber, co
‘ou da sabudoria da vida, que deve operar o “torn
juele que o recebe ¢ pratica. De acordo com a perspectiva aristo-
, que predominow longamente na tradigio do pensamento ético
dental e readquire hoje uma surpreendente atualidade, 0 proble-
| epistemolégico fundamental de uma ciéneia da praxis formulase
ginente como problems de um stber no qual tora € price
oscitivo,
), A segunda questio levantada pela definigdo tomfsica da Ei
reapeito a relacio entre a praxis ou o livre agir hi
A descoberta da nogio de jim (es) represencou Um
t
|
|
i
NATUREZA B ESTRUTURA DO CAMPO TIC
pensamento grego a partir do século V, no contexto de um novo
modelo de concepeio da natureza, proposto a partir da idéia, intro-
duzida por Anaxigoras, de uma Razio (Nous) ordenadora’. Mas 0
passo decisivo para o estabelecimento do pensamento teleolég
encontramo-lo descrito na famosa autobiografia filosofica de Sécrates
transmitida por Plato no Fédon". Ai @ posta em evidéncia a natura
teleoligica do agir Lumano conseqiente ao estabelecimento da rela-
tutiva da Alma (psyche) com as Idéias (cide). Ora, movida
congenialidade (syngeneia) com as Tdéias,
ma s6 pode ter como fim verdadeiro o melhor, ow seja, 0 Bem
(agathon). A Idéia do Bem passa a ser, assim, a stella rectrix da nascen-
te Brica, Todo o desenvolvimento posterior do pensamento ético em
ma fundamental estabelecer qual
ttimo, isto €, 0 Bem supremo do homem e, a partir desse Bem
ia dos bens de cuja prossecucio deriva
para 0 ser humano o préprio bem em sua face subjetiva, ou seja, ©
“viver no bem” (cw zen), 0 autocontentamento ou a felicidade
(eudaimonia)”. © audaz gesto esp o de Platio! na aurora da
Etica aponta a transcendéncia da Idiéia do Bem como finica resposta
racionalmente satisfat6ria A interrogac2o sobre 0 fim na. reflexio
sobre a praxis, a necessitia vineulagao da Exiea «
a Metafisica. Assim como a reflexio sobre a natureza da praxis esta-
beleceuse sobre © pressuposto de determinada concepea0 antrope.
ligica, co sobre o fim como Bem, como
mostrar toda a hist de Platio a Hegel ¢ além, deve
finaimente levar em conta a amplitude analogica, quer dizer, trans-
cendental ou metafisica da Idéia do Bem"
ver W. Theiler, Zur Geuchicte der
W. de Gruyter, 2 ed, 1965.
ralnente o com favorivel
Gin, pln 40. Aw
anpecto subjetiva d
Ver Esertos de Filosofia It Btzs « Cultura, op
asda, pois realea apenas ©
ESTRUTURA CONCEPTUAL DA &7ICA
| Por outro lado, aos olhos da Razio, 0 Bem, sendo 0 mathor
Kossnriamente obriga ou liga o individuo que age racionalmente
dade moral ou ica que, longe de oporse a liberdade, € sua
ion, pois € na sua relacdo consticutiva com o Bem que a liber
fais se realiza na sua vmdade como liberdade moval, Daqu
das cataegorias fundamfentais da Etica, a categoria da abnigaro
vofunda intuicao pl wsinalara a natureza vineulante do
gH, indicando uma das articulagdes conceptuais fandamentais
pensamento ético segundo a qual a relagio entre o finalismo
aijtutivo da praxis ética e 0 c 0 define é uma
fio absolutamente original na qual se entrelagam a necessidade
€ a lieiade do agit na aceitagio do fim,
“Um terceiro aspecto fundamental
pris ética 6 0 desdobramento da nogio de
jrnsdes de imaninciae transcendéncia, Se o agir éico é urn ato ou
iio (energeia) que tem em si
pe No sendo poré
ido Bem ou nao podendo rei
1 perfei¢io imanente do ato. Essa dialét
déncia, que se articula entre a face subjetiva e a face obj
Fim, oferece, por outro lado, aos grandes sistemas éticos uma
le partem has doutrinais
9, assim, explicitado 0 objeto formal da Erica flosica que se
sob dois aspectos fandamenais
NATUREZA & ESTRUTURA DO CAMPO ETICO
a. aspecto estrutural —a Etica tem por objeto a estrutura da praxis
‘ou do agir bumano em sua especificidade de agir de acordo
com 0 «thes, A correspondéncia entre ethos © praxis prolongase
pa constincia e continuidade éa praxis, dando origem no indi-
viduo a forma do Aadbito ou da virtudz, permitindo a convivéncia
dos individuos na esfera da moralidade ¢ tornando assim pos-
sivel a formacio da comunidade ética
b, aspecto teoligic € normatico — A praxis como objeto da Exica
mostrase ordenada necessariamente a um sistema de fins sub
neta a um sistema de nonnas que constitem o contetido
objetivo do whos Daqui decorre essa ca
lar'da Fiica como ciéndia do ethos segundo a qual, sendo ela uma
reflexio explicitae sistemtica do sujet ético sobre sua propria
praxis na esfera do thos, 6, 0 mesmo tempo e inseparavelmente,
finda da acio © norma do agir ou é, pela propria natureza do
Seu objeto formal, uma. eéncia pratca
No correr do discurso dessa nossa Introducio & Ftica flosficn
conjugamse, a cada paseo do desenvolvimento do texto, 08 dois
Shpecton sstruturale tdeoligico normative da praxis dca, que Tepresen
tam igualmente suas duas dimensdes subjlion e objeina, No entanto,
maior lareza da ordem das razdes, pareceu aconselha-
amente 0 aspecto esirutural do agir ético ou sua
dimensio subjetiva se como agir do indeiduo seja, analogicamente,
Come agit da comundade cia para, em seguida, expor 0 aspecto
tebsigiconormative ov 2 dimensio objtica constitativa do universo
ttico a0 qual o agit individual-comunitacio se refere ¢ no qual esto
presentes tanto © individuo como a comunidad. A primeira patte
Sora dedicada 0 estudo da praxis dca em sua esdéncia, em suas di
mensdes constinutivas. Ela perinanece por conseguinte, do ponto de
AistaUigico, num plano alsa. efetiva realizacio da praxis se dna
vida iia conereta, como continidage dos alos que se estraturam
tm habitos ou virtudesespecificamente distntas segundo a distingo
de seus edjeas, ow scj, dos fins e valores a0s quais 0 ao se ordeta
.
ESTRUTURA CONCEPTUAL DA ETICA
{ segunda parte trataré, portanto, da existéncia ética concreta, a sa-
ido exercicio ordenado das virfudes por parte do agente
fila do organismo virmoso no individio € na comunidade gue
j-em suina, nossa vida propriamente. humana.
“A tgica interna de nossa exposigao obedecera & ordem namur
jp discurso, O ponto de partida na exposicio de cada nove tema é
pre © universal que, auravés da mediagio ou determinacio do
cular, assume Finalmente o singular na esfera de sua inteligibi-
thide, Na exposicio do agir étco, 0 momento do universal conjuga
Jum lado 0 universal do sujeito —a inteligéncia ¢ a liberdade em
130 prtico —de outro, © universal do objeto — o fim como Bem.
se tratando do movimento imanente da praxis, a passagem a0
cular nao se di por uma determinacao extinseca, mas pela nuto-
srminacio da liberdade, tendo sido 0
“snjeito, nele interiorizado pela ass
Bom que é, p ;
Fao atual do sueito ¢, por outro, realizacio atualdo ethos. A mesma
fenagio ligica se verifica na exposigio da existinda dea que &
imento dialético de passagem do universal 20 singular pela me-
10 do particular, movido por uma necessidade simplesmente
ia ou natural, Estamos aqui diante de
jy shia expressio origindria, que traduz
{ praxis. Como categoria antropol6gica'
(a outra € a inteligincia) do movimento de identidade reflesiva
jo na medida em que se abre a0 ac
b valor, Nesse movimento, portanto, a liberdade, ou meth
“to lim, © autodtermina em vista de sua aceta
B endo, pois, determinado por nenkuma difirenca ex
Fab extva, 0 que seria c idgia de
NATUREZA E ESTRUTURA DO CAMPO [5F1CO
sim, que nos nentos da estrutura conceptual da
jplicadas as duas pressuposicoes, » sa.@ aniropolé-
zgica, que asseguram o fundamento e a coeréncia do discurso ético.
‘A primeira faz-se presente ma amplitude transcendental (coextensiva
A nocao de set) dos conceitos que formam 0 arcabouco inteligvel do
universo ético: Verdade, Bem, Fim, Lei. A segunda torna possivel a
transcrigdo no discurso ético das categorias que articulam 0 discurso
da Antropologia Filos6fica, culminando na categoria de pesson, na
qual se entrecruzam o transcendental & 0 categorial
You might also like
- Mapa 6 DBDocument1 pageMapa 6 DBpliniolucascatalan7No ratings yet
- Anexo I-A Plano de Regularização Fundiária - DOC SEI 41078189Document35 pagesAnexo I-A Plano de Regularização Fundiária - DOC SEI 41078189pliniolucascatalan7No ratings yet
- Encarte AtlasEsgotosDocument47 pagesEncarte AtlasEsgotospliniolucascatalan7No ratings yet
- 472-Texto Do Artigo-1638-2-10-20170721Document12 pages472-Texto Do Artigo-1638-2-10-20170721pliniolucascatalan7No ratings yet
- Transgnicos No Brasil - As Verdadeiras Consequncias 1Document11 pagesTransgnicos No Brasil - As Verdadeiras Consequncias 1pliniolucascatalan7No ratings yet
- Larissa Mies Bombardi Artigo Agrotoxicos 2012 - 1Document13 pagesLarissa Mies Bombardi Artigo Agrotoxicos 2012 - 1pliniolucascatalan7No ratings yet