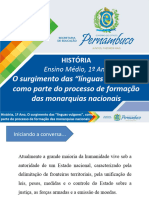Professional Documents
Culture Documents
A África Cap 5
A África Cap 5
Uploaded by
Gabriel Barros0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views22 pagesOriginal Title
A África cap 5
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views22 pagesA África Cap 5
A África Cap 5
Uploaded by
Gabriel BarrosCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 22
OS MOVIMENTOS DE
RESISTENCIA NA AFRICA
O desafio a autoridade:
a concretizagao das resisténcias
E preciso um cuidado especial para entender que,
mesmo compartilhando um conjunto de pressupostos,
‘os sistemas coloniais apresentavam-se diversos quanto &
forma e & intensidade com que utilizavam seus mecanis-
mos e instrumentos de dominagao diante da rica varie-
dade de culturas pré-coloniais africanas. Também nao
resta duvida de que a dominag3o nao foi efetiva em
todos os espagos geopoliticos, ficando, na pratica, cir-
cunscrita aos pequenos centros ¢ seus arredores, nos es-
pacos econémicos produtivos ¢ ao longo dos caminhos de escoamento dos pro-
dutos de exportagao.
De todo modo, o processo de colonizagao foi sempre marcado pela violén-
cia, pelo despropésito ¢, nao raro, pela irracionalidade da dominacao. O con-
fisco de terras, as formas compulsérias de trabalho, a cobranga abusiva de im-
postos e a violéncia simbdlica constitutiva do racismo, feriram o dinamismo
histérico dos africanos. Nao surpreende, portanto, que os movimentos de resis-
téncia tenham pipocado em todo 0 continente, criando 0 enorme e quase invid-
vel desafio de pesquisd-los criteriosamente.
Por sua vez, os estudos efetuados sobre algumas dessas experiéncias histéri-
cas caracterizam-se, no seu conjunto, por um eurocentrismo manifesto por trés
equivocos bisicos. O primeiro deles diz. respeito ao fato da pouca importancia
1, Cabe salientar que este capitulo é uma versio revisada ¢ ampliada do artigo de HERNANDEZ,
Leila M. G. Leite. “Movimentos de resisténcia na Africa”. Revista de Histéria, Departamento de
Histéria. FFLCH/USP. Sao Paulo, n. 141, 2° semestre, 1999, p. 141-150.
110 LEILA LEITE HERNANDEZ
atribufda ao préprio tema da resisténcia, justificada pela crenga de que os afri-
canos teriam se resignado a “pacificagao” européia.
O segundo equivoco refere-se aos estudos que identificam os movimentos
de resisténcia como de pequena envergadura, desorganizados e impulsionados
por ideologias qualificadas como irracionais, uma vez que compostos por
crengas “fetichistas” e, em decorréncia, “conservadoras”. Daf o fato de serem
considerados “insignificantes”, nao apresentando conseqiiéncias importantes
em seu tempo.
Jao terceiro equivoco é 0 despropésito de classificar as sociedades africanas
entre aquelas que possuem organizacao social hierarquizada e poder politico
fortemente centralizado e, por isso, sto consideradas “naturalmente belicosas”,
€ as que se apresentam hierarquizadas de forma débil e difusa e tém um poder
politico descentralizado, sendo por conseqiiéncia caracterizadas como “natural-
mente pacificas”.” Ora, essas andlises nao se sustentam historicamente, uma vez
que a grande maioria das organizac6es sociopoliticas afticanas buscaram, em
algum momento, uma base de colaboragao com os europeus e, em outros, en-
traram em confronto com eles em defesa de interesses ou valores que considera-
vam fundamentais.
Ao lado desse conjunto de equivocos, 0 historiador Terence Ranger, um
dos grandes especialistas dos movimentos de resisténcia na Africa, em particular
na ocidental, ressalta que convém reconhecer com clareza a necessidade de uma
soma de esforcos para que, mediante um maior ntimero de cuidadosas pesqui-
sas, torne-se possivel identificar e classificar os movimentos de resisténcia com
maior rigor.>
Uma observacao tem de ser feita, nesse ponto, sobre a dificuldade de pen-
sar os movimentos de resisténcia. Ha diferencas, mas também razées comuns,
que fazem esses movimentos praticamente impossfveis de ser tratados por qual-
quer discurso linear. Também esse € um problema que dificulta a selegdo dos
movimentos ¢ a sua rigorosa classificagio. No momento em que se constitui-
ram, assim como naqueles em que eclodiram, os movimentos permitiram
identificar um entrelagamento de diferentes planos, como o politico e 0 econé-
mico, ou o polftico ¢ o cultural (no sentido amplo do termo), desafiando o
pesquisador a identificar qual motivo predominou sobre os demais. Nesse sen-
tido, é possfvel reconhecer como raz6es relativamente diretas das revoltas que
eclodiram, em particular, (mas nao s6) entre 1880 e 1914: a perda da sobera-
2. THORNTON, op. cit, v. IV.
3. Este capitulo foi inspirado no artigo de RANGER, Terence “Iniciativas ¢ resisténcia africanas em
face da partilha ¢ da conquista”. /m: BOAHEN, op. cit., p. 69-86.
A AFRICA NA SALA DE AULA il
nia, a quebra da legitimidade, as idéias religiosas, 0 despropésito de mecanis-
mos econdémicos € a corrosao e a repressdo As manifestag6es culturais, salientan-
do que grande parte das vezes alguns desses elementos apresentaram-se de
maneira articulada.
Quando se fala em perda de soberania é preciso deixar claro que ela
apresentava-se historicamente combinada com a prépria conjuntura de consti-
tuigdo do sistema colonial, dando ensejo para que um movimento de resisténcia
refletisse multiplas raz6es de descontentamento. Exemplo significativo foi o da
Argélia, em 1830, quando o governo francés, invocando os ataques piratas nos
postos do Mediterraneo, ocupou o territério argelino.
A resposta foi uma resisténcia constante e organizada por parte da popu-
lagao arabe que, além de ser zelosa de sua soberania, nao aceitava as polfticas €
os métodos executados pela burocracia colonial européia, os quais eram in-
compativeis com uma administragéo com raizes islamicas, fundada em um
sistema moral santificado. Cem anos depois, em 1930, Ferhat Abbas observou
com justeza:
A colonizagio constitui apenas uma empreitada militar e econémica, posteriormente
defendida por um regime administrativo apropriado; para os argelinos, contudo, é
uma verdadeira revolucéo que vem transtornar todo um antigo mundo de crengas ¢
idéias, um modo secular de existéncia. Coloca todo um povo diante de stibita mu-
danga. Uma nagio inteira, sem estar preparada para isso, vé-se obrigada a se adaptar
ou, senao, sucumbir. Tal situagio conduz necessariamente a um desequilibrio moral
¢ material, cuja esterilidade nao est longe da desintegragao completa.
Essas consideragées dao conta de como a alienagao da soberania trouxe a
perda da independéncia e da liberdade, dando ensejo a resisténcia constante por
parte das populagées locais ao governo colonial francés, destacando-se a guerra
liderada por Abd-al-Qadir que durou de 1834 a 1847, quando foi sufocada por
um exército de cerca de cem mil soldados franceses. O exemplo deste e de
outros movimentos de resisténcia pela perda da soberania permitem observar
que o significado de “soberania”, para a maior parte das sociedades africanas,
teve limites que excediam o poder politico considerado de forma restrita. Em
outras palavras, em grande parte das sociedades africanas 0 poder de mando era
4, Sobre o tema das lutas de resisténcia na costa atlantica consultar: MACGAFFEY, Wyatt. Dialogue
of the deaf Europeans on the Atlantic Coast of Africa. Cambridge: University of Cambridge Press,
1994.
5. Apud BERQUE, J. Les Maghreb entre deux guerres. 2. ed. Paris: Du Seuil, 1970.
112 LEILA LEITE HERNANDEZ
supremo mas nao exclusivo, ou seja, era partilhado entre a organizacio politica
a social fundada na religiosidade.
Ainda nessa diregao pode-se acrescentar que os paises setentrionais, no seu
conjunto, provavelmente foram os que apresentaram mais resisténcia diante da per-
da de sua soberania. Milhares de sudaneses (em particular nas revoluges de 1881 a
1884 e nos levantes entre os anos de 1900 e 1904), egfpcios (quando da revolugao
urabista entre 1860 e 1882) e somalis (entre 1884 e 1894) perderam suas vidas em
confronto com as tropas coloniais britanicas. Eram movidos por um sentimento
patridtico fundido a um sentimento religioso fortemente arraigado. Significa dizer
que essas populagées lutaram pela defesa do seu territério e de sua fé, uma vez que
lhes era inaceitdvel, como islamizados, ser submissos no plano politico a uma po-
téncia crista, no caso, a Gré-Bretanha.°
Por sua vez, também em outras regides da Africa, o papel das idéias religiosas
nos movimentos de resisténcia foi de tal relevancia que colocou aos pesquisadores
a necessidade de ressalté-lo, reconhecendo que as doutrinas ¢ os simbolos religio-
sos apoiavam-se, por vezes diretamente, nas questdes da soberania e da legitimi-
dade. Essa idéia merece ser sublinhada, ao mesmo tempo que € preciso realgar a
expressio propriamente polftica contida no papel das idéias religiosas, uma vez
que o sagrado apresenta-se historicamente articulado & prépria organizagao social.
Nesse sentido, importa ressaltar que a reacao religiosa foi um forte compo-
nente nos movimentos de resisténcia na Africa, em particular entre 1880 €
1914. Melhor explicando: nos momentos em que a colonizagao se fez perturba-
dora, a religiao, em graus diferenciados, cristalizou a tomada de consciéncia, or-
ganizou 0 protesto e se converteu em instrumento de oposigao. A violéncia so-
6. E importante registrar que, desde o século VII, os érabes da Peninsula Arabica invadiram a Africa
por meio do Egito ¢ de alguns pontos da regiao setentrional com 0 objetivo de obter escravos e
nao a conversio de “infiéis”. A esse movimento expansionista seguiram-se os dos séculos VIIL
(com as dinastias dos Omiadas ¢ Abcidas, quando se desenvolveu o islamismo como religiao);
IX (partindo do Iraque meridional para a bordadura setentrional do Sara e de Tripoli para oeste
até o Atlantico); X (quando se identificou a unidade entre Oriente Préximo ¢ Magrebe em torno
do Isla); XI (com os Almordvidas que assumiram 0 poder no Marrocos, invadiram ¢ desintegra-
ram 0 “reinado” negro de Gana); ¢ XIX, (quando a vaga de difusio do Isla na Africa ocidental
cluiu o estabelecimento do sultanato de Sokoto; as expansoes diferenciadas de “Estados” isla
cos como dos malinkes ¢ dos soninkes; ¢ 0 fortalecimento dos “reinos” como os de Ashanti, de
Daomé e Benin, em decorréncia do processo de expansio em toda a Costa dos Escravos). Con-
sultar NIANE, D. T. (coord.). Histéria geral da Africa. A Africa do século XII ao século XVI, v. IV.
Sao Paulo: Aticas Paris: Unesco, 1985. Vale lembrar que para as palavras drabes utilizadas neste
livro foi adotado o sistema de transliteragdo usado pos SOURDEL, Dominique et Janine. Dictio-
naire historique de I'Islam. Paris: PUF, 1996.
A AFRICA NA SALA DE AULA 113,
frida, por um lado, e a impoténcia material pelo outro, favoreceram o recurso
ao sagrado como afirmagao cultural.
Foi 0 caso da rebeliéo de Mamadou Lamine, envolvendo os soninkes do
Alto Senegal, entre 1898 e 1901. A organizacio do movimento deu-se em
torno da crenga de que por revelagao divina os mugulmanos, segundo a me-
méria do que o profeta tinha feito e dito, condensada na Sunna, estavam proi-
bidos de viver sob uma autoridade nao-islamica e, portanto, deveriam se rebelar
contra o trabalho forcado nas obras de construcSo da linha telegrafica ¢ da es-
trada de ferro ligando Kayes ao Niger, cujo objetivo era dar escoamento as ma-
térias-primas para exportagao de acordo com os interesses europeus. Ao traba-
Iho extenuante somava-se a precariedade das condig6es de vida, acarretando
elevada taxa de mortalidade (veja mapa 5.1).
Derrotado na cidade de Bakel, simbolo da presenga francesa, mas persis-
tindo na luta, Mamadou Lamine adotou a tatica de guerrilha e o banditismo,
organizando um bloqueio e, depois, 0 assalto a uma cidade préxima, Tou-
ba-Kouta. Mas seu quartel-general foi destrufdo por uma granada e o catali-
sador do movimento, feito prisioneiro ¢ executado. Assim, nem o grande nti-
mero de adeptos, “fandticos” religiosos conseguiu impedir que 0 movimento
fosse debelado, em nome da ordem e do indiscutfvel princfpio da autorida-
de. Conforme Angoulvant:
Da parte dos indigenas, a aceitacio de tal principio deve se traduzir pela deferéncia
na acolhida, pelo respeito absoluto aos nossos representantes, sejam eles quais forem,
pelo pagamento integral do imposto [...] pela boa cooperagao dada a construgao de
caminhos ¢ de estrada, [...] pela observagio de nossos conselhos relativos & necessi-
dade do trabalho, pelo recurso & nossa justiga [..]. As manifestagoes de impaciéncia
ou de falta de respeito para com a nossa autoridade, as faltas deliberadas de boa von-
tade, tém de ser reprimidas sem demora.”
Também extremamente significativa foi a Rebeliao Ashanti, na entao
Costa do Ouro (atual Gana), que durou dez anos, de 1890 a 1900, em uma
encarnigada luta contra o dominio britanico representado pelo governador
Arnold Hodgson. Essa rebeligo é um exemplo modelar da violagao de mando
com reconhecida legitimidade advinda do fato de ser consagrada por investi-
dura ritual. Ela decorreu da deposigao de grande numero de chefes tradicio-
7. Esse é um trecho significativo da declaragao, em 1908, do governador francés da Costa do Mar-
fim, SERET-CANALE. In: French colonialism in tropical Africa: 1900-1945. Londres: C. Hurst,
1971. p. 97-98.
LEILA LEITE HERNANDEZ
114
[az6t ‘35va we opeaseq]
A AFRICA NA SALA DE AULA 115
nais por parte da burocracia colonial britanica, envolvendo, portanto, a viola-
¢a0 do cardter sagrado da realeza nos planos religioso e de uma importante
manifestagao cultural (veja mapa 5.2).
Seguiu-se a nomeagao de outros chefes locais designados, que careciam de
legitimidade perante a populagao, e foram encarregados, inclusive, da cobranca
de 4 xelins por cabeca como indenizagao por uma rebeliao em 1887. Por fim, o
governo britanico exigiu que o seu representante se sentasse no Tamborete de
Ouro, simbolo da alma ashanti e da sua sobrevivéncia como nagio e, por isso,
instrumento de consagracio da legitimidade dos seus chefes. A indignacao dos
ashantis levou praticamente todos os “Estados” importantes a enfrentar os in-
gleses em intimeras batalhas sangrentas, debeladas sé depois da prisdo e da de-
portacao da lider, a “rainha” de Edweso, Nana Yaa Asantewaa, e de varios gene-
rais ashantis, em 1900.°
Outra revolta que tem de ser lembrada é a dos maji-majis, na entao Africa
Oriental Alema (depois Tanganica e hoje Tanzania), de julho de 1905 a agosto
de 1907, liderada por Kinjikitile Ngwale. Esse conflito se constituiu no mais
grave desafio ao colonialismo na Africa oriental até 1914. Nele, a religido ea
magia foram utilizadas como meios de revolta contra os primeiros vinte anos de
histéria da colonizacao alema, marcados pela crueldade, pela injustiga e pela ex-
ploragao, quando os “autéctones” foram desapossados de suas terras, de seus la-
res e de sua liberdade, ao mesmo tempo que lhes foram impostos trabalhos for-
¢ados sob mas condigées, cobrangas de impostos excessivos e maus-tratos.”
A causa imediata do levante foi a introdugao da cultura comunitaria do
algodao, na qual a populagao era obrigada a trabalhar por um salario tao irri-
sério que alguns se recusavam a receber. E interessante chamar a atengio para
a particularidade dessa luta. Os maji-majis nao eram contra a cultura do algo-
dao em si, mas contra todo tipo de cultura imposta que explorasse 0 seu traba-
lho e constituisse séria ameaga 4 economia doméstica africana, uma vez que
eram obrigados a deixar as suas prdprias dreas de cultivo em favor daquelas sob
dominio das empresas agricolas puiblicas.
Para unir cerca de vinte grupos etnoculturais diferentes e combater a ferre-
nha dominagéo alema, Kinjikitile recorreu as suas crengas religiosas, atrelan-
do-as aos principios tradicionais de unidade e liberdade préprios dos povos afri-
8. simbolismo referente a0 ouro permanece presente na cultura ashanti até os dias atuais. A esse
respeito, é especialmente sedutora a andlise de APPIAH, Kwame Anthony em “Velhos deuses, no-
vos mundos”. In: Na casa de meu pai:.... cit, p. 155-192.
9. GWASSA, Gilbert C. K. “African methods of warfare during the Magi Magi War 1905-1907”.
In: OGOT, Betwell A. War at society in Africa. Londres: Frank Cass, 1974.
LEILA LEITE HERNANDEZ
116
[e26t ‘3Dv4 we opeoseg]
“ooTupyEg OUTAA08 0 BUDD
aS-wueIe]Eqa1 0061 & O68 ap OpueNb syULYse so ered anbejsap woo woLyy ep sorod a seayyod sagseztue81Q -7'¢
A AFRICA NA SALA DE AULA 117
canos da regiao. Com essa bandeira de luta os grupos se uniram, acreditando
que a guerra era um designio divino e que seus ancestrais regressariam & vida
terrena para ajuda-los nessa empreitada.
Para ressaltar e dar concretude a unidade das varias etnias, Kinjikitile promo-
yeu a constru¢do de um enorme altar, ao qual chamou “a casa de Deus”, e nele
passou a preparar 0 Maji, isto é, uma dgua tida como medicinal e sagrada, com po-
der de tornar todos os africanos que a bebessem invulnerdveis & artilharia européia.
A guerra estalou na tiltima semana de julho de 1905 e as primeiras vitimas
foram o fundador do movimento e seu auxiliar mais préximo, enforcados no
dia 4 de agosto do mesmo ano. O pai de Kinjikitile reergueu a bandeira do mo-
imento, assumindo o titulo de Nyanguni, uma das trés grandes divindades da
regiao, e continuou a ministrar 0 Maji. Mas 0 movimento acabou sendo brutal-
mente reprimido pelas autoridades coloniais alem:
Debelado o movimento, as sociedades tradicionais foram quase totalmente
extintas. No entanto, a atividade dos profetas nessa regiao prosseguiu ao longo
das duas décadas seguintes, para se ampliar apés a Segunda Guerra Mundial,
culminando com a independéncia nos anos 1960.
A importancia desse movimento foi notéria, em primeiro lugar, por sua
extensdo, uma vez que se alastrou por uma drea de aproximadamente 26 mil
quilémetros quadrados, englobando parte da regiao meridional e a regiao sul
da Africa Oriental Alem’. Em segundo lugar, esse movimento foi bem mais
complexo do que os anteriores nas varias Africas, porquanto, transcendendo
as fronteiras étnicas, superou a lingua e outros particularismos culturais, pro-
movendo transformagées fundamentais que atingiram a prépria organizagio
tradicional dos “autéctones”. Em terceiro lugar, destacou-se por ter abalado a
burocracia colonial alema, levando-a ao abandono da politica comunitdria da
cultura do algodao. Também a forgou a promover algumas reformas no ambi-
to da prépria estrutura colonial, sobretudo no recrutamento e na utilizagio da
mio-de-obra em formas compulsérias de trabalho, sem, contudo, alterar a
natureza do colonialismo fundado na violéncia, na irracionalidade e no des-
propésito da dominagao. De todo modo, por sua amplitude e por seus desdo-
10. A historiografia aponta a importancia dos movimentos messianicos, proféticos ¢ milenaristas ¢
sua variedade em diversas regides do continente africano. Vale registrar dois artigos classicos: 0
primeiro, de GWASSA, Gilbert C. “Kinjikitile and the ideology of Maji-Maji”. Ja: RANGER,
Terence; KIMAMBO, Isoria (eds.). The historical studies of African religion: with special refe-
rences to East and Central Africa. Londres: Hanemann, 1972. O segundo é de autoria de
COQUERY-VIDROVITCH, C. e MONIOT, H. “Movimentos religiosos”. Jn: Africa negra de 1800
a nuestros dias. Barcelona: Labor, 1985. p. 252-263.
118 LEILA LEITE HERNANDEZ
bramentos, essa rebeliao é consensualmente reconhecida como a primeira ma-
nifestagao de “protonacionalismo” na Africa Oriental Alem (veja mapa 5.3).
Também significativo é 0 exemplo da revolta de Maluma, em 1909, na Ni-
assalandia. Sacerdote dos Tonga e com reconhecida legitimidade por seu papel
ancestral de guardido espiritual, Maluma liderou um movimento politico-racial
com o objetivo de os homens negros colonizados expulsarem os colonizadores,
homens brancos. Foi uma luta marcada por extrema violéncia e debelada com
requintes de crueldade.
Outro exemplo de registro foi o movimento organizado em 1913, Proteto-
rado Britanico da Africa Oriental (atual Quénia). Liderado por seu fundador,
Onyango Dandé, partiu do pafs Luo, expandiu-se para o Abagusii e, articulan-
do religiao e politica, pregava a expulsao dos europeus e, com eles, da “podre
religido crista”.
Nao menos importantes foram os movimentos cujo motivo mais préximo de
eclosio era de ordem econdmica. Em geral, estiveram presentes nas vérias regides
da Africa e decorreram, entre outras razées, da perda de terras e da cobranga de
impostos abusivos. Nesse contexto, o exemplo da rebeliéo provocada pelo impos-
to da palhota em Serra Leoa, em 1898, é paradigmético (veja mapa 5.4).
Essa rebelido foi uma reacdo dos temnes e dos mendes diante de um con-
junto de medidas administrativo-jurfdicas por parte do dominio britanico, tais
como as que impunham aos povos: a perda de suas terras; as formas compulsé-
tias de trabalho; a aboligao do trafico de escravos na regiao; 0 desenvolvimento
de uma forga armada de “nativos” a servico do sistema colonial; ¢ a nomeagao
de administradores de distrito. Mas foi sobretudo a imposigao de uma taxa
anual de 5 xelins sobre as palhotas (habitagGes) de duas peas (cémodos) e de
10 xelins sobre as de maiores dimensées, a causa mais imediata da rebeliao, que
ficou por isso conhecida como “a rebeliaéo do imposto da palhota”.
Os temnes decidiram pelo nao-pagamento dos impostos. Além disso, con-
taram com o apoio dos mendes, estendendo 0 movimento por cerca de trés
quartos do territério. Organizados, colheram de surpresa a burocracia colonial,
matando funciondrios e soldados britanicos, além de todos os africanos suspei-
tos de colaborar com a administracao colonial.
Com os esforgos de duas companhias de soldados provenientes de Lagos, a
rebelido foi sufocada deixando, no entanto, um forte descontentamento dos po-
vos africanos em relagao ao aparato administrativo-juridico do sistema colonial,
relatado no depoimento do entao governador britanico de Serra Leoa:
A AFRICA NA SALA DE AULA 119
OCEANO
inDIco
5.3 - Zona dos principais movimentos de resisténcia na Africa oriental, com
destaque paraa regido da revolta dos maji majis.
Zona acholi & Zona akamba
Regido da Revolta Maji Maji e os fi Zona tonga da Niassalandia
principais povos que dela participaram
[Baseado em FAGE, 1978]
LEILA LEITE HERNANDEZ
120
[826T “39v4 we opeaseg]
“S681 wa“, eyoyted ep ojsodunt op
ovrjaqas,, ep seystuoSejord ‘sapuaut a sauttay so ered anbeysap wiod eoLyy ep soaod a seonyjod sagdeztue8iQ - #°¢
ODUNYUY ONV330
A AFRICA NA SALA DE AULA 121
O indigena comega a compreender a forca que representa, ao ver a importancia que o
branco dé aos produtos do seu pais ¢ ao seu trabalho, de modo que 0 branco nao po-
deré mais, no futuro, aproveitar-se tanto como antes da sua simplicidade e da sua
ignorancia no mundo."
Outros exemplos merecem registro. Entre os acholis, povo da parte seten-
trional de Uganda, no ano de 1911 ocorreu uma forte reagao, sobretudo contra
© recrutamento de mao-de-obra, embora a esse motivo se somasse o da tentativa
dos colonizadores ingleses de desarmé-los, obrigando-os a entregar seus fuzis.'”
Por sua vez, contra o trabalho forcado e 0 exagero da tributacao foram regis-
trados movimentos, especialmente em Mocambique, de onde os afticanos eram
exportados para as grandes plantagées de cacau de Sao Tomé e para a exploracio
de minérios na Rodésia do Sul (hoje Zimbabue) ¢ na Unido Sul Africana (hoje
Africa do Sul). Também, contra 0 trabalho forgado, em particular na coleta de
borracha, foram varios os movimentos que eclodiram no Congo em princfpios
do século Xx, chegando a mais de uma dezena por ano. A estes somaram-se nu-
merosas outras insurgéncias contra o trabalho forgado nas minas e ferrovias.
Por raz6es semelhantes, eclodiu a Revolta dos Akambas, no Protetorado
Britanico da Africa Oriental (hoje Quénia), em 1911, impulsionada pela lider
Sistume, que se auto-identificava como “possuida pelo Espirito”, contra a perda
de terras, a tributac4o exagerada e o trabalho forgado. Mas foi de fato um jo-
vem, Kamba, quem conduziu e liderou 0 movimento, transformando-o em
protesto contra o colonialismo. Esse movimento apresentou uma particularida-
de, qual seja, a de também serem razdes de luta a falta de liberdade e a corrosio
cultural, promovidas pela imposigao dos padrées da civilizagao ocidental.'>
No que se refere particularmente a esfera cultural, cabe registrar que a cor-
rosdo e a repress4o culturais deram ensejo a formas de resisténcia centradas em
movimentos de reafirmacao cultural em diversas regides da Africa. Os exemplos
so varios e, embora caregam ser mais estudados como fenédmenos sociais, jd é
sabido que nao podem ser considerados sem importancia ou mesmo marginais
ao tema da resisténcia. Um desses fenémenos é de grande interesse. Refere-se a
uma manifestagao presente em todo o século XIX, qual seja, a atividade do tea-
tro profissional no velho Império Oié da Nigéria. Derivava das representages
11, Apud GUEYE, M. Baye ¢ BOAHEN, A. A. “Iniciativas ¢ resisténcia africanas na Africa ocidental,
1880-1919", Jn: BOAHEN, op. cit., p. 160.
12. Consultar 0 mapa 5.3, p. 119.
13. Consultar 0 mapa 5.3, p. 119.
122 LEILA LEITE HERNANDEZ
feitas com mascaras para os funerais dos “reis”, as quais, segundo a crenga, pro-
tegiam toda a populacao.
Todavia com a desintegracao do “império”, decorrente de raz6es tanto en-
dégenas (as guerras civis em Oid) como exégenas (0 ataque dos peuls, povos is-
lamizados do Norte), os grupos teatrais se dispersaram em direco ao sul, ultra-
passando as fronteiras de Daomé e extinguindo-se, portanto, no local de
origem. Os vencedores muculmanos proibiram a maioria das formas teatrais,
sobretudo aquelas associadas as festas dos antepassados que continham repre-
sentago de figuras humanas. Esse trabalho do Isla foi completado pelos missio-
narios cristéos que, avangando da costa em dirego ao norte, proibiram os fiéis
de participar das representagGes teatrais. E que estas eram fundadas, desde a sua
génese, em temas especificamente tradicionais, e qualificadas pelos missiondrios
como “cultos diabélicos”, motivando a sua proibigo (veja mapa 5.5).
Esse teatro tornou-se, a partir dai, uma forca de resisténcia as culturas isla-
mica e crista e algumas de suas raizes perduraram, ressurgindo no pés-indepen-
déncia na regido meridional da Nigéria. E um exemplo cléssico de repressdo
cultural que atesta como as formas de dominagao incidiram nas expressdes e
nos valores culturais, fossem eles revestidos pelo aspecto religioso, fossem de ca-
racteristicas propriamente sociais, forcando a sua reorganizacao e, por vezes, a
sua propria recriagao.
Recordem-se ainda mais trés movimentos, exemplos sugestivos da combi-
naco entre motivos econdmicos e culturais, que eclodiram na primeira década
do século XX, no Sudoeste Afticano (hoje Namfbia), em Angola e na Unido Sul
Africana (hoje Africa do Sul). O primeiro deles foi um movimento do povo herero,
ocorrido, em 1904, Sudoeste Africano, de colonizagao alema. Sob a lideranga de Sa-
muel Maherero, os hereros se insurgiram como conseqiiéncia imediata dos confiscos
de terra e gado. Destrufram fazendas, capturaram o gado e mataram cerca de uma
centena de colonizadores alemaes (veja mapa 5.6).
Os massacres contra 0 povo herero nao tardaram, sendo cerca de 80 mil
africanos (aproximadamente 80% da populagao) dizimados, enquanto por vol-
ta de 14 mil foram confinados em campos de concentragao. Vale a pena obser-
var que nesse movimento salta aos olhos a estreita relagdo entre a violéncia ine-
rente as prdprias relagdes econémicas € o rico espectro sociocultural garantidor
da cooptacao e da organizacao combativa dos hereros. Nao causa, por isso, es-
tranheza que a administracao alema tenha proibido a reconstituigao de institui-
14, Essa importante questio é tratada por SOYINKA, Wole no seu artigo “As artes na Africa durante
a dominagio colonial”. Jn: BOAHEN, op. cit., p. 549-573.
123
A AFRICA NA SALA DE AULA
[8261 ‘39v4 we opeaseg)
“sremnyqno ovssaidou v9 ovs0.1109 & e.4]UOD SOLIBUTTAOU WLI81I030 BpUO S91
sop ovsiadsip & a 019 ap apepld eSyue e
‘nad onod 0 as-opuvdejsap ‘sagreured SO d B30 A OI O aNUA OVISay - ¢°¢
ODUNYUY ONV330
LEILA LEITE HERNANDEZ
124
[8261 ‘39v4 wa opeasea]
*(F06T) Sosas0y So OpuLdeysap PITT ep IANOd ORsTAIC - 9°¢
ODIGN}
ONva90
VIGNVTVSSVL
‘TW.LNATIO
voriy
> WNVORAV
71ns
., VIsaadou
ONVORIV
aLsaoqans
aLUON OG
OSUNYILY
ONV330
VIOONV
OSNOD
Od duATT
oavisa
VoRmdy
A AFRICA NA SALA DE AULA 125
ges etnoculturais ¢ a pratica de ceriménias tradicionais. Além disso, os hereros
tiveram de se converter em massa ao cristianismo.'”
Quanto a Angola, ¢ importante registrar a Revolta dos Bailundos, entre
os anos de 1902 ¢ 1904, que, tendo como chefe Muta-Ya-Kavela, contou nao
sé com o apoio de varios “reinos” umbundos aparentados, como também
com a adesao de alguns pequenos “reinos” ovambos. Invocando lagos ances-
trais comuns, esse importante movimento, que contou com ampla base de
apoio, atraiu varios grupos etnoculturais contra a imposicao de padrées e va-
lores culturais ocidentais que agrediam suas cosmogonias. Obtiveram alguns
éxitos importantes, ainda que por curto tempo, como a expulsao de comerci
antes e de colonos portugueses das montanhas ovimbundo: os primeiros, por-
que promoveram a desarticulagao de intercambios locais; os segundos, por te-
rem confiscado suas terras.'®
Por fim, ainda que no ambito de um levantamento sumdrio de exemplos
dos movimentos de resisténcia, encontra-se como referéncia obrigatéria a Re-
volta Bambata. Ela, de inicio, insere-se em um conjunto de lutas sucessivas
entre os zulus (que viviam ao sul do rio Limpopo) e os africanderes (do Trans-
vaal) e, a partir de 1879, dos zulus contra a viruléncia britdnica (veja mapa 5.7).
Bambata constituiu um conflito armado que durou de 1906 a 1908, contra
© colonialismo e a ocidentalizagao imposta pelos administradores coloniais e re-
forgada pelos missiondrios britanicos (presbiterianos e metodistas) que, convenci-
dos da justeza da imposicao do “poderio, da riqueza e da técnica” da civilizagao
branca, assimilando o colonialismo a cristianizagao, combateram violentamente a
“barbarie e o fetichismo” dos povos da Africa meridional e dos zulus em particu-
lar. Mas, ainda que tenham sido submetidos a forga, 4 colonizagao britanica, os
zulus, extremamente apegados as suas tradig6es, néo sucumbiram & ocidentaliza-
G40, mantendo muito de suas crengas e tradigées até os dias de hoje.
A resisténcia cotidiana e o banditismo social
Ha alguns fios por atar. Este capitulo foi iniciado apresentando os pressu-
postos sugeridos por Terence Ranger e, para demonstré-los, descreveu-se e ca-
racterizou-se um conjunto de agoes coletivas configurando confrontos contra a
15. Com referéncia aos hereros ¢ importante consultar CARVALHO, Ruy Duarte de. Vou ld visitar
pastores: exploracdo epistolar de um percurso angolano em territério Kuvale (1992-1997). Rio de Ja~
neiro: Gryphus, 2000.
16. Consultar PELISSIER, René. Histéria das campanhas de Angola: resisténcias e revoltas (1845-1941).
2% ed. vol. I. Lisboa: Estampa, 1997.
126 LEILA LEITE HERNANDEZ
ESTADO ‘ “
uvrevo—! Lung; Ryn, TANGANICA
‘CONGO |
> Bemba Vn tt
1 QasN Me hee gun
octet Ss co \HOGAMBIQUE
DO NORTE Nguni_ a "
sean
5.7 - Divisao politica e povos do sul da Africa, destacando-se os que resistiram a
aspectos do colonialismo.
© Cidades
—+— Fronteira internacional apés a partilha.
0 curso dos rios Orange, Molopo e Limpopo formam
tuma fronteira natural utilizadarna partifia.
[Baseado em FAGE, 1978]
A AFRICA NA SALA DE AULA 127
imposigao do sistema colonial. Apresentou-se movimentos organizados, muitos
dos quais com evidentes repercussées em seu tempo. Os exemplos histéricos
permitiram reconhecer 0 dinamismo das varias dimensdes da vida social dos
africanos ¢ identificar ideologias dos movimentos de resisténcia.
E possivel chamar uma vez mais a aten¢do para o fato de que os estudos
acerca da resisténcia podem ser divididos em dois grandes grupos: os que se
apresentam permeados de preconceitos, pré-nogGes ¢ lacunas de conhecimento,
€ 0s que propdem uma anilise critica da historiografia como precondi¢ao para
as pesquisas sobre tema, os quais nortearam a escolha dos exemplos apresenta-
dos. Evidentemente isso nao é pouco, mas impée recortes no objeto de pesqui-
sa; no conjunto, a “nova historiografia” acerca dos movimentos de resisténcia, a
partir de 1980, concentrou-se sobretudo nos movimentos organizados de maior
envergadura, alguns apresentando desdobramentos em seu tempo.
O que se pode acrescentar é que nas condigées opressivas dos anos de colo-
nialismo, em particular de 1880 a 1914, também sio sugestivos para exame
outros fenémenos sociais de protesto, pouco tratados por serem episddicos, de
Ppequena extensao e amplitude.
Mas € possivel sustentar que, de modo geral, a historiografia tem conside-
rado esses fendmenos sociais como marginais, também pelo fato de suas reivin-
dicagées terem se apresentado, na maior parte das vezes, um tanto difusas.
Ainda assim, insistimos que recuperé-los significa romper com as formas tradi-
cionais de pensar as sociedades africanas sob os colonialismos, ampliando a
compreensio dos elementos que garantiram e instrumentalizaram a subordina-
40 dos afticanos, como suas incertezas e seus descontentamentos diante da po-
breza e da injustiga social.
Nao obstante as dificuldades de andlise, ¢ possfvel reconhecer nao sé a
importancia de formas de protesto social cotidiano, como a agao do banditismo
social, ocorridas nas dreas predominantemente rurais nas quais as estruturas co-
loniais foram limitadamente invasivas. Quanto & resisténcia cotidiana, algumas
formas mais usadas foram as doengas simuladas, o ritmo lento de trabalho, as
fugas, a sabotagem de equipamentos, as queimadas (por exemplo, de entrepos-
t0s), as pilhagens de armazéns das companhias concessiondrias ¢ de negociantes
locais, a destruigdo de meios de transporte ¢ de linhas de comunicaco e as fu-
gas para zonas desabitadas, criando enclaves auténomos.
Hé fortes indicios de que algumas dessas manifestagdes guardavam uma re-
lagao de protesto com o desenvolvimento de forcas policiais, formadas por afri-
canos recrutados entre mercendrios ¢ seus aliados, como instrumentos adminis-
trativos coibidores de quaisquer formas consideradas de perturbagao da ordem.
128 LEILA LEITE HERNANDEZ
Alias, os referidos policiais tinham a fungo de intimidar os africanos e de con-
trolar os chefes locais, sendo essa raz4o, em si mesma, causadora de incontdveis
embates, sobretudo na Africa Central, como as agitages contra a Forga Ptiblica
no Congo, os Guerras Pretas em Angola, ¢ os sipaios e a Policia Nativa na Ro-
désia do Norte (hoje Zambia).
Por fim, deve-se ressaltar a importancia da atuacao de bandidos sociais, for-
ma arcaica de protesto social organizado, cujo exemplo significativo foi o de
Mapondera. Esse bandido social, heréi das massas rurais da regio meridional
de Mogambique, obteve alguns sucessos contra as tropas coloniais portuguesas
e da Rodésia do Sul (hoje Zimbdbue), de 1892 a 1903. Protegia os trabalha-
dores do campo contra os recrutadores de mao-de-obra, os coletores de impos-
tos, a exploracao pelos agentes das companhias e o desmando por parte dos
administradores coloniais.
Mapondera e seus partiddrios atacavam repetidamente entrepostos da
Companhia da Zambézia ¢ as lojas dos mercadores rurais, simbolos de explora-
¢40 econémica. Defendiam, assim, a populagao dos excessos préprios da domi-
nagio exercida pelos governantes locais europeus, identificados como responsd-
veis por sua sujeicio, submissao e, sobretudo, por sua extrema pobreza. Deve-se
reconhecer que esse é um fendmeno dificil de analisar, em especial porque a
agao de Mapondera passou a integrar o imagindrio popular da regiao, dificul-
tando a identificagio de como, pragmaticamente, sua trajetéria se modificou e
de como ela teve fim.
Apesar das limitagdes apresentadas por ambas as formas de rebeldia as quais
se referiu, isto é, a resisténcia cotidiana e a atuagao do bandido social, nao resta
dtivida sobre o seu interesse para os estudiosos de histéria da Africa, em parti-
cular do perfodo colonial. Essas reagées de enfrentamento sao importantes
como expressdes de descontentamentos e inquietagSes traduzidas em no-resig-
nado, contrapondo-se a idéia corrente de passividade e até mesmo de certa
apatia perante as imposicées do sistema colonial.
Em segundo lugar, e essa observacio vale em particular para 0 bandido so-
cial, a rebeldia abre possibilidades para identificar e compreender as caracteristi-
cas préprias da organizagao de grupos sociais definidos por seu tradicionalismo
€ por vezes por seu conservadorismo, verificando-se em que medida essas carac-
terfsticas foram responsdveis pela ineficiéncia e a debilidade polfticas impediti-
vas de transformar as insatisfag6es em revoltas politicas mais eficazes.
A AFRICA NA SALA DE AULA 129
Alguns desafios para a historiografia
Dito isso, é inevitdvel apresentar algumas consideracées
que parecem pertinentes para armar um campo de discussao
mais aprofundado sobre o tema, retomando os pressupostos
elaborados por Terence Ranger e apresentados no inicio deste
capitulo, que inspiraram suas hipéteses de trabalho acerca dos movimentos de
resisténcia. A primeira refere-se & discussao sobre a natureza da resisténcia, para
apontar a necessidade de explicitar e detalhar com mais profundidade a relagao
entre os movimentos sociais ¢ as ideologias, compreendendo os fendmenos con-
testatérios como produto de experiéncias ¢ circunstincias concretas. Essa pers-
pectiva permite afirmar que nem todos os movimentos registrados nesse pe-
rfodo foram contra o branco colonizador. Significa dizer que existiram, por
exemplo, agitagSes sociais que ndo surgiram dos sentimentos populares desperta-
dos diretamente por ameacas externas, mas de agoes radicais e inovadoras volta-
das para remover descontentamentos provocados por transformacées internas,
ou mesmo pelo anseio de acelerar o ritmo das mudangas em curso.
E necessdrio compreender que as sociedades africanas que traziam expe-
riéncias pré-coloniais eram extremamente dindmicas, apresentando uma his-
t6ria pontilhada por convulsées sociais, Como destacou Coquery-Vidrovitch:
“na verdade, essas sociedades supostamente estdveis raras vezes desfrutaram do
encantador equilfbrio que se presume ter sido rompido pelo impacto do colo-
nialismo”.'”
Apesar dos obstaculos, investigagdes cuidadosas nas quais 0 campo pesqui-
sado seja circunscrito com limites mais estreitos, poderiam dar conta dessa
questo, partindo da possivel identificagao de uma série de particularidades,
dando ensejo para que se produzisse um material bastante esclarecedor.
A segunda consideragio, por sua vez, diz respeito & extenséo dos movi-
mentos. E possivel sustentar que ela depende de experiéncias ¢ circunstancias
concretas e, mais especificamente, do grau de particularismo histérico das po-
pulagies envolvidas. No pequeno leque dos movimentos aqui examinados ha
fortes indicios de que, quando um grupo etnocultural combateu sozinho, pelo
vulto do seu exército e por seu potencial de resisténcia, a extensao do movi-
mento acabou sendo geralmente limitada.
17, COQUERY-VIDROVITCH, Catherine, “The political economy of the African peasantry and mo-
des of production”. /n: GUTKIND, Peter C. The political economy of contemporary Africa. Beverly
Hills: Sage Publications, 1976. p. 94.
130 LEILA LEITE HERNANDEZ
Ja a ultima observagao é sobre os desdobramentos suscitados pelos movi-
mentos de resisténcia. Convém, porém, comegar por algumas distincdes sobre 0
préprio termo desdobramento, pois é preciso ter em mente dois tipos distintos
de compreensio. O primeiro refere-se As respostas aos movimentos de resis-
téncia, isto ¢, se estes indicam ou nado mudangas nos mecanismos administra-
tivo-juridicos préprios da estrutura de dominagao colonial. O segundo, por sua
vez, diz respeito a possibilidade de pensar o tema dos desdobramentos, conside-
rando-o no sentido da continuidade e, nesse caso, reconhecendo a necessidade
de uma investigacdo orientada para identificar se 0 movimento focalizado foi
retomado, absorvido ou transformado, em outros politicamente mais organiza-
dos, guardando (ou nfo) relagdes com os movimentos de independéncia.
Dessa maneira, enfrentando alguns problemas particularmente dificeis para 0
historiador, ser4 possfvel conhecer um pouco mais acerca de uma Africa que nos
desafia, a comegar por ser um vasto e complexo mosaico de heterogeneidades.
You might also like
- A Acao Integralista Brasileira em Terras Alagoanas - 1930 A 1937 - Gustavo Bruno Costa NeriDocument143 pagesA Acao Integralista Brasileira em Terras Alagoanas - 1930 A 1937 - Gustavo Bruno Costa NeriGabriel BarrosNo ratings yet
- Cartografia Da Saudade ResenhaDocument4 pagesCartografia Da Saudade ResenhaGabriel BarrosNo ratings yet
- O Surgimento Das Línguas Vulgares, Como Parte Do Processo de Formação Das Monarquias NacionaisDocument38 pagesO Surgimento Das Línguas Vulgares, Como Parte Do Processo de Formação Das Monarquias NacionaisGabriel BarrosNo ratings yet
- PersasDocument36 pagesPersasGabriel BarrosNo ratings yet