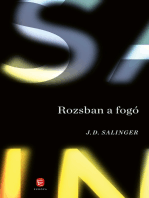Professional Documents
Culture Documents
Nem Escritor, Nem Sujeito, Apenas Autor
Nem Escritor, Nem Sujeito, Apenas Autor
Uploaded by
Kleyse Galdino0 ratings0% found this document useful (0 votes)
70 views5 pagesEni Orlandi
Original Title
Nem escritor, nem sujeito, apenas autor
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentEni Orlandi
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
70 views5 pagesNem Escritor, Nem Sujeito, Apenas Autor
Nem Escritor, Nem Sujeito, Apenas Autor
Uploaded by
Kleyse GaldinoEni Orlandi
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 5
NEM ESCRITOR,
NEM SUJEITO:
APENAS AUTOR*
Introdugao
“Samba nao se aprende no colégio.”
Este enunciado, quando situado no contexto de ensino de lingua por-
tuguesa, tem significado, para mim, varias coisas aparentadas: a escola nao
forma escritores; o escritor se faz na vida, sem receita; a arte nao admite
pedagogia; a escola nao ultrapassa a formag4o da média; o essencial nao é
aprendido na escola; escola e criacdo nao vivem juntas, etc.
Mas como “vivendo é que se aprende”, a releitura recente de Foucault
—em especial da Arqueologia do Saber (1972) — me fez retomar alguns as-
pectos da relagao entre linguagem e sujeito, que talvez levem a pensar com
mais acerto essa questao da escola de que estamos falando,
Dessa releitura de Foucault resultou, entre outras coisas, um traba-
Iho 1 do qual me interessa aqui — na reflexao sobre atividade discursiva e a
vida escolar — ressaltar a seguinte afirmag&o: 0 texto é “uma dispersao do
sujeito”. 2
Publicado originalmente em Leitura: teoria e praética, Porto Alegre, Mercado Aberto, ano 6, n? 9,
Jun, 1987,
. ‘Dispersdo @ unidade: uma questao do suieito e do discurso’, em colaboragao com Eduardo Guima-
res,
. Foucault (1972) define 0 sujeito como descontinuidade,
75
Por esta afirmagao éntendemos que o sujeito ocupa posicées diferen-
tes no interior do mesmo texto: 0 sujeito se representa de maneiras bastante
diversas num mesmo espaco textual, Isso nos leva a considerar 2 heteroge-
neidade como forte caracteristica do universo discursivo. -
A relagao do sujeito com 0 que diz, ou seja, com seu discurso, é com-
plexa e nao podemos aborda-la de maneira mecanicista e automatica. Dessa
forma, para encontrarmos as regularidades e a unidade no discurso é preci-
so abrir mao de principios categéricos, de generalizagées abstratas. Ha re-
gularidades e ha unidade, mas elas sao de outra natureza. Como diz Fou-
cault (1972), no discurso, 0 que se encontram sao “sistemas de dispersao’
E 0 que tem a ver toda essa reflexao sobre sujeito e dispersao com o
ensino da linguagem na escola?
Tem tudo a ver; mesmo Foucault se deu conta de que, quando falava
de poder e de instituigao, falava era do sujeito. Essa no¢gao, a de sujeito, na
verdade esté suposta em toda reflexdo que procure problematizar qualquer
pratica de conhecimento.
Sem explorar as conseqiiéncias do que este autor diz, acerca de dis-
ciplina, em Vigiar e punir (1977) ou mesmo em L’ordre du discours (1971),
querfamos aqui apenas colocar como objeto de nossa atenc&o a relacao do
Sujeito Com o texto que ele produz, tendo como contexto a escola e tomando
como cerne da observagao o momento em que se ensina a escrever,
Procuraremos assim trazer alguns esclarecimentos ao que temos
unamado as condi¢6es de producao da leitura e da escrita,
As formas de representacao do sujeito
Vamos ent&o nos ocupar do fato de que o sujeito est, de alguma for-
ma, inscrito no texto que produz. —
Nao nos interessa, entretanto, falar das marcas que atestam essa ins-
crigao do sujeito — elas existem e s&0 muitas —, mas do fato de que os dife-
rentes modos pelos quais o Sujeito se inscreve no texto correspondem a di-
ferentes representacdes que, por sua vez, indicam as suas diferentes fun-
A partir do que diz Ducrot $ ,teriamos as seguintes fungdes enunciati-
vas do sujeito: a de locutor, que @ aquela pela qual ele se representa como
3. Ct. Le dire et Je dit (1985), de O. Ducrot, também C. Vogi (1980) e Eduardo Guimaraes (1985), em
um estudo de “nao s6 mas tambem’,
76
eu no discurso e a de enunciador que é (s40) a(s) perspectiva(s) que esse
eu constréi. eg Scented @aglinae
De nossa parte, e af esté nossa contribuigao especftica para esta re-
flexao, gostarfamos de acrescentar, de acordo com o “principio da autoria”
de Foucault (1971), uma outra fungao: a de autor.
O principio de autoria de Foucault estabelece que 0 autor € 0 principio
de ayrupamento do discurso, unidade e ongem de suas significagdes. O
autor esta na base da coeréncia do discurso +. Nossa proposta é
de colocar a fun¢ao (discursiva) autor junto as outras € na QT
quia) estabelecida: locutor, enunciador e autor. Nessa ordem, terlamos
variedade de fungées que vao em dire¢ao a0 Social. Dessa forma, esla ulti-
ma, ade autor, 6 aquela (em nossa concep¢ao) em que 0 Stjelto falante est&
mais afetado pelo contato com 0 social e suas coercoes. —
Dirfamos que o autor é a fungao que 0 eu assume enquanto produtor
de linguagem. Sendo a dimens&o ciscursiva do sujeito qué esta Mais dater-
minada pela relacac
na @x ntexto sdcio-hist6rico), ela esta
mais submetida as regras das instituigdes, Nela Si
dimentos discipinares.
A nocao de sujeito é historica
O sujeito se define hisioricamente: a relagao
gem € diferente, por exemplo, na Idade Média, no sé
— por isso que Pécheux (1975), ao pensar o discurso, fala em forma-
sujeito (que € sempre historicamente determinada). A relagao_com a lingua-
gem, da forma-sujeito caracteristica das nossas formagdes sociais, 6 cons-
tituida da ilus&o (ideolégica) de que 6 Sujeito é a fonté do queé diz quando, na
verdade, ele retoma senti critos em formagées discur-
sivas determinadas. -
lo sujeito com a lingua-
forma-sujeitlo € a de_um_sujeito ao qual se imputam,
tempo, autonomia € responsabilidade. O que & caracteristico dele @ que ele
se define como sujeito-juridico (Haroche, 1984): tem direitos e deveres 5.
lputam, ao mesmo
4, Para Foucault 0 principio da autoria nfo vale para qualquer discurso nem de forma constante. O
modo come 0 estamos ulilizando aqui difere deste autor. Para nds, o principio é geral. O texto pode
no ter um autor especitico, mas sempre se imputa uma autoria a ele.
fi
5] Essa detinicao do autor, relerida & idéia de um sujeito jurfdico (que tem direitos e deveres, sujeito
responsavel por seus feitos @ gestos), que & caracterfstica do nosso contexto histérico- social, tem
uma hist6ria cujo momento decisivo localiza-se no perfodo que vai do século X ao século Xlil (Ha-0-
che, 1984), Interessa-nos aqui lembrar que aquele perfodo & marcado por cruciais transtormagoes
na economia (sedentarizagao do comércio, corporativismo dos comerciantes, reinvidicagdes de
7
“uma liberdade sem limite a uma submiss&o sem falhas” (Haroche, 1984),
ele pode criar qualquer coisa, contanto que respeite rigorosamente as regras
da linguagem,
| Particularmente, em sua relagao com a linguagem, esse Sujeito 6 capaz de
Identidade e identificagao
A partir dessas consideragées, podemos ver, nas diferentes fungdes
discursivo-enunciativas mencionadas acima — e que, do ponto de vista que
aqui setainos assumindo, estao hierarquizadas — modos de de ° “apagamento”
do sujeito, ————
ty Nessa perspe: © autor é a instancia em que haveria maior “apa-
( gamento” do sujei lo porque ue é nessa insta instancia — mais delerminada pela
(( (representagao social — que mais se exerce a injuncao a um modo de dizer
. padronizado e institucionalizado no qual se inscreve a responsabilidade dc do
Sujeito por aquilo que diz . Eda representacao_do_sujeito como autor wutor_ que
mais_se cobra sua ilusao de ser_origem ¢ fonte de seu discurso. E nes E nessa
fung&o que ¢ sua rel lagao | com a linguagem esta | mais sujeita ao controle so-
cial.
Assim, do autor se exige: coeréncia; respeito aos padrées estabeleci-
dos, tanto quanto & forma do discurso como as formas gramaticais; explici-
tag&o; clareza; conhecimento das regras textuais; originalidade; relevancia e,
entre varias coisas, “unidade”, “nao contradigao”, “progress&o’ e “duragao”
do seu discurso.
Essas exigéncias tém uma direcdo: procuram tornar o sujeito visfvel
(enquanto autor, com suas intengdes, objetivos, direcao argumentativa), Um
) sujeito visivel é calculavel, controldvel, em uma palavra, identificavel.
E, entre outras coisas, nesse “jogo” que o aluno entra quando comeca
escrever,
Para que 0 sujeito se coloque como autor, ele tem de estabelecer uma
‘emancipacao por parte dos camponeses) que estao ligadas aos prograssos da instrug&o, da escrita.
| Esses progressos, por sua vez, se inscrevem no avango do aparelho juridico e refletom-se, de forma
| importante, sobre'a questo do sujeito. Nao nos alongaremos sobre isso, nosso trabalho, mas vale a
Pena uma retlexéo mais demorada, em termos histdricos, sobre @ ligacao entre a constituigao do
autor, 0 progresso da escrita, em sua relacao com as estruturas econémico-sociais.
8 jor “apagamento” no tem um sentido negativo, pois; 1. ele é a propria possibilidade de transmuta-
| po do sujeito em suas multiolas formas @ fungbes; © 2. ao colocar-se socialmente, o sujeito-autor se
percebe subjetivamente. O apagamento é constitutive do sujeito. E um modo de existéncia do sujei-
| to; um procedimento pelo qual ele se constitui, Em resumo: 0 apagamento faz parte das condicoes
(de produgio do sujeito.
78
relago com a exterioridade, ao mesmo tempo em que ele se remete 4 sua
pr6pria interioridade: ele constréi assim sua identidade como autor. Isto 6, ele
aprende a assumir 0 papel de autor e aquilo que ele implica.
O autor 6, pois, 0 Sujeito que, tendo o dominio de certos _mecanismos
discursivos, representa, pela inguagem, esse papel, na ordem social ern que
esta inserido.
Nao basta “falar” para ser autor; falando, ele € apenas falante. Nao
| basta “dizer” para ser autor; dizendo, ele 6 apenas locutor. Também nao
basta enunciar algo para ser autor.
Papel social e responsabilidade
O que é preciso, ent4o, para ser autor?
O que tem faltado, desse ponto de vista, quando se pensam as condi-
des de produgao da escrita, na escola, 6 compreender 0 processo em que
se da a assung&o, por parte do sujeito, de seu papel de autor. Essa assun-
¢&o_implica, segundo 0 que estamos procurando_mostrar, rar, uma insercao.
(construgao) do sujeito na | cultura, uma posi¢ao dele no contexto histérico-
social. OO
} Aprender a se colocar — aqui: representar — como autor é assumir,
/diante da instituigao-escola e fora dela (nas outras instancias institucionais)
( esse papel social, na sua relagao com a linguagem: constituir-se e mostrar-
\ se autor.
Aj esta uma tarefa importante da atividade pedagégica, na escola, em
relagao a0 universo da escrita: responder 2 essa questao — 0 que, é ser au-
tor — é atuar no que define a passagem da funcao de suj jeito- -enunciador para
ade "sujeito~ autor.
Eis onde deve incidir a reflexao lingiistico-pedagégica para que o
professor de lingua possa atuar, dando a conhecer ao aluno a natureza des-
Se processo no qual o “aprender a escrever” o engaja. E o momento é exa-
tamente o da passagem do enunciador a autor.
Como passar da multiplicidade de representagdes possiveis do sujei-
| to, enquanto enunciador, para a organizagao dessa dispe.s&o num todo coe-
rente (e consistente) com que se apresenta o autor, responsavel pela unida-
\s € coeréncia do seu discurso?
Pode-se pensar as varias caracteristicas que sao diferentes entre
enunciado ¢ autor. Quer-nos parecer que, nessa reflexdo, basta conside-
rarmos uma das mais, sendo a mais, importantes: a responsabilidade,
79
A responsabilidade do autor é cobrada em varias dimensées: quanto &
unidade do texto, quanto a clareza, quanto & nao-contradi¢ao, quanto a cor-
reco, etc. Exige-se uma relag€o institucional com a linguagem. Uma ilustra-
Gao disso que estamos falando 6 a situagéo comum em que o professor
considera certos textos de alunos, até compreensiveis mas inaceitaveis. O
que o professor esta cobrando, e esta faltando, é que o aluno assuma a po-
sicao de autor. 7
Em um mesmo texto, 0 enunciador pode se representar de varias ma-
pill OL cdelldaaiiacial ot as <<
neiras. Por exemplo, na descricao de uma ponte, o enunciador pode-se re-
presentar como estando debaixo dela, do interior de um barco que passa, €
| ao mesmo tempo da margem do rio sobre o qual ele esta. Isso nao resulta
em nenhuma inconsisténcia textual. Da mesma forma, em um texto sobre
salario, podemos ter o enunciador falando da perspectiva, do patrao, ao
mesmo tempo que, em outro lugar do texto, ele representa a posi¢ao de em-
pregado. Isto também nao cria problema algum. Diriamos que cada posicao
representa um enunciador, podendo, pois, o texto ter varios enunciadores.
Mas, em um caso como no outro, é preciso que o autor faga isso de maneira
que o texto apresente unidade. E dele que se cobra essa unidade, nao do
enunciador.
Escola e autoria
Podemos, enfim, dizer que a escola deve propiciar essa passagem-
enunciador/autor — de tal forma que o aprendiz possa experimentar praticas
que fagam com que ele tenha 0 controle dos mecanismos com os quais est4
lidando quando escreve, Estes mecanismos s&o de duas ordens:
| a) Mecanismos do dominio do processo discursivo, no qual ele se
constitui como autor,
| ; .
b) Mecanismos do dominio dos processos textuais nos quais ele
marca sua pratica de autor.
Creio que af est configurada uma fungao da escola com respeito ao
sujeito que escreve.
7.|Gostarfamos de lembrar, s6 de passagem, que essa representagao do sujeito, ou melhor, essa fun-
‘cdo enunciativo-ciscu‘siva, que & a do autor, tem seu pélo correspondente que € 0 de leitor. De tal
forma isso se dé que nao é do ouvinte, ou de destinatério, mas do leitor que se cobra um modo
leitura. O leitor etd, tal como o autor, afetado pela sua inse:cao no sccial. Assim, na preocupacao
da leitura, 0 leit: entra com as conci¢des que o caracterizam s6cio-hisldricamente. Dessa forma,
ele tera sua identidade de leitura cunfigurada pole seu lugar social e 6, em relagao a esse lugar qué
se define a "sua" "loitur
80
Gostarlamos de lembrar que, em termos de funcionamento ideoldgico,
0 fato de se considerar como fonte do que diz 6, segundo Pécheux (1975),
uma ilusdo necesséria do falanté. Quer dizer, é pelo funcionamento da ideo-
logia que ele assim se “vé", quando na realidade seu discurso nao nasce
(nem termina) nele. Também o principio da autoria faz parte, segundo Fou-
cault (1971), dos processos internos de controle e delimitacao do discurso.
S&o processos que vao domesticar (disciplinan conteci-
mento € do-acaso do discurso.
O que estamos procurando mostrar é a construgdo eo funcionamento
dessa ilus&o necessaria e desse principio, na escola, na produgao de auio-
res.
Sujeito, escritor, autor
Quanto & questo do sujeito e do escritor, tal como enunciamos no t
tulo deste trabalho, gostarfamos de dizer que:
a) N&o se trata, pois, de tematizar a nogao de sujeito em si, da sua li-
berdade, etc., mas da manifestacao do problema da subjetividade
na relag&o com a escrita, na escola (uma instituicao).
Dirlamos que nao ha lugar, nessa reflex4o, para 0 sujeito em si. Para-
lelamente, também quando se fala na realidade, ou melhor, no fato de que a
escola nao tem relagéo com a realidade, se estA cometendo um equivoco.
Nao hé realidade em_si, A idéia de realidade passa, nessa nossa proposta,
Pela nogao de instituigao e, mais especificamente, instituigao de ensino. A
realidade da escola, entao, é a realidade posstvel para uma instituigdo.
No se trata, pois, aqui, nem da realidade em si, nem do sujeito em si,
mas do sujeito na instituigaéo-escola.
Ora, na realidade (institucional) escolar, quando se fala da escrita,
esté-se falando da formagao do autor, de uma das formas de representagao
do sujeito (e nao do sujeito em si).
Se n&o se tem em mente essas diferengas, se fala monoliticamente do
sujeito — assim como se tem ouvido falar em “métodos que resgatam (?) o
sujeito” — sem se pensar as diferentes instancias de suas representagées,
como é 0 caso a que estamos nos referindo no ensino da escrita.
Nao levando em conta essas diferengas, a escola, por um processo
ideolégico extremamente complexe, acaba por nao permitir a passagem do
81
enunciador para o autor. Confunde os seus papéis e cobra um pelo outro.
Faz isso porque nao explicita sua prépria fungao.
Quanto ao escritor, o que gostarfamos de dizer 6 0 seguinte: nao 6 a
relacao com a escola que define o escritor. Ela podera ser titil, mas nao é
nem necessaria, nem suficiente. Nao 6 sua tarefa especffica formar escrito-
res.
Ao contrario, para ser autor, sim: a escola é necessdria, embora nao
suficiente, uma vez que a relag&o com o fora da escola também constitui a
experiéncia da autoria. De toda forma, a escola, enquanto lugar de reflexdo,
6 um lugar fundamental para a elaborac4o dessa experiéncia, a da autoria,
na relagao com a linguagem.
Entim
Estas reflexdes que aqui fazemos, do ponto de vista discursivo, sobre
a relagao entre a escola e a escrita podem servir de subsidio para a ativida-
de pedagégica que tem como objetivo o ensino da lingua.
No entanto, essa reflexdo nao se coloca como um artefato para ser
utilizado como tal no ensino.
H& mediagées importantes entre a produgao de uma forma de conhe-
cimento por determinado dom{nio de estudos, no contexto académico, e a
aplicagéo desse conhecimento no ensino.
Assim como, para o aluno, 0 conhecimento nao vem pronto, mas &, ao
contrario, um processo (da elaboragao do qual ele faz parte fundamental),
também para os que produzem conhecimento, programas e métodos de en-
sino, existe um processo 6 uma divisdo de trabalho.
Nessa divisdo de trabalho, cabe ao professor, que est diretamente
comprometido com a atividade pedagégica, a elaboragao de uma etapa cru-
cial da divis&o de trabalho: propiciar, pela ago pedagégica, a sua prépria
transformagao e a do aprendiz, assim como da forma de conhecimento a
que tem acesso.
Nesse sentido, esse texto que escrevi, e que se coloca como um pro-
duto na circulagaéo do saber, também no esté “pronto”. E sé parte do pro-
cesso,
82
Referéncias bibliograficas
DUCROT, O., Le dire et le ait. Paris, Minuit, 1284,
FOUCAULT, M. L’ ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
——. Arqueologia do saber. Petropolis, Vozes, 1972.
--—. Vigiar e punir. Petrépolis, Vozes, 1977.
GUIMARAES, E. R. J, ‘Nao sé mas também: polifonia e argumentagac’, in
Cadernos de Estudos Linguisticos, n° 8, IEL, 1985.
HAROCHE, Cl., Vouloir dire faire dire. P.U, de Lille, 1984.
PECHEUX, M. Les vérités de /a palice. Paris, Maspero, 1975.
VOGT, C. ‘Por uma pragmatica das representagdes’, in Linguagem, pragma-
tica e ideologia. Sao Paulo, Hucitec, 1980.
You might also like
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5734)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9974)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12954)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2487)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2559)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2571)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3310)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionFrom EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (9763)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20097)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6538)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7503)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)From EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9054)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20479)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasFrom EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasRating: 4 out of 5 stars4/5 (9955)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationFrom EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationRating: 4 out of 5 stars4/5 (5646)