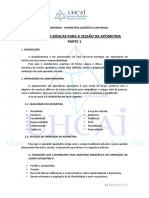Professional Documents
Culture Documents
1866-Texto Do Trabalho-4287-1-10-20130122
1866-Texto Do Trabalho-4287-1-10-20130122
Uploaded by
marilda0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views28 pagesOriginal Title
1866-Texto do Trabalho-4287-1-10-20130122
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views28 pages1866-Texto Do Trabalho-4287-1-10-20130122
1866-Texto Do Trabalho-4287-1-10-20130122
Uploaded by
marildaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 28
Finisterra, XVII, 55-56, 1993, pp. 73-100
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E INDUSTRIA DE ALTA-
-TECNOLOGIA: UM ESTUDO DAS DINAMICAS LOCATIVAS)
G. B. BENKO®
O estudo dos mecanismos determinantes da localizagao industrial
constituiu desde sempre uma das principais preocupagdes em geogra-
fia econémica. A partir da década de 70, as questées referentes a
localizagio industrial adquiriram uma nova dimens&o: a rapidez das
mudangas tecnoldégicas e a aceleragéo dos processos de inovagio
deram origem ao aparecimento de novas actividades, nao se conhe-
cendo bem a sua légica de organizacio espacial.
Para melhor se compreenderem esses mecanismos é necessario
levar em linha de conta algumas questies tedricas focadas em traba-
Ihos recentes, onde se colocam em evidéncia, por um lado, as novas
tendéncias de organizacio das actividades no espago e, por outro lado,
as dificuldades das teorias de localizagao na andlise dos processos em
curso. De acordo com Philippe Aydalot, a estrutura territorial dos paises
ocidentais transformou-se e os mecanismos que justificavam a estrutura
espacial no passado parecem incapazes de a explicar no presente.
A localizagio de uma actividade é um problema crucial para
qualquer empresdrio, pois dela dependem directamente os custos de
produgio. No entanto, as autoridades locais, bem como o Estado,
preocupam-se com esta quest&o, fundamentalmente pela responsabi-
lidade que detém no ordenamento do terri
(1) No original "Développement Régional et Industrie de Haute-Technologie: une
étude sur les localisations''. Tradugiio de Mario Vale,
(2) Maitre de Conférences de Géographie, Département de Géographie, Université de
Paris |- Panthéon Sorbonne, 191, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS, FRANCE,
Tel: (33-1) 43 267161 Fax: (33-1) 43 25 45 35
74
A problematica da localizagdo industrial tem suscitado leituras
diversificadas. Um dos primeiros enfoques enfatiza os trabalhos empi-
ricos, nos quais se procura caracterizar as concentragdes de activi-
dades, as especializagées territoriais ou a associag4o de caracteristicas
em espacos diferenciados. Foi igualmente possivel construir uma
teoria geral no Ambito das interdependéncias locativas. Trata-se,
essencialmente, de determinar as normas de localizagéo de uma em-
presa que procura maximizar os seus lucros em fungao de decisdes
individuais. Assim, as (teorias cléssicas vado determinar — segundo o
principio da localizagao dptima associada aos custos dos transportes —,
os factores levados em linha de conta pelas empresas no processo de
decisfo de implantacao. Os elementos tidos como principais sao: os
custos relativos de obtengio de matérias-primas, aqueles que concer-
nem ao acesso ao mercado e, finalmente, os custos diferenciados do
trabalho, aos quais se acrescentam os factores de aglomeracao e as
economias externas.
De acordo com estas teorias, as empresas determinam entdo a sua
localizagéo em fungao das vantagens comparativas de cada espaco,
avaliadas segundo os factores mencionados. O conjunto destas teorias
pode-se qualificar como teorias de localizagéo "weberianas', uma
referencia ao nome do fundador da andlise te6rica, Alfred Weber
(1909), constitui o ponto de partida de um ntimero significativo de
reflexes jd quase ha um século.
Todavia, os estudos geograficos da localizagao industrial, quer de
Ambito global quer parcial, siio essencialmente descritivos e condu-
zem A construgio de tipologias ou A enumeragao de factores que se
apoiam prontamente na diversidade dos casos particulares. A auséncia
de um esquema tedrico de referéncia suficientemente rigoroso nao
permite colocar em evidéncia a articulagdo desses factores, nem inte-
grar os resultados noutros modelos mais gerais. O objectivo da teoria
de localizagio é o de fornecer uma explicag’o da organizagao espacial
das empresas, de identificar as varidveis que determinam a localiza-
¢fio e de apresentar solugées analiticas. Deve também fornecer respos-
tas detalhadas As numerosas quest6es que dizem respeito 4 separagdo
espacial das empresas, 4 influéncia do ambiente, etc. As abordagens
mais ambiciosas procuram analisar as leis que presidem ao equilfbrio
espacial das empresas.
75
Os conhecimentos teéricos actuais sao insuficientes e a teoria da
localizac%o encontra-se em crise, a concepgio “weberiana” perdeu o
seu interesse e, principalmente, nao é satisfatéria na andlise do com-
portamento industrial contemporaneo. Ademais, as novas teorizagdes
pos-weberianas na&o tém feito sendo timidamente a sua aparigdo,
essencialmente nos pafses anglo-saxénicos.
Examinemos os grandes eixos das teorias que procuram explicar 0
nascimento e implantagiio geografica dos novos espagos industriais. A
teorizagio actual pode separar-se em duas grandes familias: uma pri-
meira série reagrupa trés tendéncias teéricas.
Em primeiro lugar, trata-se de investigar os factores de localizagao
exdgena, especificos As industrias de alta-tecnologia, condicionando a
implantagao e o desenvolvimento destas indistrias numa determinada
regido. A segunda tendéncia desenvolve-se em torno da ideia de R.
VERNON (1966), a teoria do ciclo de vida do produto, enquanto a
terceira estuda o "meio inovador" (AYDALOT), designado também
por "complexo territorial de inovagio" (STOHR), concentrando-se
sobre as condigées geograficas que favorecem a emergéncia dos
sectores de alta-tecnologia. Estes tedricos tiveram grande sucesso nos
anos 70 e 80, através das suas descrigdes sistemdticas e minuciosas da
expansfo de novos ramos industriais no tempo € no espago.
Quadro 1: Classificago das teorias de localizagao das indistrias de alta-tecnologia
A/Teorias parciais B/Teoria global
A.1.— Enumeragiio de factores Organizagao industrial
A.2.— Teoria do ciclo de vida do produto Mercado de trabalho:
A33.— Complexos territoriais de inovagio Economias ¢ deseconomias de aglomeragao
Contudo, alguns investigadores procuraram ir mais longe ao
formularem uma teoria mais geral, interpretando os mecanismos e os
processos globais da evolugio geo-econdmica do capitalismo
contemporaneo (SCOTT, WALKER, STORPER, CASTELLS e SAYER).
76
I—OS TRES EIXOS DAS TEORIAS EXPLICATIVAS
1 — FACTORES DE LOCALIZACAO
Observando os factores de localizacio tradicionais, a indistria de
alta-tecnologia 6 considerada como mével ("footloose"), mas deve-se
sublinhar que nem todos os tipos de industria de alta-tecnologia tém 0
mesmo comportamento locativo e que nado existe um modelo tinico
nesta matéria. Por exemplo, as caracteristicas do investidor (privado,
publico ou militar), ou a taxa de crescimento, tém uma influéncia
determinante sobre o modelo espacial de instalacio das empresas. A
importancia e a combinagio dos factores de localizagiio nao sao
idénticas para todos os ramos da indiistria ou para empresas de
dimensao distinta. A partir de estudos realizados sobre complexos
industriais existentes, um grande numero de factores explicativos foi
explicitado. Podemos resumi-los nos seguintes pontos:
A fora de trabalho (0 capital humano)
A capacidade de atrair e de reter a mao-de-obra é um dos elemen-
tos mais importantes a levar em linha de conta na escolha de novas
localizagdes pelas empresas de alta-tecnologia. Neste dominio sao
necessdrios dois tipgs de mao-de-obra: os quadros (que representam
uma percentagem superior quando comparada com as indtistrias
tradicionais) — cientistas, engenheiros e gestores — e uma mio-de-obra
barata para a execugaio de servigos ¢ fabricacio rotineiras, Esta
dualidade social, com tendéncia para se acentuar, define bem as
caracteristicas do sitio. Por um lado, 0 local deve ser apreendido
como agradavel para a vida e trabalho dos quadros, seja para os fixar
na area, seja para os atrair, (pois a sua mobilidade € muito superior &
dos assalariados nao qualificados); por outro lado, este espaco deve
ter acesso a um grande mercado de trabalho com miao-de-obra
disponivel para as outras categorias. A oferta de trabalho, o nivel
médio das remuneragées € 0 nivel de sindicalizagdo influenciam o
comportamento espacial da alta-tecnologia.
Universidades e institutos de investigagdo
A maioria das empresas instala-se no interior de zonas universita-
tias. Este facto explica-se facilmente pela resposta directa 4s neces-
17
sidades da alta-tecnologia, oferecendo uma disponibilidade de mao-
-de-obra de alta qualidade e dando a possibilidade de colaboragdo na
investigagao industrial desenvolvida por equipas cientificas jd insta-
ladas, paralelamente ao ensino. Pode estabelecer-se uma troca nos
dois sentidos, com a participagio de universitdrios na actividade
industrial e de cientistas-engenheiros do sector privado no ensino,
A qualidade da paisagem
A maior parte dos autores considera como importante a oferta de
alojamento e a existéncia de infra-estruturas culturais e de ensino.
Uma paisagem construida aprazivel, a limpeza, a seguranga e os equi-
pamentos de lazer desempenham um papel considerdvel. A grande
urbanizagdo continua a ser um factor importante para atrair quadros,
contudo os inconvenientes das metrépoles podem ser minimizados na
periferia das grandes cidades. Este meio peri-urbano nao oferece
apenas cultura, ensino e transportes (sobretudo transporte aéreo), mas
também emprego para o cénjuge e possibilita a mobilidade inter-
-empresas dos quadros sem mudar de residéncia.
A infra-estrutura de transporte
O custo do transporte nao ¢ tao importante nas indtistrias de alta-
-tecnologia como nas indiistrias tradicionais. Em contrapartida, o
acesso facil e ripido proporcionado as pessoas é essencial, logo as
ligagdes aéreas sfo trunfos importantes. Os espagos situados nas
proximidades das auto-estradas e aeroportos conheceram uma indus-
trializagio répida. Como exemplo pode referir-se 0 "boom" do imobi-
lidrio de empresas nas proximidades de Roissy ¢ de Orly na regido
parisiense.
Os servigos ¢ 0 clima politico e de negécios
A presenga de consultores e de fontes de informagao (acessibili-
dade 4 informagio) é fundamental para o desenvolvimento da alta-
-tecnologia. A disponibilidade do capital de risco desempenha um
papel crucial no caso dos "spin-off". & um factor de progresso, de
criagdo de emprego e estimula a investigagio privada. A sua presenga
é importante ao nivel regional.
O agrupamento de varias empresas no mesmo local demonstrou ser
vantajoso, devido as sinergias geradas, que tém uma importancia
78
estratégica na circulagéo de informagao e na motivagiio das firmas. O
papel dos poderes ptiblicos (pela facilidade dos tramites administrati-
vos, pela relevancia do poder local, etc.) é um factor importante para
a localizagdo das empresas.
As economias de aglomeracgao
Alguns autores (PLANQUE, MALECKI, DORFMAN) atribuem
grande importancia 4s economias ligadas as concentragées urbanas de
grande dimensdo. Os novos espacos industriais, pelo menos os de
maior sucesso, nasceram nas margens das metrépoles (Boston, Los
Angeles, Paris, etc.). Os estudos empiricos levam-nos a concluir que
as economias de aglomeragiio sao essenciais as actividades de Investi-
gacio e Desenvolvimento (I&D) e que os "spin-offs" diminuem na
mesma proporgaio da populagao adjacente (MALECKI, 1986).
Este fenémeno é natural, pois sabe-se que somente uma infima
parte da populagio tem capacidade "empresarial"” ou “inovadora” e
que é necessdria a existéncia prévia de grandes empresas com poten-
cial para dar origem a "spin-offs". As economias urbanas facilitam a
formagio de redes de informagiio e de contactos pessoais, estes tlti-
mos dificilmente substitufveis pelas transmissGes técnicas. A fertili-
zacio cruzada nao é possivel sendo num meio de elevada densidade.
Os efeitos de escala também sao perceptiveis no funcionamento
dos mercados de trabalho locais. A rotagio da mao-de-obra torna-se
ficil, exprimindo-se por uma forte mobilidade entre empresas ao nivel
intra-regional. O grande ntiimero de empresas presentes num espago
limitado leva a uma redug4o, em proporgao, dos custos fixos da infra-
-estrutura, Nos novos complexos de produgao instala-se um novo
relacionamento social ligado aos novos modos de vida, de formagiio e
de ritmo, com uma divisao do trabalho acentuada. O nascimento desta
nova comunidade humana, ligada a uma reprodugiio social prépria,
contribui directamente para a redugio do custo de produgdo na area
considerada e, assim, continua a atrair empresas.
Os elementos aqui considerados sio apreendidos por certos tedri-
cos como um conjunto de condigdes prévias necessdrias ao nascimen-
to de complexos de alta-tecnologia. Com efeito, verifica-se a presenga
maioritéria destes elementos nos espagos tecnopolitanos, embora nao
se possa afirmar que eles explicam s6 por si o crescimento destas
79
reas. Este tipo de teorizagdo pode ser considerado como necessirio
mas nao é suficiente para uma verdadeira teoria cientifica da
localizagdo e da dinamica dos novos espagos industriais.
2-A TEORIA DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO
Ao colocarmos os problemas da localizagao num quadro concep-
tual mais amplo, os investigadores evocam muitas vezes a teoria do
ciclo de vida do produto, que é um dos elementos mais discutidos na
teoria da localizacdo das actividades de "ponta".
A primeira conceptualizagéo deve-se a R. VERNON (1966) que,
em seguida, foi desenvolvida por varios autores (ver NORTON e
REES, 1979). A permissa central baseia-se na constatagdo que cada
ramo industrial percorre um ciclo dividido em trés partes: fase de
desenvolvimento (ou de inovagio), fase de maturidade (ou de cresci-
mento) e fase de estandardizacio, O aumento da producdo leva a uma
modificacio do sistema produtivo,
O ciclo de producdo depende do nivel de sofisticagao da indiistria
que desenvolve o produto. Uma industria que utiliza uma tecnologia
de nivel médio apresenta um ciclo de cerca de trinta anos, tipico de
um bem durdvel, como um aparelho eléctrico, A evolugao da produ-
¢do divide-se em trés grandes fases. A primeira fase é a da concepgao
do produto e a fabricagio inicial, ambas muito exigentes em requisi-
tos de capital e em recursos humanos muito qualificados para a
investigagdo e desenvolvimento.
A produgdo encontra-se associada, em geral, a uma aglomeragio
industrial, com ligagdes ao departamento de I&D e a sede social,
verificando-se uma tendéncia para a localizagaéo destas unidades na
mesma d4rea (BUSWELL, LEWIS, 1970). As modificagdes periddicas
das necessidades em trabalho e em material so facilitadas por um
ambiente flexivel ¢ rico em recursos. Na segunda etapa, quando o
volume de vendas atinge 0 m4ximo, o produto jd se encontra aperfei-
coado e, como tal, os recursos humanos em I&D so menos necessd-
rios, passando-se © inverso em relacgio 4 mio-de-obra afecta a
producao. A estandardizagio do produto permite o desenvolvimento
da estandardizag4o global a longo prazo. Na terceira fase, 0 produto
torna-se "mével" e o seu fabrico pode ser transferido para areas peri-
féricas para reduzir os custos de produgio (através do recurso a uma
80
Quadro 2 — Caracterfsticas das empresas nas trés fases de desenvolvimento
(ndustria Tradicional)
Fase de Fase de Fase de.
Eactores, desenvolvimento maturidade estandardizagiio
Capital capital de risco — fundo de rotagao- capital de equidade
volume elevado
volume elevado
volume elevado
Mao-de-obra niio-
qualificada,
Mao-de-obra técnica
¢ cientifica
Pessoal de gestiio reduzido
Pessoal de
marketing
reduzida média vlevada
elevada me reduzida
elevado reduzido.
reduzido elevado médio
Beonomias externas
essenciais, em grande
numero
muito fiteis
pouco importantes
Localizagia
aglomeragao industrial,
centro urbano (produ-
¢80, 1&1 e sede social
no mesmo local}
aglomeragio
industrial
produto «mdvel>,
transferivel para a
periferia
Quadro 3 — Caracteristicas das empresas nas trés fases de desenvolvimento
(Indtstria de "Ponta’)
Fase de desenvolvimento
Fase de maturidade
capital de risco ~
volume elevado
fundo de rotagio em grande quan
tidade mais capital de risco
cientifica
Mao-de-obra nfio- reduzida reduzida
qualificada
Mao-de-obra técnica & elevada elevada,
Pessoal de gestao
estiivel (médio)
estdvel (médio)
Pessoal de marketin;
estavel (médio)
estiivel (médio)
Economias externas
essenciais, em grande mtimero
muito icis
Localizagiio
aglomerago industrial, centro
urbano (produgiio, [&D e sede
social ne mesmo local)
aglomeragio industrial
miao-de-obra menos qualificada). E evidente que no sector de "alta-
-tecnologia”, a estandardizagdo sé ocorre quando uma grande empresa
domina o mercado (calculadoras, jogos electrénicos, semicondutores,
etc) e, neste caso especifico, a fabricagao pode ser transferida para o
81
exterior do tecnopélo, Esta concepgao habitual, aplicada sobretudo
as grandes empresas, no se pode empregar no estudo da evolugao
recente da “alta-tecnologia", que diz respeito essencialmente as
pequenas empresas. A figuras 1 e 2 ilustram claramente esta situagdo,
onde se observa a redugao do ciclo de vida dos produtos de "alta-
-tecnologia’’, que se situa entre os 5 e os 7 anos. A diferenca essencial
entre as duas figuras reside na auséncia da fase de estandardizaciio na
figura 2. Do ponto de vista do comportamento da localizagao, ela é a
OESENVOLYIMENTO ESTANOARDIZACAQ
3 t MATURIDADE
volume de venaa:
0 10 20 30
tempo (anos)
Figura 1 — Ciclo de vida do produto tradicional
volume de vendas
0 5 10 6 20
tempo {anos}
Figura 2 — Ciclo de vida do produto de "alta-tecnologia"
82
antitese da primeira representacao. Este ciclo rapido nao tem extensio
na fase de estandardizacgaéo e, consequentemente, na produgao de
massa a longo prazo. Nesta 6ptica, como nao existe um grande
volume de producao em série, a utilizacio de mo-de-obra altamente
qualificada é continua, tal como a inovacgdo do produto. Assim, o
contributo do pessoal de I&D é necessdrio, mas, em vez de realizar
protétipos, a empresa envolve-se na substituig¢éo do produto. Em
geral, as matérias-primas para os novos produtos da indtistria de
"ponta” jd sdo sofisticadas e especializadas e a frequéncia do ciclo do
produto reforca a apeténcia para o abastecimento das linhas de
producao a partir dos fornecedores locais. E, portanto, aconselhavel
um aprovisionamento local para mudar radicalmente a concepgio.
Refira-se, igualmente, que a venda e o lucro sao mantidos (na indtis-
tria de "ponta") pela multiplicacio dos ciclos do produto.
Na figura 2, 0 produto nao ultrapassa a fase de desenvolvimento
ilustrada na figura 1, embora nio seja indiferente 4s vantagens que
uma economia de aglomeragiio pode oferecer. Assim, os tecnopdélos
(concentragio de empresas com o mesmo perfil) podem constituir
uma aglomerag¢ao no sentido tradicional do termo, tal como uma zona
industrial no passado. As pequenas e as grandes empresas podem
obter vantagens similares desde que se encontrem envolvidas na
produgaio com ciclos reduzidos, enquanto na produgdo com ciclos
longos apenas as grandes empresas podem tirar beneficios, através da
relocalizagiio das actividades de produgio estandardizada na periferia.
No conceito de inércia locativa, criada pelas vantagens da aglome-
ragao, as ligacdes locais e a forga de trabalho tém um papel importan-
te, em virtude da inovagado nas pequenas empresas de "alta-tecnolo-
gia" decorrer essencialmente de um processo interno que deve ser ali-
mentado pelas vantagens da aglomeragio.
Na teoria do ciclo do produto — que relaciona a localizagéo com a
organizagao da produgiio — observa-se um movimento que vai desde a
concentra¢do e a centralizacao 4 disperso e a descentralizagaéo da
produgao. Tradicionalmente, os novos ramos de actividade desenvol-
vem-se nos pélos urbanos, devido, por um lado, 4 miao-de-obra
altamente qualificada e, por outro lado, a dimensio do mercado,
transferindo-se, em seguida, para espagos periféricos durante a fase de
estandardizagao do produto.
83
Este esquema é posto em causa e deve ser revistos por varias
razdes: observa-se uma tendéncia para a descentralizagiio das fungdes
de I&D (PLANQUE, 1983) e o aparecimento de centros locais de
suporte a nova tecnologia. Em Franga, ha mais de uma década que se
assiste a uma reorganiza¢ao do sistema produtivo sob o duplo efeito
da revoluciio tecnoldgica e da abertura das economias nacionais. Estas
mutagdes econdmicas tém impactes espaciais. As consequéncias sao
explicadas por muitos autores através de um enfoque dual (POTTIER,
1985): por um lado, a forte ligagaio entre a produgao e as actividades
de I&D reforga os grandes pélos e, por outro lado, a procura de uma
inovago permanente e o progresso nas telecomunicagGes favorecem a
descentralizacfo das fungGes de tecnologia de "ponta". Esta oposigao
é explicada por Pottier como consequéncia da diviséo da actividade
de inovagaio em dois niveis: grandes inovagGes e pequenas inovagées.
As primeiras correspondem ao surgimento de novos produtos, a
constituigdo de novos ramos. Neste caso, a difuséo do desenvol-
vimento a partir dos pélos de maior dimensio parece ser valida. As
inovagdes menos importantes, mas permanentes, sao uma necessidade
para adaptar os produtos a evolugao da procura num mercado cada
vez mais internacional e instdvel e para adaptar as novas tecnologias,
em particular para desenvolver a automacio.
A teoria do ciclo do produto simplifica excessivamente o desen-
volyimento espago-temporal da produgio, considerando de igual
modo todos os ramos. As variacdes entre os sectores so muito signi-
ficativas e as relacdes entre a organizagio da produgas, a tecnologia e
a evolucio do mercado sao, com efeito, muito mais complexas, como
demonstrou STORPER (1985). As relagées inter e intra-empresas e as
condigées dptimas de produg&o so muito diferenciadas entre os
varios ramos industriais.
3—0O MEIO INOVADOR
A terceira tendéncia teérica em voga encontra-se ligada as condi-
ges geograficas (econémicas, sociais e fisicas) da produgio. Procura-
-se estudar os problemas de inovagio tecnolégica nos meios regio-
nais.
84
Este enfoque pode resumir-se do seguinte modo: a empresa inova-
dora nao existe previamente nos meios locais; ela é gerada por eles,
Os comportamentos inovadores dependem das varidveis definidas ao
nivel local ou regional. O passado dos territérios, a sua organizacio, a
sua capacidade em criar um projecto comum e o consenso que os
estrutura constituem a base da inovagdo. O acesso ao conhecimento
tecnoldégico, 0 savoir-faire, a composigaéo do mercado de trabalho,
bem como outras componentes dos meios locais determinam o menor
ou maior grau de receptividade a inovagao dos territérios.
Esta escola de pensamento coloca, assim, a hipdtese do papel
determinante desempenhado pelos meios locais como incubadores de
inovagio, prismas através dos quais passarao os impulsos criativos.
Do ponto de vista regional, a andlise permite compreender por que
razdo algumas regides sio inovadoras, outras deixaram de © ser, ou
ainda as razGes que est&éo na base da implantagio de novas tecno-
logias em espacos produtivos de génese recente. O espago deixou de
ser entendido apenas segundo a éptica da localizagio industrial para
dar origem a um novo objecto de observagiio: o "meio". Esta teoriza-
¢&o permite integrar o conjunto dos elementos participantes no fun-
cionamento deste espago: a composigao do tecido industrial, as rela-
ces complexas que se estabelecem através dele entre as empresas, as
caracteristicas da mao-de-obra, 0 savoir-faire, a presenga de infra-
-estruturas, 0 quadro geografico, enfim, tudo 0 que forma a regiao.
A nogio de meio inovador foi definida por C. PERRIN (1989),
como um conjunto territorializado onde se desenvolvem redes inova-
doras, através da aprendizagem feita pelos actores de transacgGes
multilaterais geradoras de externalidades especificas 4 inovagao e da
convergéncia das aprendizagens com formas cada vez mais eficazes
de criagéo tecnoldgica.
As grandes aglomeragdes (e sobretudo os seus espagos centrais)
sao considerados, desde ha muito, como espagos propfcios 4 inovagio
ou "incubadores", Recentemente, observa-se o aparecimento de novos
meios incubadores, nas regides tradicionalmente mais indus-
trializadas, que se tornaram complexos territoriais de inovagao, termo
explicitado por STOHR (1986). O crescimento destes complexos é
assegurado pela ocorréncia de numerosos "spin-offs", ou seja, a
formago de novas empresas a partir de empresas existentes. O mes-
85
mo espirito e os mesmos mecanismos garantem, ao nivel micro-eco-
némico, a criacdo de centros de "germinagio") de empresas.
Estas teorias utilizam uma linguagem bioldgica, descrevendo, de
uma forma quase sempre fascinante, o funcionamento, a dindmica e
os elementos destes novos complexos de produgao. Todavia, as res-
postas aos problemas de localizacao sao parciais, em virtude de nao se
explicar a prépria localizagio destes complexos e de se negligenciar
os processos globais de evolugao do sistema produtivo.
Estas trés tentativas de teorizagdo contribuem com um bom ntime-
ro de elementos novos e originais, mas néo nos levam a uma teoria
geral da localizagdo, que possa fornecer uma explicagio cientifica
para a implantagao dos novos conjuntos industriais - em particular,
para uma melhor compreensao da formagdo actual dos espacos dos
modelos de localizagdo da industria transformadora e das actividades
tercidrias, Estes modelos resultam de um conjunto de dinamicas gue
compreendem a natureza das relagdes entre o exterior € 0 interior das
firmas, as estratégias de concorréncia e as condigdes dos mercados de
trabalho locais (SCOTT e STORPER, 1987, SCOTT, 1988b, WALKER,
1988).
TI - ORGANIZAGAO GEOGRAFICA DO SISTEMA PRODUTIVO: EM
DIRECCAO A UMA TEORIA GLOBAL
Neste ponto, procura-se estudar um enfoque mais global, que
permita uma unificagao entre a organizagao industrial e a localizagao.
Em primeiro lugar, é necessdrio evocar a organizagdo da produgao,
logo a diviséio e integragio do trabalho produtivo nos sistemas
complexos. Podemos distinguir dois tipos de divisdéo do trabalho:
interno (técnico) e externo (social).
A forma classica — fordista — decompée 0 processo de produgao
em trés niveis: a concepgao (tarefa altamente qualificada), a fabrica-
¢ao qualificada e a montagem (execugio desqualificada). Com o
aumento do volume de producio (expansaio do mercado), a divisio
acentua-se e as operagdes tornam-se cada vez mais especializadas.
Esta divisiio entre os niveis de produgdo pode levar a uma divisio
entre estabelecimentos e mesmo entre empresas.
(3) Na lingua francesa, "pépiniéres d'entrepriscs".
86
Esta situagao resulta de uma desintegragao espacial no primeiro
caso e de uma desintegracio vertical (organizacional) no segundo
(Fala-se de desintegragao vertical de uma empresa quando as diferen-
tes etapas da producio niio sfio efectuadas na mesma empresa). A ten-
déncia para a desintegracdo vertical (que implica uma extensaio da
divisdo social do trabalho) tornou-se comum, o que pode explicar a
multiplicagaéo das pequenas empresas ( O seu sucesso é, assim, muitas
vezes sobrestimado e mal interpretado!). A divisdo interna do trabalho
é acompanhada por uma divisao externa (social) entre as firmas espe-
cializadas na produg4o de diferentes bens intermédios.
O conjunto da produg&o é coordenado por um grande nimero de
transac¢ées externas e internas, conduzidas pelo mercado (e pelos
pre¢os), por um lado, e administradas pelos gestores da empresa, por
outro. Um aumento da produgio (derivado do crescimento do merca-
do) permite obter economias de escala, quer internas quer externas,
consoante os casos. A organizagao da produgio — integrada ou desin-
tegrada — depende da economia realizdvel na gestao da producio.
Esta questio crucial tem sido rigorosamente estudada ha ja alguns
anos pela escola dos "custos de transacgdes", representada essencial-
mente por O. E. WILLIAMSON (1975), precedida pelos trabalhos
precursores de R. H. COASE (1937). Estas questées foram brilhan-
temente explanadas sob 0 ponto de vista geografico por Allen Scott.
O modelo CWS — Coase-Williamson-Scott — demonstra que 0 que
induzia uma firma para a integragiio vertical nao era somente a busca
de economias de escala mas também as economias de gama, ou seja, a
busca de economias na gestdo, realizdveis através da integracao de
varios processos produtivos. Parece evidente que a rotinizagao dos
processos de trabalho segundo os principios tayloristas, pela
autonomizacgio das diferentes fungdes a realizar, pode enfraquecer
essas economias de gama. No inicio, pode ocorrer a desintegragao
espacial — em busca de condigdes locais mais vantajosas sobre o
mercado de trabalho — e, posteriormente, a desintegragio vertical,
recorrendo-se, entao, 4 subcontratagéo em larga escala. Em contra-
partida, o nticleo estratégico da empresa (concepgiio, I&D, marketing)
mantem-se verticalmente integrado (LEBORGNE e LIPIETZ, 1988).
Assim, a desintegragao surge quando as economias internas de inte-
gracHo (gama) so reduzidas ou negativas.
87
Sao varias as raz6es e condigGes que podem reforgar a desintegra-
¢Ho vertical. SCOTT e STORPER (1987) ¢ STORPER ¢ WALKER
(1989) dao os seguintes exemplos: a incerteza do mercado resulta
muitas vezes na desintegragio, como forma de evitar a transmissao
deste elemento através da estrutura vertical da empresa. A
consequéncia desta acgéo resulta num alargamento considerdvel do
dominio da subcontratagao.
Em segundo lugar, a forte concorréncia econémica pode levar a
firma a mudar frequentemente a configuracao dos seus métodos de
producao e a variedade dos seus produtos. Cada mudanga implica
uma reestruturagdo (mais ou menos importante) do seu sistema de
ligagdes produtivas. Ela possui o m4ximo de possibilidades reestrutu-
radoras quando estas ligagGes sao externalizadas.
Em terceiro lugar, constata-se que para certos produtos especifi-
cos, as empresas especializadas oferecem melhores condigGes para o
fornecimento de produtos intermédios ou de servigos. Acontece
também que estes bens (ou servigos) intermédios so processados em
empresas que nfo conseguem atingir o nivel inferior de produgao
Optima a nfo ser no caso de trabalharem para um grande numero de
empresas situadas a jusante.
Finalmente, verifica-se que a desintegracao é facilitada desde que
haja uma aglomeragio geografica de empresas, 0 que reduz conside-
ravelmente os custos das transacgGes externas.
Esta desintegragfio vertical que caracteriza a produgdo actual
(PIORE e SABEL, 1984) permite a realizagdo de lucros crescentes
através das economias externas que ela proporciona. A especializagao
das empresas leva 4 diminuig&o constante dos custos de produgao
(SCOTT e STORPER, 1987).
Alain Lipietz completa esta andlise considerando prioritariamente
© aparecimento das pressées financeiras, reintroduzindo 0 conceito da
quasi-integragdo vertical. A instabilidade do mercado, os custos
elevados da investigac&o, a diminuigio do ciclo de vida dos produ-
tos,ou seja a multiplicacdo dos riscos, e a imobilizagdo do capital-fixo
conduzem os investidores a entrar num sistema de "mutualidade dos
riscos".
A desconcentracéo das grandes empresas em redes de firmas
especializadas é uma resposta possivel a este desafio, A divisao social
do trabalho assim resultante ndo suprime a hierarquia e o controlo
88
capitalista, E nesta éptica que os trabalhos de HOUSSIAUX (1957) e
de ENSIETTI (1983) voltam ao primeiro plano na andlise da economia
contemporanea, pelo conceito de quasi-integrac&o vertical (ou inte-
gragao diagonal).
LIPIETZ e LEBORGNE (1988) definem 0 conceito como relagdes
estdveis entre fornecedores e clientes; uma parte importante do cliente
no volume de negécios do fornecedor; um campo de subcontratagao
que vai da concepgdo a comercializagao; formas ndo-mercantis de
relacgGes inter-empresariais, indo da subordinagao a parceria. Assim, a
empresa dominante beneficia das vantagens da integracdo vertical
(custos reduzidos das transacgées, flexibilidade da politica global,
gestdo "Just-in-Time") e da desintegracdo vertical (capacidade inova-
dora das empresas subcontratadas, partilha dos riscos e das imobiliza-
gdes, exigéncias no dominio da qualidade). Esta situagao implica a
realizagio de aliangas estratégicas, transferéncia de tecnologia,
colaboragao permanente, "joint-venture", etc. A parceria desenvolve-
-se no interior da dominagiio hierarquica das empresas.
A quasi-integragao vertical exprime a posigao a meio termo entre a
desintegraco vertical e horizontal (subcontratagdo e relagao de
mercado).
A extensdo do mercado favorece a divisiio social do trabalho,
conceito desenvolvido por Adam Smith em 1776 ("A diviséo do
trabalho é limitada pelo mercado"), 0 que significa dizer que o
crescimento da produgdo impulsiona novas actividades e empresas
especializadas, criando condigGes de localizagiio especificas. Estabe-
lece-se uma série de relagdes entre contratante e subcontratado,
comprador, utilizador e vendedor. As trocas de informagao inter-
-industriais e os contratos pessoais multiplicam-se, formando-se
também centros de crescimento com niveis de transacgées intensos. A
histéria da industrializagao capitalista ilustra, assim, a formacdo
periddica de complexos industriais — como foi 0 caso, por exemplo,
da indtstria téxtil em Lancashire ou em Lyon — movimento que
continua até aos nossos dias com a nova vaga dos distritos industriais
de alta-tecnologia.
A divisao social do trabalho —e através dela a grande variedade de
oferta nas transac¢des — favorece a flexibilidade do sistema produtivo.
Os produtos (o tipo de produgio) como as ligagdes inter-empresas
(verticais e horizontais) podem ser alteradas rapidamente. Como as
89
actividades transaccionais sio muito intensas entre os conjuntos e
sub-conjuntos de empresas, a concentragao espacial torna-se evidente.
Nestes espacos, as economias de escala externas séo consumidas sob
a forma de economias de aglomeragdo. A aglomeragdo geografica das
unidades industriais e¢ a divisio social do trabalho fortificam-se
mutuamente no espago e no tempo (SCOTT, 1988a). A concentragao
geogrdfica impulsiona a divisdo social do trabalho pela redugdo dos
custos de transacgao externos as empresas, conduzindo a uma
aglomeragao densa, como resultado da proliferagio das ligagées inter-
~empresariais.
Figura 3 — Esquema da economia dos novos complexos de produgao.
Aspectos
corganizacionais
Economias externas
Divistio social da trabalho
Aspectos
espaciais
Economias de aglomeragao
Relagdes inter-industriais
Formagtio da estrumura
do meteado de trabalho local
A aglomeragio das actividades econémicas forma, paralelamente,
uma bacia de emprego, criando mercados de trabalho locais. A forga
de trabalho dos novos centros de crescimento decompée-se em duas
grandes partes, como jd o observdmos: os assalariados altamente
qualificados e especializados (engenheiros, cientistas ¢ técnicos) e os
assalariados nao especializados, com ocupagao nos servigos e na
fabricagio e com nfveis de remuneragaéo baixos. O emprego de
imigrantes — regulares ou nfo — e de mao-de-obra feminina represen-
tam uma percentagem muito elevada neste segmento. A disponibili-
dade de miio-de-obra desempenhou sempre um papel relevante na
localizagao industrial desde os trabalhos de Weber. As instituigdes, as
organizac6es e as aliangas politicas do regime fordista de produgao
em massa decompéem-se na Europa Ocidental e na América do Norte.
O trabalho produtivo nos novos centros de crescimento assenta nas
novas experiéncias sociais e politicas. A nova configuragao do poder,
das classes e da tecnologia traca os novos contornos de um mercado
de trabalho segmentado. Esta nova situagio permite a realizagio de
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Ressurgimento Do Nacionalismo É Desafio para GlobalizaçãoDocument3 pagesRessurgimento Do Nacionalismo É Desafio para GlobalizaçãomarildaNo ratings yet
- A Terra Fez Sua Passagem para A 5DDocument16 pagesA Terra Fez Sua Passagem para A 5DmarildaNo ratings yet
- Teste Vocacional VC Prefere...Document4 pagesTeste Vocacional VC Prefere...marildaNo ratings yet
- SANTOS, M. Estrutura, Processo, Função e Forma Como Categorias Do Método Geográfico.Document6 pagesSANTOS, M. Estrutura, Processo, Função e Forma Como Categorias Do Método Geográfico.marildaNo ratings yet
- Perguntas para Roda Da Vida COACHINGDocument16 pagesPerguntas para Roda Da Vida COACHINGmarildaNo ratings yet
- Orientações Básicas para A Sessão Da ApometriaDocument6 pagesOrientações Básicas para A Sessão Da ApometriamarildaNo ratings yet
- Hoponopo DefinitivoDocument3 pagesHoponopo DefinitivomarildaNo ratings yet
- Doze Câmaras de AmentiDocument5 pagesDoze Câmaras de AmentimarildaNo ratings yet
- Constelação FamiliarDocument186 pagesConstelação FamiliarmarildaNo ratings yet
- Thoth - 12 PiramidesDocument33 pagesThoth - 12 PiramidesMarcos MozolNo ratings yet
- Realidade Quc3a2ntica Nick Herbert PDFDocument742 pagesRealidade Quc3a2ntica Nick Herbert PDFJanaina AbílioNo ratings yet
- 1193 Discovery Ridge 1Document1 page1193 Discovery Ridge 1marildaNo ratings yet