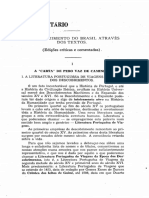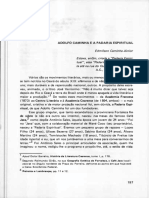Professional Documents
Culture Documents
Cesário Verde
Cesário Verde
Uploaded by
jeniyara0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views11 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views11 pagesCesário Verde
Cesário Verde
Uploaded by
jeniyaraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
POEsIA E SOCIEDADE EM
CrsAri0 VERDE
José Luis Giovanoni Fornos*
s relagdes entre sociedade e poesia em Cesdrio Verde sto, aqui,
Albnerntes sob trés aspectos, estudados & luz da situagao histé-
rica e da potencialidade artistica do poeta portugués: a representacao
da identidade nacional, a condigéo social do autor e as caracteristi-
cas do seu discurso arttstico.
* Doutorando em Teoria da Literatura pelo Programa de Pés-graduacao em Letras,
da PUCRS.
Janeiro/Junho 2002 157
POESIA E SOCIEDADE EM CESARIO VERDE
‘Trés temas balizam a poética de Cesério Verde! : o binémio campo!
cidade; a discussio da identidade nacional e a reflexfo sobre o fazer poéti-
co e seus desdobramentos. Tais escolhas, mediadas pela posigdo do poeta
no quadro social e pelo exercicio técnico-formal, garantem a atualidade de
sua poesia, ainda que tais temas e preocupagdes fagam parte de outros
autores do diltimo quartel do século XIX. As transformagGes politico-econd-
micas ocorridas no final daquele século colaboram também para a atualida-
de dos poemas, considerando a atmosfera criada pelas mudangas daquele
periodo que, tal como hoje, causam perplexidade.
Cesério Verde e sua gerago assistem a enormes mudangas no espa-
go social. As transformagGes na estrutura capitalista do final do século XIX.
mexem profundamente na organizagiio das cidades e do campo.? Reajusta-
do pela inclusio de novas tecnologias, o modelo social faz surgir uma popu-
Jago que, em busca de melhores condigdes de vida, ocupa as cidades, aban-
donando raizes rurais. Tal conjuntura desencadeia efeitos diversos no ima-
gindrio dos intelectuais do perfodo. Basta lembrar a produgdo pottica de
Antero de Quental que opta por uma reflexdo metafisica ¢ filoséfica, como
forma de resisténcia aos acontecimentos. Ja Cesdrio, permeado pelo realis-
mo, observa a sociedade e seus elementos com objetividade, desmistificando-
José Joaquim Cesério Verde nasceu em Lisboa a 25 de feverciro de 1855, filho de Maria da
Piedade dos Santos Verde e de José Anasticio Verde, que era comerciante de ferragens
relativamente abastado e possuidor de uma propriedade agricola em Linda-a-Pastora, Cesério
Verde cresceu num meio de burguesia comerciante da Baixa Lisboeta, com repetidas estadias
na quinta da familia. Morteu de tuberculose a 19 de julho de 1886, aos 31 anos de idade.
2 No caso especifico portugues, estava-se em pleno Fontismo, perfodo em que o Pais volta a
set dirigido por Fontes Pereira de Melo (1871-1879). Em seu govero, assistese a alguns
‘empreendimentos que alteram a face de Portugal, entre os quais, langamento da via férrca
nacional (Revolugdo do comboio); a expansio intensiva do sistema rodoviério:
reaparelhamento dos portos de Lisboa e Leixdes. Cesério foi testemunha de melhoramentos
rmodernos introduaidas no Pais, como o telégrafo, a iluminagdo a gés nas nias, os transportes
coletvos e os primes eandeciros eléticos. Lisboa, com a expansio capitalista, modificava
se, tomando-se progressivamente uma cidade industrial, populosa. Lisboa crescia: para além
do velho burgo medieval, & volta da Sé e do Castelo, ¢ das ruas, geometricamente tragadas,
dda Baixa pombalina, abriam-se avenidas largas, erguiam-se novos bairros, construfam-se
prédios de terceiro andar, as chaminés das fabricas iamse elevando por entre 0s casarios e,
fo entardecer, as ruas enchiam-se de uma multidio de tabalhadores andnimos, em que jé se
sobressaia a presenga de operérias, costureiras ¢ floristas, misturadas as “varinas”. Tais,
mudangas, no entanto, provocavam um descompasso jé que a incorporagio das inovagdes
‘io acompanhava tais melhorias. Assim, o sistema de abastecimento, de saneamento, na
construgio das moradias, era deficitrio, provocando problemas graves de sate 8 populagio
citadina, Martinho de Nobre de Melo descreve 0 contexto lisboeta: “Ha que reconhecer,
perante a unanimidade dos testemunhos coesos, a geral insalubridade da capital portuguesa,
resultante de miltiplos fatores como a insuficiéncia da égua fornecida a domicilio por
aguadeiros ¢ em regra eseasseando no vero: a insuficiéncia dos esgotos cuja rede estava
Tonge de cobvir toda a drea da cidade; o sistema das sarjetas na gencralidade sem siffes: 0
acondicionamento defeituoso das canalizagSes que permitia aos gases refluirem para 0
interior das habitagOes desprovidas de respiradoiros adequados: acumulagio de despejos
langados nas nuas, acrescidos dos estrumes de currais ainda sobreviventes em alguns bairros
aque se convertiam em focos de infecgao”.
158 VIDYA 37
JOSE LU[S GIOVANONI FORNOS
a. Apoiado em Baudelaire? , o autor portugués descreve as “‘multidées” da
cidade com “terror dignificado”.
O crédito de Baudelaire junto 4 produgdo poética de Cesério nao se
restringe a inventividade do escritor portugués. O capitalismo industrial da-
quele final de século nao é a salvaguarda exclusiva para a permanéncia de
sua poesia. Ultrapassando os condicionamentos estéticos e politicos, Cesério
produz uma poesia peculiarissima que advém, entre outros aspectos, do su-
jeito social contraditoriamente constrangido entre o artista e o cidadao per-
tencente a uma determinada classe, respondendo a demanda imediata de
uma profissio e herdeiro de uma familia proprietéria e abastada‘.
Otratamento irénico’ e cético, tanto aos que militam em grupos lite-
rarios quanto aos que esto presos a relagdes exclusivamente mercantis,
desencadeia aspectos importantes na composigao poética do autor. Ao vi-
ver os “dois lados”, como intelectual e também como comerciante, “expor-
tador de frutas e legumes”, Cesdrio, através da ironia, percebe a realidade
em sua totalidade, explorando, com minticia, as contradigdes socialmente
vividas, inclusive as suas. Para a solugdo do conflito, busca, num primeiro
momento, valorizar 0 territério nacional, identificado na cultura esponténea
do campo.
A poesia social de Cesério, enfatizada na preocupagao do artista com
0s problemas sécio-politicos, aparece em dois textos exemplares que so
referéncias obrigatérias como expresso da melhor poesia em lingua portu-
guesa. Trata-se de “O Sentimento dum ocidental” e “Nés”®. O primeiro,
publicado a 10 de junho de 1880, na cidade do Porto, no caderno especial da
edigao do Jornal de Viagens, em comemoragio ao aniversério da morte de
* Alem de Baudelaire, os eriticos apontam influéneias de Frangois Coppé e Leconte de Lisle
no plano literério.
‘Segundo Maria Ema Tarracha Ferreira, Cesério debate-se entre dois mundos, 0 do homem
que exerce a fungio de comerciante, assumindo gradativamente a diregao do comércio do
Pai (exportagdo de frutas ¢ comércio de materiais de ferragens e construcdo) e uma vocagio
ppoética, com a qual nio se sente valorizado, jf que seus poemas sao criticados pelos préprios
correligionarios quando aparecem na impresisa. (Ramalho Ortigio, em As Farpas, e Te6filo
Braga acothem com “severidade e sarcasmo” as poesias de Cesério, causando a0 poeta
profundo desalento). A doenga de Cesério, tuberculose, também possui um papel importante
nha sua produglo artistica.
Mario Sacramento, chama a atengdo para 0 que caracteriza como “tensto dialética” da
ironia de Cesdrio Verde: “mantém os seus poemas mais caracteristicos num permanente
estado de tensdo dialética, que 0 poeta sabiamente modula, fazendo intervir a ironia no
onto exato em que essa tensio compeliria a0 desvario sentimental ou ideolégico”.
SACRAMENTO, Mério. “Lirica e dialética em Cesirio Verde”. In: Ensaios de Domingo.
Lisboa: Vega, 1990, p.98.
* Os dois poemas citados fazem parte do tinico livro de Cesério Verde: © livro de Cesério
Verde, publicado em 1887 por um amigo - Silva Pinto - aps a morte do poeta. O livro teve
varias edigdes seguintes que serviram para cobrir as falhas da I* edigao, jf que seu companheiro
Silva Pinto evitara a publicagao de alguns poemas do autor tais como “A forca” e “Secretério
dos amantes”. A edigao utilizada para 0 estudo dos dois poemas foi organizada por: FERREIRA,
Maria Ema Tarracha. 0 livro de Cesério Verde. Lisboa: Ulisséia, 1981
Janeiro/Junho 2002 159
POESIA E SOCIEDADE EM CESARIO VERDE
Camées, foi recebido com indiferenga pela critica. Na verdade, a tinica
manifestago parte de um critico espanhol que aponta que os versos “desto-
am do nobre espirito portugués”. Nds, poema mais longo de Cesério, publi-
cado em Ilustragdo, Paris, 5 de setembro de 1884, considerado por muitos
criticos um dos melhores do autor, tematiza o universo rural portugués, exa-
minado em toda sua complexidade.
Entre um poema e outro, nota-se uma alteragio de ponto de vista
sobre a realidade portuguesa. Em “O Sentimento dum ocidental”, predomi-
na a reflexdo sobre as ruas de Lisboa que revela uma “massa” humana
“irregular”. A contradico da cidade, espelhada no progresso e na miséria,
simultaneamente “inspira” e “incomoda” o poeta. Num primeiro momento,
© fascinio pelo fenémeno urbano em mutagdo parece deliciar 0 sujeito em
seu passeio “reflexivo”, porém, sio a miséria, a sujeira e a luta pela sobre-
vivéncia que, por fim, predominam, provocando um mal-estar cujo sintoma
imediato € o da melancolia, evocada nas quadras iniciais do poem:
Nas nossas ruas, ao anoitecer,
Hé tal soturnidade, ha tal melancolia,
Que as sombras, 0 bulicio, 0 Tejo, a maresia
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer
O céu parece baixo e de neblina
O gas extravasado enjoa-me, perturba;
E os edificios, com as chaminés, ¢ a turba
Toldam-se duma cor monétona ¢ londrina
Em “O Sentimento dum ocidental”, a rua e suas personagens exercem
um fascinio negativo, provocando a dor do sujeito. Em vista disso, no poema
‘Nés, apés a sua passagem no campo onde parece encontrar a “verdadeira
natureza de ser portugués”, 0 sujeito lamenta a volta a “cidade maldita”.
De acordo com Anténio José Saraiva e Oscar Lopes, em “O Senti-
mento dum ocidental”, “nao se depara os vagos operdrios e prostitutas do
progressismo verboso de certos contemporaneos, nem o oco pessoalismo
ultra-romantico”. Para os dois criticos, Cesdrio é 0 poeta “cuja neurastenia
se retrata ¢ ironiza num quadro real, a vista de dramas flagrantes dos vizi-
nhos...’? Os dois autores tém razo. Na leitura do poema, ha a descrigdo
equilibrada, sem o moralismo ingénuo que paternaliza por inteiro o ser social
em desvantagem, reagindo contra a sua idealizago, atacando pieguismo.
Nesse caso, 0 populismo que, muitas vezes, invade a ficgdo, é retido pelo
vocabulério preciso, irénico e por uma autoconsciéncia que reflete sobre
SARAIVA, J. A. € LOPES, O. Histéria da literatura portuguesa. Porto: Porto, 1986, p.
967,
160 VIDYA 37
JOSE LUIS GIOVANONI FORNOS
sua prépria capacidade criativa: “Longas descidas! Nao poder pintar/ com
versos magistrais, salubres e sinceros”.
A cidade em “O sentimento dum ocidental” perde seu encanto. O
poeta é atingido pelo desgosto provocado pelo cheiro fétido do “peixe po-
dre” que “gera os focos de infec¢do”; pelo ar pueril das “burguesinhas do
Catolicismo”; tomado pela ndusea ao aproximar-se dos “ventres das taber-
nas”. Diante dessa atmosfera, em que colaboram ainda a epidemia da “Fe-
bre” e do “Célera” que assalta impiedosamente Lisboa, cuja populagio,
“com um terror de lebre,/ Fugiu da capital como da tempestade”, a mudan-
¢a para o campo torna-se necessdria e oportuna. Est4-se a falar do poema
Nés, em que as primeiras sete estrofes registram a fuga em panico de por-
tugueses da capital.
O fascinio do poema “Nés” estd, entre outros aspectos, na
multiplicidade ideolégica dos fatos, alcangados pela ironia que impede de
serem celebrados numa tinica tonalidade. Contrariando a representacio
romantica do espago rural, Cesério apresenta o campo ajustado ao modo de
produgio econémica vigente em que a categoria trabalho - do camponés -
aparece como expresso legitima, desmistificando a aura campestre en-
quanto lugar harmonioso, aprazivel e de lazer:
Contudo, nés nao temos na fazenda
Nem uma planta 6 de mero ornato!
Cada pé mostra-se itil, é sensato,
Por mais finos aromas que rescenda!
Finalmente, na fértil depressao,
Nada se vé que a nossa mio néio regre:
A florescéncia dum matiz alegre
Mostra um sinal - a frutificagao!
Hoje eu sei quanto custam a criar
As cepas, desde que eu as podo e empo
Ah! O campo néo é um passatempo
Com bucolismos, rouxindis, luar.
Distante dos pardmetros da estética romantica, acentua-se 0 cardter
mercantil do campo. Helder Macedo destaca que
‘© campo deixa de ser a idilica metafora oposta ao tem-
po € ao espago presente da cidade, tornando-se numa
realidade concreta observada tdo rigorosamente e des-
crita tao minuciosamente como a propria cidade havia
sido: um campo em que 0 trabalho e os trabalhadores
Janeiro/Junho 2002 161
POESIA E SOCIEDADE EM CESARIO VERDE
sfo parte integrante, um campo ttil onde 0 poeta se
identifica com o povo e de cujas atividades participa’.
Para Saraiva e Lopes, Cesério examina o campo com o olhar objeti-
vo do administrador rural. Todavia, esse olhar é mediado pela mo do artista
que problematiza a visdo economicista do comerciante interessado em ven-
der seu produto. Desse reajuste, imposto por um duplo sentimento, sobres-
sai uma relagao conflituosa do sujeito com o seu meio em que o poeta busca
solucionar, identificando-se “com 0 povo comum, uma identificagio inevita-
velmente em conflito com a realidade da sua situago econémica e soci-
al”. Para Helder Macedo, “a consciéncia deste conflito é pungentemente
reforgada pela percepgaio de que sua classe, a sua propria ‘geracio exan-
gue de ricos’, € menos capaz de sobreviver do que 0 povo, organicamente
mais forte porque melhor adequado ao meio: 0 seu meio”.
‘A necessidade de conciliar as contradigdes inerentes & sua posigao
pessoal de proprietério-comerciante ¢ de intelectual “revoluciondrio”, possi-
bilita a Cesdrio, por um lado, investigar com objetividade a nova realidade
social em que se integrara, encontrando no meio rural varios aspectos nega-
tivos que havia percebido na cidade. Por outro, essa revisdo da imagem do
campo levou-o, em parte, a um diferente parecer acerca da na¢do portu-
guesa. No poema “Nés”, a valorizagao da natureza espontanea, simples
natural do meio e do povo portugueses aparece como fenémeno positivo da
identidade nacional. Tais caracterfsticas so um contraponto a artificialidade
produzida pelos paises do norte europeu, em dltima instdncia, vitimas da
industrializagao e da racionalidade instrumental. Escreve 0 poeta:
Anglos-Saxénios, tendes que invejar!
Ricos suicidas, comparai convosco!
Aqui tudo espontaneo, alegre, tosco,
Facilimo, evidente, salutar!
Bem sei que preparais correctamente
O ago e a seda, as laminas ¢ 0 estofo;
Tudo 0 que ha de mais diictil, de mais fofo,
Tudo 0 que ha de mais rijo e resistente!
Mas isso tudo é falso, é maquinal,
* MACEDO, Helder. Nés - uma leitura de Cesério Verde. Lisboa: Publicagoes Dom Quixote,
1986, p. 45-49.
% Idem, ibidem, p. 46.
© Idem, ibidem, p. 46.
162 VIDYA 37
JOSE LUIS GIOVANONI FORNOS:
Sem vida, como um cérculo ou um quadrado,
Com essa perfeigao do fabricado,
Sem o ritmo do vivo e doreal!
E cé o santo sol, sobre isso tudo,
Faz conceber as verdes ribanceiras;
Langa as rosdceas belas e fruteiras
Nas searas de trigo palhagudo!
Tal posigao ideolégica é resumida por Hélder Macedo da seguinte ma-
neira: “A transposicao do contraste campo-cidade, leva a uma nova, mas equi-
valente, polaridade: o contraste entre a sociedade agraria e a sociedade indus-
trial. A cidade artificial torna-se equivalente as nacdes industriais do Norte e 0
‘campo - 0 natural oposto ao artificial - torna-se equivalente a Portugal, uma
nagdo agréria do Sul identificada com seu povo comum” (p. 46).
O campo como espaco representativo da nacionalidade portuguesa
passa, portanto, a ser, para Cesério, fator importante, assegurando ao Pais
uma identidade. Todavia, a valorizagio dessa cultura pré-moderna é
contraditada pelo dominio da relago econémico-politica que impée dificul-
dades, levando o poeta a ironizar a dependéncia de Portugal junto a outros
paises. Com a finalidade de valorizar a produgdo agricola local e daqueles
que exercem a atividade no campo, questiona os pafses industrializados so-
bre a sorte econémica de Portugal:
O cidades fabris, industriais
De nevoeiros, poeiradas de hutha,
que pensais do pais que vos atulha
Com a fruta que sai de seus quintais?
Em relaco A produgao agricola, o poeta enumera as dificuldades do
trabalho no campo, denunciando, além das pragas naturais, a dependéncia
do clima para o plantio e uma boa safra, o roubo, a concorréncia econdmica
© os impostos:
A nés tudo nos rouba e nos dizima:
O rapazio, 0 imposto, as pardaladas,
As osgas peconhentas, achatadas,
E as abelhas que engordam na vindima.
E 0 pulgdo, a lagarta, os caracéis,
E hé ainda, além do mais com que se ateima,
As intempéries, 0 granizo, a queima,
E a concorréncia com os Espanhdis.
Janeiro/Junho 2002 163
POESIA E SOCIEDADE EM CESARIO VERDE.
No poema “Nés”, além da visio macro-estrutural da realidade, 0 sujeito
aparece dividido. Ora aparece como parte integrante da realidade, ora observa-
a.com distanciamento critico. Nao escapa igualmente de reflexes que dizem
respeito a si mesmo, criticando op¢Ges feitas cujas conseqUéncias trazem enor-
me infortinio. Observe-se a critica a que o sujeito litico se aplica ao comentar
que, na busca de dinheiro, deixa de acompanhar a situaco enferma da irma.
Nesse caso, as relacGes sentimentais familiares so sobrepostas pela atividade
econémica e pela acumulagio do capital"
A procura da libra e do shilling,
Eu andava abstrato e sem que visse
Que 0 teu alvor roméntico de miss
Te obrigava a morrer antes de mim!
O processo de alienagdo provocado pela estrutura social capitalista é
um dos elementos centrais da critica poética efetuada por Cesério Verde.
Como comerciante ativo, bem como intelectual “participante” das discus-
ses promovidas em torno do socialismo, Cesério observa concretamente 0
significado do cardter desumanizado e desumanizante da relagao mercantil.
E 0 cdlculo econémico que reifica as relagdes entre os homens, operando
um desajuste moral e afetivo. Esse quadro se manifesta no depoimento do
sujeito em relagdo a irma, mas também no tratamento aos trabalhadores do
campo e da cidade.
De outro modo, a dimensio social da poesia de Cesério, identificada
‘com programa realista-naturalista, a0 menos como ponto de partida, é am-
pliada pela escolha de estratégias formais e pelo caréter metaficcional do
seu agir poético. A organizagio de seus poemas caracteriza-se pela narra-
tiva de passeios, aparentemente casuais, em que um observador vai regis-
trando o ambiente mutavel e miscelaneo que se lhe depara. Essa técnica
tem o seu equivalente o seu reforgo, ao nivel da sintaxe, na figura domi.
nante do estilo de Cesirio, o assindeto, cujo efeito, resultante da justaposi-
ao ou contigitidade textual de vocabulos, geralmente de valor adjetivo ou
nominal, é 0 de acentuar os valores semanticos individuais de cada palavra.
Tal método poético — a estrutura ambulatéria que reflete 0 movimento do
observador solitério, justaposto a percepgdes aparentemente aleatrias €
dissociadas — deriva do desejo de registrar as gradagSes sutis de uma reali-
dade em transformagio. Em meio a descrigdo de objetos ¢ sensagées, 0
poeta produz eus miiltiplos que indicam a gradativa mudanca de posigo
frente & sociedade ou a crescente consciéncia dos problemas que a afetam.
K. Marx e F. Engels escrevem no Manifesto Comunista: “A burguesia rasgou 0 véu do
sentimentalismo que envolvia as relagGes de familia ¢ reduziu-as a meras relages monetirias”.
(MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto comunista, Sio Paulo: Boitempo, 1998, p. 42.)
164 VIDYA 37
JOSE LU{S GIOVANONI FORNOS
Na visio de David Mourdo-Ferreira, a estética de Cesdrio parte de
uma concepgio pictérica para reescrever a realidade. Segundo o romancis-
ta portugués, Cesario “é um daqueles artistas para quem o mundo externo
conta de modo primacial; e as suas emoges posticas s6 atingem plena
expresso quando preliminarmente aquecidas pela visio pict6rica”. A 6ti-
ca pictural, em especial a de técnica impressionista, tem sido a énfase dada
pela critica ao processo de invengao de Cesario Verde.
O critico portugués Jacinto Prado Coelho chama a atengio ainda
para as categorias espago e meméria como figuras chaves para entendi-
mento do processo de criagdo poética de Cesario Verde. Tanto em “O sen-
timento dum ocidental” quanto no poema “Nés” verifica-se a exploragdo do
espaco e da meméria. No primeiro, nota-se a preocupagiio do poeta em
descrever grandes areas de Lisboa, aliada 4 recordagio de episédios cole-
tivos que identificam a Hist6ria de Portugal: “E evoco, entio, as crénicas
navais:/ Mouros, baixéis, herdis, tudo ressuscitado!”, contudo, tais referén-
cias passadas vém retemperadas pela ironia: “Luta Camées no Sul, salvan-
do um livro a nado/ singram soberbas naus que eu nao verei jamais!”. No
poema “Nés”, aponta sua intengio artistica:
Fecho os olhos cansados, e descrevo
Das telas da meméria retocadas,
Biscates, hortas, batatais, latadas
No pats montanhoso, com relevo!
Na estrofe acima, os adjetivos “cansados” e “retocadas”, colocados
com precisio, informam, de forma simultdnea, 0 fastio da criagio e a ne-
cessidade de continuar a escrever. Se por um lado o olhar do poeta expres-
sa certo cansago, devido as desigualdades e injustigas sociais; por outro a
meméria, anunciada pelo artista através do documento literdrio, reabilita a
leitura do passado numa diregdo diferente, ampliando o sentido da Historia.
Retocar o passado, sob 0 impulso da visio do artista, multiplica os sentidos
da Historia, assim como da realidade, criando novas possibilidades de repre-
sentagdo do real. O escritor José Saramago, ao discutir a relagdo entre
Hist6ria e ficgo, aponta 0 seu método de trabalho:
a incapacidade final de reconstituir 0 passado, nao
podendo reconstitui-lo, somos tentados - sou-o eu,
pelo menos - acorrigi-lo (...) quando digo corri
rigir a Historia, nao é no sentido de corrigir os factos
da Hist6ria, pois essa nunca poderia ser tarefa do ro-
ir, cor
= MOURAO-FERREIRA, David. Notas sobre Cesétio Verde. In: Hospital das Letras. Lisboa
INCM, 1981, p. 70
Janeiro/Junho 2002 165
POESIA E SOCIEDADE EM CESARIO VERDE.
mancista, mas introduzir nela pequenos cartuchos que
facam explodir o que até entao parecia indiscutivel: por
outras palavras, substituir 0 que foi pelo que poderia
ter sido".
Entretanto, Cesdrio nfio acata com trangililidade esse retocar dos
fatos efetuados pela meméria. Com consciéncia, observa que a correcio da
Historia e da realidade pretendida pelo artista pode conter equivocos. Cesério,
através de uma auto-consciéncia, marcada pela ironia e ceticismo, relativiza
a representaco pottica e ri dos exageros com que se pode retratar o real:
Entao recordo a paz familiar,
Todo um painel pacifico de enganos!
E a distancia fatal duns poucos anos
E wma lente convexa, de aumentar.
Todos os tipos mortos eu ressuscito!
Perpetuam-se assim alguns minutos!
E eu exagero os casos diminutos
Dentro de um véu de lagrimas bendito.
Mediante as possibilidades de enganos da criaco artistica, fruto de
sua temporalidade historica, o poeta desconcertado e desiludido da fungao
social que a literatura pode exercer, declara seu desdém a ela.
De tal maneira que hoje, eu desgostoso ¢ azedo
Com tanta crueldade e tantas injustigas,
Se inda trabalho é como os presos no degredo,
Com planos de vinganca e idéias insubmissas.
E agora, de tal modo a minha vida é dura,
Tenho momentos maus, tao tristes, tao perversos,
Que sinto sé desdém pela literatura,
E até desprezo e esqueco os meus amados versos!
Incapaz de amenizar o drama social a que assiste, seja na esfera
privada, com a morte prematura dos seus familiares, seja na esfera social
em que prospera uma sociedade baseada na experiéncia exclusiva da pro-
ducio de mercadorias com vistas ao lucro, o poeta langa um olhar de des-
prezo a literatura. Todavia, Cesdrio, em suas contrariedades ironicas, reco-
nhece a importancia da arte na representagdo do espaco social, elevando-a
a.um instrumento critico significativo na sondagem da realidade através de
um discurso lirico auto-reflexivo e transformador.
© REIS, Carlos. O conkecimento da literatura, Coimbra: Almedina, 1997, p. 502.
166 VIDYA 37
JOSE LU[S GIOVANONI FORNOS
Referéncias Bibliograficas
MACEDO, Helder. Nés — uma leitura de Cesario Verde. Lisboa: Publica-
g6es Dom Quixote, 1986.
MELO, Martinho Nobre. Cesdrio Verde: poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1958.
MOURAO-FERREIRA, David. Notas sobre Cesdrio Verde. In: Hospital
das Letras. Lisboa: INCM, 1981.
PEREIRA, José Carlos Seabra. Histdria critica da literatura portugue-
sa: do fim-de-século ao modernismo. Lisboa: Verbo, 1995.
QUADROS, Anténio. O primeiro modernismo portugués. Lisboa: Publi-
cagdes Europa-América, 1989.
SACRAMENTO, Mario. Ensaios de Domingo. Lisboa: Vega, 1990.
SARAIVA, Ant6nio e LOPES, Oscar. Histéria da literatura portuguesa.
Porto: Porto, 1986.
VERDE, Cesirio. O livro de Cesdrio Verde. Lisboa: Ulisséia, 1981.
Janeiro/Junho 2002 167
You might also like
- Autoria FemininaDocument21 pagesAutoria FemininaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Identificado Ama HumbertodeCampos.a41036ac86044b94ad8fDocument1 pageIdentificado Ama HumbertodeCampos.a41036ac86044b94ad8fMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Literatura Leyla PerroneDocument7 pagesLiteratura Leyla PerroneMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- CamScanner 14-09-2023 21.08Document1 pageCamScanner 14-09-2023 21.08Marcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Plano Infanto Juvenil AssinadoDocument5 pagesPlano Infanto Juvenil AssinadoMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Cesário LivroDocument7 pagesCesário LivroMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- 124030-Texto Do Artigo-233952-1-10-20161212Document12 pages124030-Texto Do Artigo-233952-1-10-20161212Marcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Simpósio 9Document5 pagesSimpósio 9Marcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- NORMASPARASUBMISSSODETRABALHO D4808e2181a1482f8f0cDocument1 pageNORMASPARASUBMISSSODETRABALHO D4808e2181a1482f8f0cMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Artigo Duelo Do BatmanDocument15 pagesArtigo Duelo Do BatmanMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Trabalho Supervisão de EstágioDocument1 pageTrabalho Supervisão de EstágioMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- ABDALA JUNIOR, Benjamin. Estudos Literários e Crítica Política. Conexão LetrasDocument13 pagesABDALA JUNIOR, Benjamin. Estudos Literários e Crítica Política. Conexão LetrasMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- TCC Ângela Souza 2016Document41 pagesTCC Ângela Souza 2016Marcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- CesárioDocument2 pagesCesárioMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- CatatauDocument11 pagesCatatauMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- LSB9104 Literatura SurdaDocument9 pagesLSB9104 Literatura SurdaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- ACL 1980 29 Adolfo Caminha A Padaria Espiritual Edmilson Caminha JDocument9 pagesACL 1980 29 Adolfo Caminha A Padaria Espiritual Edmilson Caminha JMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- CamScanner 08-05-2023 18.16Document26 pagesCamScanner 08-05-2023 18.16Marcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- TCC Natureza Do Trágico em Edipo ReiDocument33 pagesTCC Natureza Do Trágico em Edipo ReiMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Gênero LíricoDocument20 pagesGênero LíricoMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Conto de Itamar Vieira O Que QueimaDocument8 pagesConto de Itamar Vieira O Que QueimaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Contos Marina ColassantiDocument38 pagesContos Marina ColassantiMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- N Ayane SilvaDocument41 pagesN Ayane SilvaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Memoria e Ficcao em As Parceiras de Lya LuftDocument13 pagesMemoria e Ficcao em As Parceiras de Lya LuftMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Jamais o Fogo NuncaDocument86 pagesJamais o Fogo NuncaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- A Mulher Oriental em Duas Escritas Da Ásia PortuguesaDocument12 pagesA Mulher Oriental em Duas Escritas Da Ásia PortuguesaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- A Poesia Pura Como Paradigma de TradicaoDocument12 pagesA Poesia Pura Como Paradigma de TradicaoMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- A Mulher Sob SuspeitaDocument14 pagesA Mulher Sob SuspeitaMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Artigo Lúcia ZolinDocument8 pagesArtigo Lúcia ZolinMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- Projeto Abraplip OficialDocument16 pagesProjeto Abraplip OficialMarcia Pinheiro MarciaNo ratings yet
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5808)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)