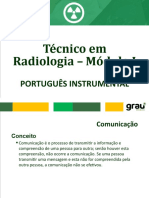Professional Documents
Culture Documents
Uma Breve História Da Linguística
Uma Breve História Da Linguística
Uploaded by
Gabriel Felipe0 ratings0% found this document useful (0 votes)
167 views22 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
167 views22 pagesUma Breve História Da Linguística
Uma Breve História Da Linguística
Uploaded by
Gabriel FelipeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 22
HERONIDES MOURA
MORGANA CAMBRUSSI
Uma
breve histéria
da lingufstica
Ue aor)
) fp} os
VOZES
Colegao de Linguistica
Santee ot Uv di Gen Ay
es ES aa
=.
Dados Internacionais de Catalogagao na Publicagio (CIP)
(Cimara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Moura, Heronides
‘Uma breve histéria dalingutstca J Heronides
Moura, Morgana Gambrussi~ Petropolis RJ :Vozes,
2018. ~ (Colegio de Linguistica)
nbrussi, Morgana.
epp-410
Indices para catilogo sistematio:
Linguistica 410
pee cocxistirs isso
Pesemnto cientifico,
ge eeento sua pré-
Origem e diversidade
das linguas
Jo, um dos mais famosos didlogos de Platdo, é uma experi
cia surpreendente, pois é como se entréssemos em um tunel do tempo ¢
cafssemos em plena praca publica da Atenas antigs
3 cada enunciado ex-
presso ali faz um enorme sentido no contexto daquela discussio, mas se
‘comparamos com 0 nosso tempo, as crengas sobre a linguagem expressas
no didlogo estao totalmente distantes do que sustentam os estudos lingufs-
ticos modernos.
Cratilo, com o subtitulo Sobre a justeza dos nomes, relaciona-se com ou-
tro didlogo de Platao, Teeteto, que aborda mais amplamente a questio do
conhecimento. Cratilo, entretanto, particulariza a problema do conheci-
mento e 0 restringe a que se pode chamar de conhecimento acerca da
linguagem. O debate em que Sécrates defende a posicao de Cratilo sustenta
‘uma batalha retérica desproporcionada, em que um dos debatedores ape-
nas consente, jé que Hermégenes é somente alegoria de objeco (malsu-
cedida) para a defesa da tese de que os nomes, com suas silabas e letras,
estao tao intrinsecamente ligados a natureza das coisas nomeadas que sao.
capazes de capturar destas a esséncia, a ideia fundamental — por essa razao
conhecida como posigao naturalista,
6 pensamento platanico que dé lugar 20 contexto de prod
sido ndo sai er busca dos enigmas da linguager™ em busca dos enig-
as que obscurecern nosso entendiment© sobre o que é 0 conhecimento
hhumano e sobre como ele poderia ou n40 poderia ser compreendido de
forma auténoma & linguagem, em ume abordagem pura. Em Teeteto, Pla-
tao chega a assumir a tese de que o debate sohse a conhesimento 8 POSS
ser feito por meio da linguagem, do estudo de suas caracteristicas e de sua
Srigeis A Tinghagem emerge, portanto, como importante aspecto do
estudo platOnico sobre © conhecimento. Assim nasce Cratilo e, por iss,
ase texto se enreda nas questoes sobre a naturel da linguagem e sobre
as relagdes que existe entre linguagem e realidade, ¢ entre HREUHBE™ *
pensamento, as quais até & atualidade tém embalado discussoes em Areas
loo :
aicias & filosofia da linguagem ¢ & semanticey como os estudos modernos
produzidos em torno do papel da inguagem para acategorizagao do mun-
do e paraa construgio conceitual
© debate principal do didlogo, entretanto, £2 oposigao entre naturalis-
sno-econvencionalismo do signo Hingufstico" 0 signo linguistico (de uma
vmaneira simplificada, a palavra) é uma jungao de som e sentido. Os natu:
valistas julgam que deve existir uma relagio entfe & forma da palavra € ©
sentido que ela expressa. Um exernplo so a8 onomatopeias: au-au designa
em portugues brasileiro 0 som que um cachorro faz e tenta-se reproduzir
ese som na propria palav735 por 60, cOnSIOETa SS que as onomatopeias
sao representasbes navurais dos sigificados Nesse sentido, a ideia dos na-
turalistas é a de que todas as palavras devem alguma relagio natural
atte som e sentido. 03 copvencionalistas POF UE lado, defendem que
9 som de uma palavra nada tem a ver com © sentido que ela designas as
‘onomatopeias so apenas excegoes a e55° principio.
1. Deacordo com olingust Ferdinand de Saussere o ebgmada Linguist
ase rma osigno ingusteo ume vnidade da Ine Pos
oie minima da ae qu, abitrajamente Care ‘consigo some
ee RE 2006 (1916])-Ch.0 Quadro 6 na esto 2A)
pte-se que 0
pitrariedade
a moderna
defendidas
smo, dom
ia posicao i
pemdiaca0 de Cré-
seca dos enig-
Seehecimento
mespreendido de
[Eas Teeteto, Pla-
sseoento 56 pode
(ease de sua
esaste aspecto do
SE <, por isso,
imesazem e sobre
feiss linguagem e
Seasbes em areas
seedos modernos
petacio do mun-
S eatre naturalis
Sesistico (de uma
Sestido. Os natu-
ses da palavra eo
se ast-ait designa
esse reproduzir
= Smomatopeias
Ge sideia dos na-
ge eelecio natural
sie defendem que
oe ais designa; as
Ja Linguist
See signo linguis-
“Gees consigo some
Note-se que o convencionalismo, também conhecido como principio
da arbitrariedade do signo, é hoje aceito como um principio bisico da lin-
guistica moderna, e € essa uma das razdes que nos levam a estranhar as
ideias defendidas no Crétilo. Socrates, ao se juntar a Crétilo na defesa do
naturalismo, domina o debate em especial porque Hermégenes, embora
assuma posigio ini
‘al em favor do convencionalismo, muito pouco ar
gumenta em defesa de sua tese (no dilogo nio ha defesa do principio da
arbitrariedade). E verdade que, ao final, Sécrates relativiza sua posigdo
linguistico, pois, de outra forma, a palavra, de tao semelhante & coisa que
designa, poderia ser um substituto da coisa em si, o que ele reconhece ser
inadmissivel. Alguns comentadores desse dislogo platonico chegam a dizer
que no final Sécrates se mostra convencionalista, mas a nossa leitura éa_ yp"
de que cle ¢ fundamentalmente um naturalista (SEDLEY, 2003). re ~
Em termos saussureanos, quando 0 assunto € 0 signo eee resul-%) vps wo
tante da associagao de um significante a um significado, “[..] a significante te
imotivado, isto é, arbitrario em relagao ao significado, com o qual nao tem a
nenhum lago natural na realidade” (SAUSSURE, 2006 [1916], p. 83, grifos
1no original). Mas muito antes de Saussure elaborar, de uma maneira clara
¢ precisa, 0 conceito de arbitrariedade do signo Linguistico, o filésofo Des-
“cartes ja havia sustentado que as palavras se ligam arbitrariamente as coisas
que elas denotam. O argumento dele € filos6fico e é um dos fundamentos
da revolucao cientifica que ocorreu no século XVII. Descartes argumentou
que para estudar a natureza é preciso separar a percepgao sensorial feita
pelo ser humano e a realidade das coisas naturais. Tradicionalmente, acre-
ditava-se que as coisas eram essencialmente o que pareciam ser para n6:
attavés de nossos sentidos (CLARKE, 2006, p. 115). Isso leva a erros curio-
sof: nao ha nenhuma propriedade em uma pena de passaro que seja similar
4 sensagao causada em uma crianca, quando alguém roca a pena nela. Ela
sente cécegas, mas essa sensacio é totalmente diferente da natureza da pena
em si. Para estudar a pena, € preciso esquecer as cécegas ¢ atentar para a
cextrutura fisico-quimica que a compée, Ora, as palavras ¢ as co!saS também ne nos é
pertencem a categoria diferentes, e € um erro, conforme essa visio, buscar no fala
vas palavras semelhancas com as coisa que els representa a5) comoé
lum erro buscar nas coisas as mesmas sensaroes que elas nOs causa:
Outro fl6sofo do século XVII, Leibniz, também crticou a visio tradi-
ional de que as coisas sto aquilo que parecem Para és. Ao caracterizar 0
que seria uma filsofia racional e distingui-la do que sarcasticamente chama
filosfiafanatica, ele até mesmo ironizou a posicio de pensadores que
{savaramas aparéncaforjndo enpresamente qualidade oot! 08 facul-
tae qu imagine semelhates a pequenos demdnios on Juendes APA
arrec o qur se pede, como sos relogos de bolo assinalassem as BOP POT
se tty acu horodetica [que aponta as hors] sem necesiade dec
‘renogens de rodas, ou como secs moinhostrtarssem os G05 Pos wet facut
aerate evan rer necesidade de raa que eastmee is més (LEIBNYZ,
1972 [1765], 128).
Nao existe, 6 claro, essa propriedade de dar as horas, assim como nao
existe nas palavras nenhuma propriedade que as ligue as coisas que repre-
sentam, Mss a flosofia platOnica apanta-ne-direqte-contcizia, PTS O79
esséncia das coisas refletida pela exatiddo dos nomes~ 52 propriedade es-
Sencial seria a verdade segundo a qual se pode provar que as coisas possuem
‘um nome natural ¢ certo que viemos a conhecer, mas cuja origem nem
sempre sabemos revelar ¢ tampouco podemos modificar. Para chegar a da,
Sécrates invoca o argumento de autoridade de deuses, de sujeitos judicio-
50s (representados por Homero) e de Jegistadores por eles compreenderem
as relagdes entre as coisas ¢ os nomes ¢ POF estarem @ frente dos insensatos
(“alguns homens ¢ todas as mulheres’, conforme a visio platdnica), para
quem essa verdade nfo transparece-
Sinuosamente, a argumentagao naturalista de Sécrates busca inspiragio
‘mesmo em dominios que nao sao da linguagems afinal,}para tudo existe
~s im modo natural de acontecimento: ser bem-sucedido 20 cortar 8 coisas,
exige que a agio se faga como manda a nature72y pelo modo apropriado
de corti-las,¢ no do jeito que bem se descjars a0 decidirmos incendiar
alguma coisa, ndo precisamos ser imaginatvos, bast que sigsmos modo
42
pasiss também
mawisdo, buscar
= sim comoé
ens.
se Sisto tradi-
ie eeeacterizar 0
Sammente chama
ores que
Hee caces capazes
Bes 2s horas por
pa Sidade de en-
Feeepor uma facul-
im ms (LEIBNIZ,
=== como nao
jess que repre-
sepera wna
ipropriedade es-
Sc possuem
=e origem nem
Bes chegar a ela,
Saestos judicio-
Sepreenderem
© dos insensatos
Sessnica), para
fence inspiragio
bas tudo existe
+ Briar as coisas
ieee apropriado
Sos incendiar
S=m0s 0 modo
certo que nos é indicado pela natureza e conseguiremos queimé-la; uma
pessoa nao fala como bem entende, mas seguindo 0 caminho natural da
fala, pronunciando as palavras como devem ser pronunciadas, ou ela fa-
iharé por nao respeitar o modo natural de falar. So analogias de intengao
clara: conduzir o interlocutor para a verdade da natureza das coisas, 0 que
inclui a exata aplicagdo dos nomes.
Ao chegar & abordagem da fala como ago de curso claramente natural
¢ coletivo, insubordinada as vontades individuais, Socrates afronta a ideia
de Hermégenes de que, independente de qual nome seja dado a uma coisa,
esse ser o nome certo, pois entre © nome e a coisa sé habita a convencao.
Assim, na visio de Hermégenes, um individuo poderi
+0 rastelo ainda que todos 0s outros individuos chamem a esse objeto garfo,
sem ter prejuizo para denominacao. O levante de Sécrates, por outro lado,
chamara um obje-
aso essa seja a verdade sobre as coisas, como se justificaria esse mes-
mo individuo estar sujeito a obedecer ao caminho natural da fala? Se essa
exigéncia se coloca, a justeza dos nomes é parte dela endo podemos chamar
sum garfo de rastelo.
O naturalismo de Platao, por estranho que possa parecer aos olhos mo-
dernos, esta ligado a uma série de crengas ¢ ideias do platonismo, que pas-
samos a discutir mais pontualmente.
1) As coisas e seres tém uma esséncia permanente, Nada mais natural
que cada palavra, visando a representar as coisas, tente caracterizar pelo
‘menos uma das propriedades da coisa ou ser por ela representada, Por-
tanto, aligagao mais natural nao é exatamente entre som e sentido, mas
entre o sentido da palavra e a esséncia atribuida & coisa, O som apenas
ajuda a chegar # esse sentido que Teva a exstncia, No exemplo detalhado
no Quadro 3, se o corpo (séma) esti ligado & sepultura (séma), é porque
© corpo € sepultura da alma, ¢ essa é a esséncia do corpo. Note-se que
essa explicagiio 6 quase poética e cabalistica; mas o que importa a Plato
€ investigar 0 que um conceito, como “corpo” ou “justisa’, realmente
significa. A forma fonolégica das palavras (s6ma-séma), tomada por se-
melhanga, pode ajudar nessa investigagao das esséncias.
Quadro 3 Esquema naturalista
Expressao original Expressao, Motivacao natural
originada
AAnathrontia 6pope 0s Entre 6s animais, 0 homem é
(oqueanalisa olquevé) | (homem} aquele capar de analisar 0 que
ve racionalidade.
Psique Aalima &2 forca reftescante neces
faa siria para que 0 corpo esteja vivo.
Sema soma A alma é resquardada no corpo
sepytura) (compo) ua sepultura) durante av
Sozetai Soma A alma € enclausurada no compo
(carcere (compo) durante a vida para se punficar de
faltas cometidas.
Fonte: Exemplos extraldos de Plato (2001)
1H, entretanto, uma fenda na argumentagio de Cratilo. Ao discutir 0
nome Orestes (personagem mitolégico), na andlise de sua justeza em re-
lacio ao individuo que nomeia, o debatedor afrma a possibilidade de seu
nome nao obedecer 4 ordem natural: o“[..] nome me parece bem aplica~
do, quer tena ele recebido por acaso, quer 0 denominasse desse modo
algom poeta, para indicar seu cardter feroz e selvagem, ¢ a aspereza cas
montanhas (oreindn), como 0 nome esti a indicar” (PLATAO, 2001, 394,
negrito acrescentado)"". A obra do acaso poderia ter lugar em uma visio
naturalista da origem da linguagem? Sendo o legislador aquele que respon-
de pela astuta tarefa de dar as coisas 0 nome exato para que Ihes expresse a
11. Todas as citagbes extrafdas do didlogo platdnico foram extraidas da edigio Plato
{2001}; portanto deste ponto cm diante, sero identificadas apenas com o nimero ee
Que indicum o parigrafo do texto a que pertenceo trechocitad, ceguindo-se wm roc
se cato de citagio que femete a organizagao original do texto filosfico, Crit data do
século Vac, integra o conjunto de obras floséficas do periodo clissico grego (RIBETRO:
SARDI, 2000). edigdo que selecionamos fi traduzida dietamente do grego por Carlos
Alberto Nunes.
esséncia que poss
Ja mao do acas
que seria 0 mes
ontudo, Sécrate:
Gis nao sdo be
ecisdes acidenta’
mratureza.
2) A verdade s
acordo com a.
sofistas, que S¢
fista, Protagor.
detodasas coi
elas, realment
Sécrates se ins
as palavras de
relagio som-s
forma cada pe
© que equival
(386e): as cois
pendéncia, ne
fantasia, poré
tural”. E nom
*[...] conviré
momeadas, |
fazé-lo [J (
E sobre tudo
S escapa” (421
os deixa ind
stituem aun
jematural
pte
Bieihomem &
leer 0 que
5
Bente neces
BeBesicia vivo.
Be > corpo
Bee vice
BEE corpo
puTicar do
B Ao discutir o
g jesteza em re-
Siilidade de seu
Scebem aplica-
eee desse modo
= aspereza das
BD 2001, 394e,
See uma visio
segue respon-
Bes expresse a
Be ei.a0 Plato
eso calcira
Bele um proce-
Beil data do
See (RIBEIRO;
Bise=> por Carlos
éncia que possuem, o poeta que nomeia Orestes nao poderia ser guiado
ia mao do acaso, ou seja, néo poderia adotar uma acéo ndo motivada,
que seria 0 mesmo que softer incidéncia da convengao ou do costume.
ontudo, Sécrates resguarda o argumento, ao considerar que os nomes dos
Gis no sio boa amostra para a sua reflexao, pois podem resultar de
cisdes acidentais. Melhor enfocar os nomes de coisas gerais ou alusivas
natureza.
2) A verdade sobre as esséncias das coisas é absoluta e nao relativa de
acordo com a crenga de cada pessoa. O relativismo era defendido pelos
sofistas, que Sécrates e Plato combatiam. Uma frase famosa de um so-
fista, Protigoras, € citada no Cratilo (386a): “|...] 0 homem é a medida
de todasas coisas, e por isso, conforme me parecerem as coisas, tais serdo
elas, realmente, para mim, como serio para ti conforme te parecerem’,
Socrates se insurgia contra esse tipo de afirmacao e entao imaginou que
as palavras devem representar necessariamente a esséncia das coisas. A
relagdo som-sentido nao pode ser arbitraria ou convencional, pois dessa
forma cada pessoa teria uma apreensio diferente da esséncia das coisas,
6 que equivaleria a recair no relativismo sofistico. Como diz Sécrates
(3862): as coisas “[...] nao es
conosco, nem na nossa de-
em relag
pencléncia, nem podem ser deslocadas em todos os sentidos por nossa
fantasia, porém, existem por si mesmas, de acordo com sua esséncia na-
tural”, E nomear as coisas é designé-las de acordo com sua esséncia:
“[.«] conviré nomear as coisas pelo modo natural de nomeé-las e serem
nomeadas, e pelo meio adequado, nao como imaginamos que devemnos
fazé-lo [...]" (3874).
E sobre tudo aquilo que nao se pode explicar de forma natural, 0 que
Sécrates tem a dizer? “Declarar que se trata de expressao bérbara” (416a) ou
afirmar que podem ser “|...] de origem estrangeira os nomes cujo sentido
nos escapa” (421d) ou, ainda, considerar que “[...] a idade dos vocabulos é
que os deixa indecifraveis” (421d). Sobre os nomes primitivos, aqueles que
constituem a unidade primeira e pela qual muitos outros nomes derivados
se explicam, nao se considera que advém de um estabelecimento operado sustenta q
pelos deuses, cuja palavra € inquestiondvel, pois nao explicar um nome um dos p
primitivo & 0 mesmo que invalidar a explicacao de todos os seus derivados. crates reaf
Para os naturalistas, 0s nomes primitivos, como imitagao das coisas no- piganina
meadas, formam-se por letras e silabas que se assemelham aos objetos, re- Tingua. Ou
fletem propriedades ¢ revelam alguns de seus aspectos mais caracteristicos. Gem: os ho
idas palavr.
i resultade
No entanto, essa posigéo ainda ndo anula a divida que se tem acerca do
primeiro nome ou nome original, pois o legislador, ao conceber o primeiro
nome, detinha um conhecimento sobre a coisa nomeada que nao pide se same dizer,
construir por meio de outras palavras, nao tinha outros nomes em que se (Como acai
Bas Jmento verdadeiro sobre as coisas nao vem dos nomes, mas do ato de se
uo tas
Zhe. conhecer a verdade sobre as coisas. O conhecimento antecede ¢ independe
ibe ~ : :
toc,“ do nome, conforme a posigao haturalista, Isso €o mesmo que afirmarmos
dan in eT CRETE a aT UT
ns dina. que o legisladon para exercer @ arte de fazedor de nomes, antes de qualquer
ze 3
“P ZED coisa, é alguém que enxerga e conhece com clareza a natureza das coisas,
“7 snclusive abdica da linguagem para conhecé-las, uma vez que a linguagem
(o nome) é mera imitagio do mundo, Mas quem é esse legislador a quem
tanto fazemos referéncia?
3) Segundo a opiniso de Sécrates e Platio, a verdade e a esséncia das
coisas devem ser estabelecidas pelas pessoas mais just e mais razoaveis
de uma comunidade. Essa ¢ ideia por trés da Repitlica ideal de Plato,
que seria governada por um conselho de sibios, com todos os poderes
para legislar (uma estrutura absolutista e androcentrista de sibios, na
verdade). Bem, s6 0s sibios podem saber com justeza o que as palavras
deve significar, para representar da melhor maneira possivel as coisas
que designam (por exemplo, a relagio entre corpo e sepultura, séma e
séima, jf Gtada). Assim, os sabios devem buscar e definir qual a relagao
natural entre som, sentido ¢ coisa representada. A convengao seria um
artificio dos tolos, que accitariam qualquer relagio arbitra, Platéo
Gimento operado
Seer um nome
metus derivados.
ge das coisas no-
Giaes objetos, re-
Ee caracteristicos.
peetem acerca do
s=bero primeiro
GE n’0 pode se
Bemies em que se
gH que o conhe-
Beas clo ato de se
= afirmarmos
ees de qualquer
Geeza das coisas,
sa linguagem
Seledor a quem
ea cséncia da
Simais razodiveis
Siaeal de Platao,
ides 0 poderes
& sibios, na
Seas palavras
Bessie! as coisas
gealtara, sda e
Gel relagio
Scho seria um
Setciria. Platao
sustenta que os sabios definem o sentido original das palavras. Esse &
um dos pontos que causam mais estranheza na leitura do Critilo.
crates reafirma varias vezes que ha legisladores sibios que definiram, em
io som-sentido das palavras de uma
algum momicnto da historia, a rel
lingua, Ou soja, e8sa € a explicagio platonica para a criagio da ingua-
=m: os homens sabios se reuniram e definiram a forma e o significado
das palavras. A alegoria de Crétilo permite ver a linguagem nao como
0 resultado do trabalho de divindades, mas coma.negdcio dos homens;
quer dizer, nao de todos os homens, mas dos sabios.
Como agio de lingnagem, nomear implica o uso de um instrumento
dequado para esse fim. Do mesmo modo que sio necessérios instrumen-
bs para tecer, para cortar, para furar, também hé um instrumento necessé-
para nomear; segundo a posigao de Socrates, o nome é esse instrumento
tem de ser preciso, tem de ser formado a partir dos sons e das silabas
10s para resultar no nome apropriado de cada objeto nomeado, Mas as
cies exigem, além de instrumentos, habilidades especificas, de modo que
‘Sao é qualquer um que pode tecer, mas apenas um tecelao pode fazer isso. E
‘epenas um escultor é capaz de esculpir. Sécrates argumenta, mais uma vez,
‘que no é qualquer um que pode nomear, apenas o legislador, o fazedor de
‘somes (389a), é a fonte legitima de produgao de nomes.
E como a natureza das coisas é imperativa, ela também é 0 déspota do
sentrelagamento entre os nomes e as coisas. Sécrates alude que, para furar,
‘= usados diferentes instrumentos, cada um apropriado a natureza especi-
‘ica da ago, que pode ser de furar papel ou de furar madeira, por exemplo,
© ferreiro, ao construir o instrumento furador, considera a natureza da
acio de furar e a particularidade do que precisa ser furado; enti, pro-
uz diferentes objetos que furam, guiado pela necessidade e nao pela sua
‘ontade, Assim seria a preocupagio do legislador ao fazer os nomes, pois,
seiteramos, “[..] deverd saber formar com os sons ¢ as silabas o nome por
natureza apropriado para cada objeto |...|” (389e), guiado pela necessidade
de justeza, nao por sua prdpria vontade. Aos poucos, Sécrates vai descons-
47
truindo as ideias de Hermagenes de que os nomes sto dados 3s cols por
pura conven¢ao e acordo.
Ak posigdo naturalista de Socrates concede espago para que 8 figura do
Gialético (eritco debatedor) se mostre, pois este est em condigio de, a0
‘sar os nomes, jugar se o trabalho do legslador foi ou nd0 executado de
forma apropriada & natureza das coisas nomeadas, N30 sendo Sécrates um
legislador, nfo goza da autoridade de fazedor de nomes © st poder para
julgaea natureza do ato de nomeat teria devi de outro papel isso atesta, no
listas surge por meio da argumentacio de Socrates. E possivel a imitagao de
vuma coisa tanto pelo que Ihe € semelhante quanto pelo que The ¢ disseme-
thante, Nesse timo cio, a imitaglo € suportada pelo hébito ou pela con-
venciio. Fssa abertura retorica € estratégice pars ‘acomodar 0s casos em que
is debatedores nao conseguem assemelhar @ composigao do nome as pro-
priedades do que é nomeado, ou para acomodar 3s circunstincias em que se
interpreta que uma letra significa um valor em uma palavra e algo distinto
vs contraditorio na composicio de outra palavra, Esse modo platonico de
conceber a inguagem é realmente instigante ainda hoje em as posigao
fandamentalmente convencionalista parece estar assentada ¢Se5%
No Critilo fica explicita a defesa de Sdcrates em favor da finalidade da
tinguagem, que no poderia ser convencional porahe {sso seria o mesmo
que ser um produto do acaso. Essa posigio se encaixa no quadro do pen-
samento plat6nico mais geral, para o qual as coisas (abrangendo-se a lin-
uagem) inerentemente possuem um 50 apropriado. Conforme Meotti
piles as coisas por
= ase a figura do
B eiadicao de, a0
Sie exccutado de
Gmae Socrates um
ee poder para
Sebiso atesta, no
ssssne 20 ocupar
semndo a direcao
S38d). Nesse pon-
= @ nome (instru-
sstho do legisla
gente a respeito da
eEmguagem.
Bes convenciona-
seis imitacio de
ge Th & disseme-
giao ou pela con-
ge es casos em que
Be some as pro-
Beieeiasem que se
pase algo distinto
ete platénico de
== que a posicio
Seen.
de Ginalidade da
Se Sia 0 mesmo
se Sedo do pen-
ameendo-se a lin-
Gesteme Meotti
Te
{20 prelo), esse melhor uso estaria vinculado & base da filosofia platonica,
pautada sobretudo pelo conhecimento do Bem. Podemos entender, desse
‘modo, que o cendrio da justeza dos nomes, no idedrio platénico, é contex-
tualizado c derivado da tese platdnica sobre o Bem. Apenas quando deslo-
ccamos essa tese de seu lugar proprio na filosofia e analisamos a questao de
‘ama perspectiva linguistica é que a justeza dos nomes encontra um pensa-
siento de resisténcia 8 ideia de naturalismo estrito.
Ainda qué seja assim, a4 inquietagdes de Hermégenes ¢ a inventividade
jo. E importante
inguisticd de Sécrates sao referéncias para nossa reflex
sabermos que cada época produziu um responsavel pela criagao da lingua-
gem: deuses, sit sulo XIX)}os falantes de uma
0s, alma de um povo (no s
jo mais moderna, a mente humana, O conse-
Jingua ou, finalmente, na
Tho que coroa a aporia apresentada por Sécrates a Critilo também ganha
lugar aqui:“Reflete bem ¢ com coragem sobre o assunto [...] eno deixa de
comunicar-me 0 que encontrares em tuas investigagoes” (440d
a apfitend nein yt an cm raion be Say,
2.2 ROUSSEAU: AS PAIXOES CRIARAM A LINGUAGEM
A obra de Rousseau (1712-1778) envolve temiticas que custaram, du-
ante longos perfodos, a rejeigdo de seus escritos. O modo de 0 filésofo
abordar questées como o direito de propriedade, o poder do Estado,a edu-
acto, a liberdade e a dominasio das religides desagradou principalmente
E possivel sintetizar, ndo sem
as clites ¢ as igrejas protestante e catélica.
negligenciar muitos outros pontos de reflexao, como alguns dos tépicos
centrais da obra desse autor: a defesa da ideia de liberdade como direito
ede uma religiao mais indulgente que pungente, 0 ataque a concepgao
de que hé um direito de propriedade que assiste a alguém (a proprie~
dade de um éa privagéo de todos 0s outros) ¢ o desenvolvimento da tese de
que é necessario estabelecer-se um novo contrato social (PISSARRA, 2009).
Conhecer quais eram as problemiticas sociais a que Rousseau era sen=
sivel e como 0 fildsofo refletia sobre elas 6 necessério para que tenhamos
_Senvolvimento de nossa REE
(gh linguagem verbal a uma gama mais rica de sensagQes humanas, em esp;
mais clareza de suas posigdes também acerca da linguagem. Mas abranger
‘em detalhe sua obga escapa dos limites deste texto; entao, vamos nos cen
trar em seu Ensaio sobre a origem das linguas, pelo qual Rousseau argumen-
ta que as paid —¢ nto as necessidades humanasforamo motor do des
senvolvimento de nossa faculdade de linguagem. EI associa 0 florescer da
gcial
vim Corn PhaSE, Neevcaren I
Migs quanto as relagdes sociais. ee reer
Oe
Nesse texto de Rousseau, a linguagem ganha valor distintivo, pois dife-
©» rencia os homens dos demais animais; as linguas, por sua vez, distinguem
i os homens entre si, a0 definirem os limites de grupos de falantes que, erm
Le
Ultima anélise, sio organizagoes politicas: lingua, Estado e poder sio ele-
mentos que se entrecruzam, Fundamentados 16505 Felagbes, muitos
Tudiosos dos principios da filosofia rousseauniana inserem 0 Ensaio sobre
4a origem das linguas entre os escritos politicos do autor; na nossa leitura,
entretanto, interessa a visdo que Rousseau expressa sobre a linguagem pri-
mitiva e sobre seu desenvolvimento como faculdade humana.
Ele imagina uma Idade de Ouro anterior ao desenvolvimento da lingua
gem, em que 0s homens se comunicavam provavelmente por gestos € nao.
por palavras. Essa dade de Ouro seria paradoxal, pois “Em todos os lugares
dominava o estado de guerra ¢ a terra toda estava em paz” (ROUSSEAU,
1973 [1781], p- 182). Esse aparente paradoxo se explica da seguinte ma-
neira: sem a linguagem, 05 homens viviam isolados, em pequenos grupos
familiares, cada grupo sem interagir com o outzo, ¢ em uma guerra latente
entre esses clas. Aqui ha uma ressonancia da ideia de Hobbes (1588-1679),
segundo o qual antes do desenvolvimento da civilizagao, 0 homem primi-
tivo vivia em um estado de guerra permanente, sem lei nem rei, Mas, acres-
centa Rousseau, como os homens nio interagiam pela linguagem articula-
da, viviam isolados em suas familias, etinham poucas chances de guerrear-
Portanto, a ideia de Rousseau é que os homens primitivos satisfaziam ple-
namente suas necessidades sem o recurso da linguagem, comunicando-se
apenas porfeestose pops inartculadgs. aan
Mis abranger
jambs nos cen-
jean argumen-
sotor do de.
ee
Horescer da
gem especial
i
See, pois dife-
== distinguem
beste que, em
perder sao cle-
ES mnuitos es-
© Bxsaio sobre
pees: leitura,
imeuagem pr
-
ito da lingua
estos e nao
sess lugares
ROUSSEAU,
peegninte ma-
fees grupos
ieeerra latente
Bp iSSs-1679),
bemmem primi-
= Mas, acres-
Beem articula-
Bede guerrear.
sefariam ple
Semicando-se
ihr af broke, rseckivee © simpy
L ae bined, ogee Compo
Por outro lado, ele destaca que, muito embora os gestos sejam imi
nos permitem comunicar e até mesmo provocar movimento ¢ resposta
> outro, apenas 0 som é capaz de fazer despertar sentimentos e comogoes,
ando-se as inflexes das paixdes e, por isso, “[...] 0 interesse melhor se
ta pelos sons” (ROUSSEAU, 1973 [1781], p. 167). Daf Rousseau deriva
‘deia, expressa logo no primeiro capitulo de seu Ensaio, de que o homem
esenvolveu a linguagem por nio estar restrito apenas as necessidades fi-
as, para as quais os gestos bastariam. Para ele, a forca das paixoes como
-ssidades mais complexgs deu origem a linguagem, em que a palavra
sine o poder de causar uma emogio mais aguda do que aquela desen-
‘sxdeada pelo objeto em si ou pelo gesto que a ele remete, Nesse cendrio, a
40 ¢ 0 sentimento sdo os motores que impulsionaram a comunicagio €
“os gestos ¢ 0s sons so seus instrumentos:
Dai go homem uma organizasio to grosseira quanto possais imaginar: indu-
bitavelmente adquirird menos ideas, mas, deste que haja entre ele e seus seme-
Ihantes qualquer meio de comunicagio pelo qual wm possa agir eo outro sentir
acabardo afinal por comunicar todas as ideas que possuem (ROUSSEAU, 1973
UPS pas glo ste peas yt
Para compreendermos 0 que implicam as paixdes'que Roysseau loca-
Trou entre o sentir ¢ 0 agir dos primeiros homens, podemos ser guiados
pelo conjunto do que o fildsofo chama necessidades morais, ou sbja, aquelas
necessidades que se originam de uma vida social. “Nao éfome 0
‘mas 0 amon, 0 Odio, a piedade, a célera, que Ihes [dos homens] arranca-
‘ram as primeiras vozes” (ROUSSEAU, 1973 [1 781], p. 170). As necessidades
morais so, portanto, necessidades coletivas, o que desperta para o acordo
social do homem primitivo em favor do desenvolvimento da linguagem, ¢
também séo produtos da coletividade, ao se irromperem das entoagies das
sede,
paixoes que aproximam os homens.
guas primitivas e as diferencas que guardam entre si,
A origem das
na visio de Rousseau, so de base naturalista — posigao que retomaremos 3
frente. Elementos como o clima ¢ 0 estado do homem (conilitos, advers
dades vividas) no momento em que as linguas se formaram seriam fatores
que interferiram diretamente em sua constituicéo fonolégica, segundo o fi-
lésofo. Por isso haveria linguas de sonoridade mais dspera, enquanto outras
possuem sonoridade mais suave. Ainda que haja tais diferengas para a pers-
pectiva rousseauniana, o que partilham as linguas primitivas independe de
fatores ambientais, pois € resultado da relagio prépria entre homem ea
linguagem: a aproximagao entre grupos humanos.
A linguagem humana tirou o homem primitivo de seu isolamento fisico
€ espiritual, segundo Rousseau. “Além de si mesmos e de sua familia, todo
© universo nada significava para eles [os primeiros homens” (ROUSSEAU,
1973 [1781], p. 181). O efeito da linguagem sobre os homens foi duplo: em
primeiro lugar, ofereceu-Ihes uma abertura para a realidade dos outros.
A linguagem deu-Ihes a imaginagao e “...] quem nada imagina nao sen-
te mais do que a si mesmo: encontra-se $6 no meio do género humano”
(ROUSSEAU, 1973 [1781], p. 181). Em segundo lugar, a linguagem den ao
ser humano a capacidade de conhecer-se a si mesmo, de voltar-se para seu
interior, por meio do desenvolvimento de suas emocoes.
O estado do ser humano, antes da criagio da linguagem, portanto, era
de desconhecimento, de estranhamento e de conflito. Rousseau avalia que,
como nao compreendiam nada além da fora e das leis da natureza, os ho:
mens temiam a tudo, inclusive uns aos outros. A linguagem teria descorti-
nado as afeigdes sociais e dado ao homem a possibilidade de comunicagao e
de vazao de seus sentimentos e vontades. Antes dela, entretanto, “[...] odia-
vam-se porque nao podiam conhecer-se” (ROUSSEAU, 1973 [1781],
p. 182). Para que pudessem se conhecer, os homens primitives precisavam,
de um rastilho de humanidade, atribuido por Rousseau ao proprio fogo
(ou as fontes de agua, nas regides quentes), que atraia os homens e por
isso 0s teria colocado em uma pequena comunhio social, quando se viram
entre semelhantes pela primeira vez, ao redor das fogueiras.
Para Rousseau, o desenvolvimento da linguagem est
“Tiguecimento das emoges. Na sociedade primitiva, por exemplo, havia ca-
samento, mas ndo amor. Havia afeto, mas nao haveria paixao. Esta nasceu
52
a varia
fajudou
ISSEA
SS segundo o fi-
See enquanto outras
Seeecas para a pers-
Seiiess independe de
Sete o homem ea
ss solamento fisico
$e familia, todo
Sess} (ROUSSEAU,
Sess foi duplo: em
Eilidiade dos outros,
Be eegine nao sen-
& nero humano”
Bieexagem deu ao
Se veltar-se para seu
=
===, portanto, era
Beeiseau avalia que,
ae atureza, os ho-
SS via descorti-
Eeeomunicacaoe
Seino,“ |...) odia-
Sam 1973 [1781],
Be precisavam
= = proprio fogo
Bee omens e por
lo se viram.
HEociado 20 en-
Sisal, havia ca-
Bee Esta nasceu
1s tons e inflexdes da linguagem, sua gama rica de contrastes sonoros ¢
‘expresses distintas. Quanto mais rica a gama de sons articulados, mais
Ea variagao das emogoes. Portanto, teria sido a linguagem articulada
ajudou a criar, no ser humano, “[...] os acentos das paixdes ardentes”
OUSSEAU, 1973 [1781], p. 189). Contrariando o senso comum de que
sseau pregava um retorno ao mundo primitivo, essas ideias sobre a lin-
-m mostram que ele nao desprezava a importancia da civilizagio; 0
tado social deu ao homem uma “|...} ampliagéo dos horizontes inte-
ais, enobrecimento dos sentimentos e elevagao total da alma” (AR-
DUSSE-BASTIDE; MACHADO, 1987, p. XIV).
A consequéncia natural do surgimento da linguagem, de acordo com os
ftos de Rousseau, € 0 desenvolvimento da razdo humana; hé um mo-
ento de conversio, em que a razio mais primitiva (emocional e sensiti-
mas também violenta) se transmuta em razo intelectual, advinda da
onfluéncia das faculdades humanas. Para Rousseau, a linguagem est no
tro de todas essas transformagies e a base de suas ideias expressas no
saio acerca da linguagem primitiva da conta de que “Nao se comegou ra-
‘Giocinando, mas sentindo” (ROUSSEAU, 1973 [1781], p. 169). Em seguida,
‘por intermédio da linguagem, “|...] 0 adversario do discurso, o homem da
‘violencia 6, por assim dizer, desarmado e conquistado, transportado, contra
2 vontade, para o universo do ‘razoavel” (PRADO JUNIOR, 2008, p. 85).
A associagao da origem da linguagem as paixées leva a duas consequén-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Literatura Brasileira IiDocument137 pagesLiteratura Brasileira IiGabriel Felipe100% (1)
- Fdocumentos - Tips Os Fantasticos Livros Voadores de Modesto MaximoDocument48 pagesFdocumentos - Tips Os Fantasticos Livros Voadores de Modesto MaximoGabriel FelipeNo ratings yet
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Radiologia - Módulo II - Portugues InstrumentalDocument92 pagesRadiologia - Módulo II - Portugues InstrumentalGabriel FelipeNo ratings yet
- Com Orgulho e Sem Preconceito Reescritas de Jane Austen No Século XXIDocument120 pagesCom Orgulho e Sem Preconceito Reescritas de Jane Austen No Século XXIGabriel FelipeNo ratings yet
- Literaturas Contemporâneas de Língua InglesaDocument113 pagesLiteraturas Contemporâneas de Língua InglesaGabriel FelipeNo ratings yet
- Anderson Lucarezi - ConstelárioDocument90 pagesAnderson Lucarezi - ConstelárioGabriel FelipeNo ratings yet
- Conhecimento e Apreciação Crítica de Graciliano Ramos em PortugalDocument14 pagesConhecimento e Apreciação Crítica de Graciliano Ramos em PortugalGabriel FelipeNo ratings yet
- O Projeto de EngenhariaDocument19 pagesO Projeto de EngenhariaGabriel FelipeNo ratings yet
- Teorias Da Cidade, Bárbara FreitagDocument96 pagesTeorias Da Cidade, Bárbara FreitagGabriel FelipeNo ratings yet
- Resumo Os Fantasticos Livros Voadores de Modesto Maximo William JoyceDocument2 pagesResumo Os Fantasticos Livros Voadores de Modesto Maximo William JoyceGabriel FelipeNo ratings yet
- Aquisição Da LinguagemDocument10 pagesAquisição Da LinguagemGabriel FelipeNo ratings yet
- Teoria Da Literatura IiiDocument97 pagesTeoria Da Literatura IiiGabriel Felipe100% (1)
- Teorias Do Discurso Análise Da ConversaçãoDocument10 pagesTeorias Do Discurso Análise Da ConversaçãoGabriel FelipeNo ratings yet
- Vozes VerbaisDocument6 pagesVozes VerbaisGabriel FelipeNo ratings yet
- TCC Senhor Dos AnéisDocument126 pagesTCC Senhor Dos AnéisGabriel FelipeNo ratings yet
- Teorias Do DiscursoDocument145 pagesTeorias Do DiscursoGabriel FelipeNo ratings yet
- Design de Aprendizagem e ConteúdoDocument78 pagesDesign de Aprendizagem e ConteúdoGabriel FelipeNo ratings yet
- Resumo Cecília Meireles Modernismo BRDocument1 pageResumo Cecília Meireles Modernismo BRGabriel FelipeNo ratings yet
- Resumo CubismoDocument1 pageResumo CubismoGabriel FelipeNo ratings yet
- Resumo DadaísmoDocument1 pageResumo DadaísmoGabriel FelipeNo ratings yet