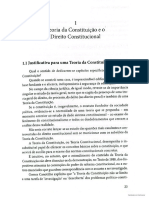Professional Documents
Culture Documents
Cmrodrigues,+1999e.2 Artigo1
Cmrodrigues,+1999e.2 Artigo1
Uploaded by
Dayane Souza Santos0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views13 pagesOriginal Title
cmrodrigues,+1999e.2_Artigo1
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views13 pagesCmrodrigues,+1999e.2 Artigo1
Cmrodrigues,+1999e.2 Artigo1
Uploaded by
Dayane Souza SantosCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 13
N/O LIMIAR DA CIDADE
ni Orlandi
Hoje eu me encontro
Eu tenho enderego
Autes er morava no mew sapato
Por at.
Eu choro aha tistesa
Nao € por causa de ninguém
Por sui meso
Eu chore pra dentro
A cerveja que en bebo,
Pr
rama Muvuca, Zeca Pagodinho)
Resume
A telogo de sobredeterminagio do imagindro urano subme a cidade ¢ © social pre
sentido da idl em su ead socal eancreta, NGspropontospensaresse flo como un ato dscuNO,
rocurando compreesceros mos pelos quis aprgamento doseyurvocos.:ssim como sileneimento dis
ontagdes qucestruurama vida soxil ccd, resingindo usexpayussimbeicose, conseqienemerte
procuzindo as conigdes do aumento da violéncia, Por outro ldo, ineress-nos observa como o rel ct
‘ide ral sss contradicts Faendoieromper utr sentido posses.
i uma pond de
0. Introdugio.
A ambivaleneia de sentidos presente nesses dois momentos de fila de Zeca Pa
em conversa com Regina Casé, no Programa Maruca (TY Globo) é bem o vestigi
* Coordenaddora da LABEURD (Labontrio de Fstudns Urhanos) NUDECRUUNICAMBP, Professor do
Instituto de Estudos da Linguagem TEL ds
Rea, Campinas, Nimoro Especial: 7-19, 1999
s 0 linia da cidade
fato discursivo que € objeto central de minha atengdo: a relago contraditéria, sujeita a
equivocos, entre o urbano ¢ a cidade,
De um lado, o urbano dia referéneia, permite a unidade imagindria que, por sua ve7
desencadeia a possibilidade do sujeito idemtificar-se urbanamente: “Hoje eu me encon-
{to/ antes eu morava (no meu sapato) porai”. Ao mesnio tempo, essa injungio (urbana)
de ninguém”), que instala o sujeito urbano, no real da cidade nao estabilizado, “chorando
pra dentro a cerveja que eu bebo”.
Consideramos a cidade, do ponto de vista discursive, como um espaco simbético
diferenciado que tem sus materialidade e que produ sta significineia, Em outras palavras,
a cidade caracteriza-se por dar fortna a um conjunto de gestos de interpretagao especificos &
isto constitu o urbano. Quer dizerque, nacidade,o simbolico ¢ o politico se confrontam de
uum modo especiico, particular. A isto chanumios “a orem do discurso urbano”.
‘Tal como tenho proposto (E. Orlandi, 1996), deve-se distinguir entre ordeme organiza-
‘glo, sendo a ordem do dominio do simbdtico (a sistematicidade sujeita a equivoco), na
relagiio.com o real, enquanto a organizacio refere ao empirico eo imagine (oarranjo das
unidades). Una vez que a anise de discurso visa compreensio do real do sentido, nosso
objetivo nia € pois apenas o de deserever a organizacao da discursividade urbana mas
sim o de compreender a ordem do discurso urbano, ot sea, entender como o simbélico
tem sti relago com o politico configura sentidos para/na cidade, Em suma, procurando
compreender a ordem do discurso urbano, a questo que colocamos é: como a cidade
(se) signific
Assim, nosso projeto temitico “O Sentido Paiblico no Espago Urbano” & trabalhado
como uma forma de por em relagdo diferentes campos de conhecimento, tomando a
lin
uagem como observatdrio da cidade na perspectiva discursiva. Consideramos, desse
modo: a) que a linguagem nao € transparente; b) que os sujeitos se constituem em
processos nos quais se confrontam o simbélico e 0 politico, instituindo modos de
subjetivagtio espeeificos ao modo de existéncia da sociedade na historia. Se assim &, 0s,
sentidos, por sua vez, no so evidentes, ao contrario, so sujeitos ao equivoco da
uci, Campinas, Numero Especial: 7-19, 1999
Eni P Orlandi 9
sendo afetados por mecanismos ideol6g
lingua, cujos efeitos se inserevem na histria
cos em sti producao.
"Nosso trabalho éjustamente compreendler esses efeitos, pracuranco explcitar os processos
de determinagio hist6ricos na produgio dos sentidos e na consttuiedo dos sujeitos, nesse
so, urbanos, Pensaddos dessa mancira, os conifiiosurbanos slo antes de tudo contlitos de
sentido,
‘Compreender isto é compreender, ao mesmo tempo, o que esta investide no sentido
1 podem:se pensar eriticamente as evidéncias posts em
de “cidade”. Em consegiiénci
‘uma nogiio como a de cidadat
2, Por que “Urbanizar a Cidade”?
1s pesqutisas que temos desenvolvido, os semincirios
© participamos, consideramas profiewo fazer
Tendo esse objetivo,
que organizamos eos eongressos de q
tuma jornada cientifica para a qual concorressem intelectuais ligados 3 reflesiio so-
bre o urbano © que nos permitisse a: 5
sobreo eonheeimento urbano. Num movimento de an
io € a de compreender discursi
por sua vez, estd sobredeterminaua pelo imaginasio urbano, Hi um uso qu
relagdes sociais, relages urbanase relagdes na eidade. Assim se perde aespecificidade
do social. A maneita como o urbanista Fala sobre a cidade acabou eriando categorias
que vio substituindo a propria maneira como as pessoas pensam a cidade, Por um
processo de migragiio de sentidos, elas significam a partir de categorias do urbanis-
mo, tornadas gerais, e deixam de dizer a cidade em seu real, em suit materialidade
especifica. Nossa proposta ¢ Hlagrar esse real, por onde ele “Toye”. niio se deixando
pegar pela fala do urban.
Compreendatse que essa crtica nfo visa destiuir o urbanism de seu lug
glo de saber. O que se visa & restituird cidade seu real de significagio.
Assim, 0 tema proposto “Urbanizar a Cidade?” objetiva uma ettica © mostra nosso
cciidado em distinguir algo que vem se indistinguindo e que jaé efeito discursivo, parte
do imaginrio urPsano: « sobreposigyio do que & conhecimento urbano (sobre a cidade)
coma propria materialidade urbana (da cidade), Nessa indistingio, oral urbuno 6 subst
de produs
Rua, Campinas, Ndmero Especial: 7-19, 1999
NAO bmi cidade
10
do pelas cau
ius do saber urbano, seja em sua forma erudita (discurso do urbar
hista), Seja no modo do senso comum em que esse discurso do urbanista & ineorpo-
rudo pelo pol
eo, pelo administrador, pela “comunidacle”. convertendo-se no que
chamarei “discurso (do) urbano”. Por uma rizio de método, distingo este discurse
do “discurso urbano” que coloco como equivaleme do que chamarei“discurso da
cidade” como veremos mais adiante.
Como temos abservado, os sentidos ja estio afetados por essa duplicidade
diiscurso urbano, diseurso sobre o/do urbano ~ no préprio espaco que € u cidade
Essa distingtio discursiva que propomos passa assim a ser constitutiva da anslise do
semtido no espaco urbano.
Umexemplo. para iniciar nossa apresentagio sobre esta domindineia do urbano, pode
sero das falas da Globo, na apresentago do desfile no Carnaval. Sao falas pautadas pelo
diseurso urbanista em suas diferentes modalidades. O discurso cammavalesco da Globo (e
‘da midia em geral) significa a cidade, representaca em um discurso que é subproduto do
Urbanismo, O camaval—com tantas outras Forgas sociais investidas abundantemente al
~ tem uma deserigio linear urbanista que apagit ou acentua sentides (observe-se, por
‘exemplo, 0 uso da palavra “comunidade” nessas falas ¢ a deserigda das relagbes da tal
“eomunidade™...), neutralizando tragos mais substanciais da cidade e das relagdes sociais
struturam.
que nela
3. Um pouco de ctimologia ¢ deslocamento
Para refletir sobre esse proceso de sobreposigdes, vamos perambular por alguns
indicios etimoligicos.
Como se sabe, cidacle vem dle eivitas, ~atis [eivis] que pode ser entendida de modos
diversos: a) como a condigiio (direito) do cidadao e como conjunto de cichudiios. em que
centio cidade e cidadunia vem juntos, no mesmo pacote de sentidos; b) pode ainda
signifiear: sede de um Governo, Estado, Cidade, Patria, onde os sentidos do politico se
assemtam na especific: resemtagdes; ¢) no dicionaitio, diz-se que
civitas, ~atis € igual a urbs, que quer dizer cidade em oposigiio a rus (campo, lavoura) &
— Are (citadela, ein, cume dat cide). Nessa configuragao de sentidos, é bom lembr
Romi é a cidade por exceléncia (estamos falando do Império Romano),
jo empitica de suas re
Rua, Campinas, Numero Especial: 7-19, 199
Eni P. Orta "
Se tomamos a via de exploragio que coloca em pauta a relagio com serbs, veremos,
que ji af as ambigitidades comecam a vir & tona, Urbs 0 mesmo que cidade, contra
tando com Rus e com Arr, Se pensarmos 3 relagio, em webs, com burgo, veremos que
na disposig2o espacial temos o espago do castelo, acidadea sua volta e, mais austado.
burgo, Hi permeabilidade entre a cidade ¢ 0 burgo (Le Gott, 1997) e, no século XI,
cidade e burgo retinem-se. Entretanto, na relag20 posta com o subiirbio, este incl
parte nfo alta (0 que se afasta da ary e também da eivitas em seu sentido geral. Ao se
integrar (o burgo),cria-se ao mesmo tempo a diferenga: o subirbio.
Mas, sobretudo, ha ja posta em subtirbio uma rekigio que nfo é apenas espacial
com a cidade, Em relagio ao urbano, subirbio significa em termos de uma
verticalidade que hierarquiza o espaco e que dia subxirbio um des-valor daquilo que
nfo é centro (a parte alta, 0 cume),
Ora, iss0 nos dé indicagoes para um outro recorte de sentidos, onde urs prodiuz uma
hierarquizagio, verticalizando as relagdes urbanas.
Nesse recorte, e para entendermos na relagio civitatisfurbs um |
sociabilidade, a passagem jd é mais tortuosa, como veremos,
que faz imtervira
4A
lade, a sociedade, a urbanidade
Nesse paso, precisamos eselarecer que nfo partimos de categorizagies ds Ciéneias
Sociais mas do dominio discursivo. Consideramos aqui o social (socialis) relativamente
Aquele que € portador da sociabilidade. O que pretendemos mostrar é que, na negacTo
dos contatas sociais ~ convertidos em violéncia ~o sujeito social acaba por se significar
como aquele que se protege, que se distancia, que (se) nega (a) 0 outro,
Minha proposta 6 de sentidios feitos acimia,
fazendo valera distingao entre ordem e organizagao, referida no inicio. A palavra urbs,
pela discursividade em que ela se desenvolve, refere a organizagao, assuminds 6 ponto
de vista administrativo, ditetivo (diretor). A cidade, por set lado, em seu real hist&rico-
social, & a de o politica desse processo de significagao, referindo ao cidadio (ci-
vis), ordem do politico em que cidade se liga 4 civilidade e 0 urbano, nfo enquanto
logistica espacial mas enquanto terrt6rio do polido. E 6 justamente em relacao a0 “poli-
do” que a ambigitidade funciona. Vejamos.
0, que se elaborem esses recor
uct, Campinas, Numero Especial: 7-19, 1999,
NAO limi da cidade
12
“Cidadiio” se especitica em sua relagio distintiva mantendo a devida distineia de du
espécies de “outro” que sao prdprias da referéneia urbana de hosts (estrangeiro, fora
teiro, inimigo piblico) de sacius ou peregrinus que é 0 aliado, o companheira, 0 Séci
ue, no sendo 0 que & citadino, no entanto, de fora da cidade, a ela se junta, Nesse
sentido, ha uma urbanizagio do sociatis produzida pela relagao aproximativa com cida-
ide. Bo social tal como o conhecemos. O aliado que se urbaniza perde a caracteristica de
extemo i cidade.
Paralelamente, num movimento de hierarquizagiio (verticalizagao) do que se fez ma
horizontalidade espacial das relagdes, 0 socius € disposto em uma regidio que niio o
distingue significativamente do fistis, merecendo © mesmo “euidado” urbsano. Desde
enti, eu diria, nao se parou de urbanizara cidade num movimento de reconhecimento e
apagamento das diferencas, das dificuldades e das distintas relagées que povoam a cida-
amento do “outro”, da sociabilidade, da
de, o piiblico, em suma, reconhecimento ou aps
civilidade, da eidadani
Esse processo sobrecarrega, a meu ver,
ida mais a sobreposig0 existente entre 0
urbano © 0 social, © urbano sobredetermina o social: 0 social passa a signifieur pela
urhanidade, Assim, a sociabilidade nfo 6 pensada diretamente em relagio i soviedade,
como parte do social, ¢ da historia, estruturante. Ao mesmo tempo, ourbvano desliza do
sentido do potid para o de policiado, no no sentido di civilidade, mas no da mannten-
fo da ordem urbana, tomuada no sentido administrativoe diretivo de organizagio urbana
{emo mais da ordem do urbano, onde cidade 6 civilidale). Apaga-se o social livra-se o
urbano aos confrontes. De seu lado, a sociabilidade vai significando de modos bastante
dlistintos em uma Sociedade urbanizada em que os processos de individualizagao dos
suieitos (e dos sentidos), pelo Estado, tomam a frente dos processos de socializae
Pensraccdade com categoria do urbano, jdladas, pode assim produ uma indistingo
do social. Deixaese de levar em conta modos sociais de produgo de sentidos proprios da
cidade, Apagam-se equivocos,silenciamnse contradigdes estnturante da vida social da cae
de, Comprimen-se espagos imisicos,elidem-se rajetos das relagdes secs. Limita-se0
sentidodopiblico” na sua relagao imaging com o"privado”
‘A organizagdo do urbano, que funciona na instdncia do imaginario, muitas vezes im-
pede o trabalho de novas (¢ reais) necessidades da sociedade, isto &, de uma nova ordem
social (i latente). Isso produz violencia urbana. Imobiliza a procura de novas formas de
‘Rua, Campinas, Ndmero Especial: 7-19, 1999
Ent P Orton B
sociabilidade. De novos desenhos (sentidos) da cidade. Paz deslizar a nogiio de conflito,
constitutiva das relagées sociais — em uma formagdo social como a nossa em que as
diferengas se impGem —paraa explosio da violéneia, naquilo que ela nega 20 movimen-
to, muptuta e & transformagtio necessiria, Perdem-se muitos dos possiveis sentidos da
sociabilidade. Porque nio se traballua 0 real da cidade.
Onde 0 social € silenciado, suturado pelo urbano que nio @ compreende em sua
reillidade citadina em constante movimento, emerge a viol&ncia,
‘Ainda quanto i ruptura da sociabilidade, poderiamos estabelecer af uma distingqo,
dlizendo que o contlito urbano é da orem do social, enquanto a violencia individualiza:
condutit individual, Ela desta
em otras palayras, a violEneia se apresenta como fato da
arelag
Segundo essas nossa consideragbes, ha uma conversio do conflito em vio
apagamento do soetal enquanto real estruturante das relagdes entre suijeitos num mesmo
espaco,o da cidade. Nessa estagnagio do movimento, nessa impossibilidade social de
novos sentidos, transfigura-se em violéncia o que seriam re-artanjos de novos espaigos
{do “puiblico”, com seus sentidos deslocados.
cia, Ha
5. A quantidade como fato estruturant 0 da cidade
diseui
Ao elaborar nosso projeto fematico como organizador de nossas pesquisas no Labora
A6rio de Estudos Urbanos (Labeurb) na Unicamp, nos propusemos a refletir sobre como
a cidade se simboliza (se diz) e~ num movimento inverso mas, eu ditia, complementar
a significagio— como linguagem se espacializa na cidade.
Ao percorrer Flos, textos, discussies, fomamos a cidade como wn Tug
particular, como um lugar de interpretagao diferente quanto & suit materialidade, Isso
‘quer dizer que, na cidade, o sujeito se subjetiva de modo especifico, que os sentidos af se
onstituem de modo particular. Pensando esta relagio particular, podemos dizer que a
cidade se localiza ~se situa simbolica e politicamente — como forma particular das relt-
des de produgio. Eo que hii de especifico nessas relagtes, quando se pensa a cidade €
esse espago de interpretagio que vai significar de uma maneira determinada o que & 0
social, concebido nessa relagdio com o urbano?
simbalico
a responder a esta pergunta, tive de alargar as questOes inicialmente postas. Pois 0
P rear as
Rac, Campinas, Niimero Especial: 7-19, 199
NO linia acide
MW
que hi de especitico nessa relago & a quantidade: so muitos do mesmo no mesmo
lugar. Comrsuas diversidades. Na cidade a quantidade nao pode ser evitada, E a quanti=
dade traz. sempre consigo a relagdo entre a diferenga e o mesmo e ¢ isto que a quilifict.
Hii, portanto, um modo de ocupagiio do espaco da cidade que envolve nevessariamente
a quantidade. Vista, & claro, nao em seu aspecto apenas empirico, mas em stia determi-
nagiio histérieae imaginsria, em sua dimensio simbéliea e politica: a do significar, Pode-
se assim dizer que o trago estruturante das relagdes da cidade é a quantidade, ou, em
ultras palavras, a cidade & um espago que se constréi na quantidadde. Se assim & para
significar, o espago urbano lida inelutavelmente coma necessidale de transferéncia (de
metaforizagao) na relagio com a quantidade. A questio pays a ser enifo: como se
resolve nos sentidos (no discurso) da cidade a questao da quantichade?
A quantidade, vista do ponto de vista do simbolio, determina a natureza da imterpr
tagio que & a que caracteriza (configura) a cidade como um lugar (de interpretagio)
especifico. Como (n) a histéria (se) produziu este espago’ Dito de outra manera, de que
modo, perguntariamos, a cidade se configura como esse lugar em que a quantidade
reclama sentido, se tomamos a relagao do homem com seu outro, ¢ no interior das
relagées de produc? Os fatos, como tenho dito, reckamant sentidos €, no easo dat
cidade, o fatoa se dar sentido define-se como quantidade. Se, como dissemios, a quanti
dade & caracteristica do espago da cidade, ¢ ela que historiciza a geogratia, por uma
injungdo simbélica,em que o espaga deve significar. Como diz P. Henry (1994), em uma
critica concomitante ao historicisn
o ef cancepao popperiana de historia e de eiéneia,
(a) mio he fato que ni faga sentido, que ndo pega interpretagdo, que nao reclame que
the achemos causas e conseqdéncias. E nisto que consiste para nésa histéria, nesse fazer
sentido, mesmo que passamos divergir sobre esse sentido em cack caso"
Pois bem, se em outros textos, nuum recorte do que alirma Pau! Henry, estabeleci en
meus trabalhos que os fatos reclamam sentidos e isto me permitiu explorar em sua
importineia consttutiva o fato da interpretagtio, nessa retomuda do que diz esse autor
quero chamar a atengio para aafirmagio de que 0 fato reclama que “Ihe achemos causas
sse, mais acima, que a quantidade pede (reclama) solugio
e conseqiiéncias”. Por isso
de sentidos, na cidade, Este ¢ 0 mével pelo qual, na simbolizagio, a geografia se historiciza,
no espago urbano vit quantidade. Ha un demanda simbdlica e politica da cidade que
passa pela qu
cia, funcionando em um territ6rio
(dade enquanto causa ¢ conseqii
uo, Campinas, Namero Especial; 7-19, 1999
Eni P Orland 15
historicizado,
Isto nos autoriza.a perguntar qual &0 estatuto simbiitico da quantidade que concere
idade? Como a cickade (se) significa (n)a quantidade?
‘Como hi uma relagao desigual (de sobredeterminagao) entre a organizacio urbana eat
‘ordem da cidade, niio hi espaco na cidade que no seja urbuno (nfo hd espaco vazio),
logo, no hi espago que nio esteja sujeito 2 policia, & administragio, Nao havendo
espao vazio — leia-se “disponivel” na materialidade espeeitica do espaga simbolico da
cidade — hii um muito cheio, uma saturagiio dos sentidos do ptiblico que ei como resul-
tado o efeito da violencia, da “desordem”, jd que no pode af haver hugar para fala, a
incompletude, o possivel. Nao hii 0 “outro” sentido, 0 que estaria rampendo com ©
espago simbdlico jd (urbanamente) significado. Nao ha assim movimento dos sentidos e
dos sujeitos. A cidade impedida de significar em seus nzio-sentidos, aqueles que estar
am por vir, as novas formas de relagdes socials. Cristaliza-
esse modo, muitos dos sentidos da cidade — aqueles sobretudo que sivo identificados
como violéncia — so resultados de metforas da quantidade mal resolvidas, mal sued
da, porque nto slo capazes de absorver © movimento do social, Hii assim uma conver-
So urbana dos sentidos da cidade que produzem o efeito da viol$neta, da desordem, da
ilegalidade, do impréprio, Com todas as formas de eco que abrem para os preconceitos:
do racismo, doimaginério urbano (desejivel, valorizado} opesto 20 rural (indesejitvel, de
fora, precirio), das diferengas remetidas A tecnologia ¢ 2 cigncia, onde o urbano é 0
niiico, o tecnologicamente desenvalvido, etc.
Nao acabarfamos de enumerar todas as formas de preconceito produzidas pelo imagi-
nirio que repousa sobre a metifora mal resolvida da quamtidade. Resta acrescentar que a
rietifora (ef. M. Pécheux, 1975 eB. Orlandi, 1996), na anise de disewrso, significa
“transferéncia” de sentidos € no “figura como ma ret6 é
a clissica, Transferencia af &
justamente a possibilidade da interpretagao, a relagao constitutiva com o trabalho dat
Imeméria, dos processos de identifieugio dos sujeitos em seu movimento, em suit
incompletude, em seus equivocos. Em uma palavra, transferénein significa re-s
historicizagaio dos sentidos em que se simbolizam o mesmo e o diferente.
urbano aparece af como “eatalizador” dos sentides da cidade e do social. Num
gesto homogeneizador, o urbanismo cristaliza-se como parte do imagindrio que “inter-
preta” de maneira a fixar o que é a cidade enquanto urbanid
pssat indistingdo, esse
Rua, Campinas, Namero Especial
9, 199
i PO lina decide
silenciamento da espessura semantica da cidade marca de maneira extremamente nega
vao que Ihe & estranho (digno de interesse e curiosidade no séc. XIV e nao de repulsa
como agora), exclui 0 que € ndo-familia, tingindo-o das cores do perigo e da ameaga,
fechando sujeltosem sta grade de signiticagao, imobilizancdo novos processos, esta
do possiveis sentidos da cidade. O- socius deixa de ser um aliado: & 0 estranho, 0
estrangeito, 0 inimigo, 0 de fora. Eo estranho nto € 0 desconhecido, &o que trae pe
ameaga. Desconfianga. Do mesmo modo, nessa formagio diseursiva, por um mean
mo qute se faz como um efeito em dominé, palavras como “cuidado” deixam de sig
{engdio!":ndo se euida de seu concidadio. se toma cuida-
car a acolhida para significar
docomele.
6.A violen
Se tomamos como exemplo os eondominios fechados, pademos apreciar 0 trubalho do
equivoco como parte desse processo de significagdo que regula (retém) 0 jogo de sentidos
cidade/urbano, Pretensamente, os condominios ~ em seus projetos de urbanizagao ~ S40
feitos para dar seguranga aos moradores, No entanto, ao isola parte clo espago pitblico, eles
acabam funcionando como elemento desencadeador de sentidos da violéneia, Ao fazer um
muro, i's imprime ao sentido (do) urbano um gesto de violencia que demarea espagos que
separam cidad2os ecidadios. Indiscriminadamente, De modo indistinto tudo (todos) que ica
fora do muro é estranho, & sujeito a risco. Algm disso, aquele que esti para o lado de fora
sente em sia violéncia da exclusio e se arma de hostiidadle. O confronto, neste gesto de
injerpretagI0, compele Ainterdigio, Adesagregaga0, a0 lito, Silenciosamente, as formas da
sociabilidade se restringem e adquirem novos sentidos: af 0 sociusestd mais para hosts do
aque part alia... sto resulta de um gesto simultaneo de silenciamento ecristalizagio daguilo
que & matéria mével de sig
ficagio que se enrijece & no metaforiza mais os sentidos
possiveis dacidade e de seus habitantes
gesto de isolar, de pr do Indo de fora, na medida em que indistingue tudo que es
alhures, amplia o sentido du marginalidade —o de dentro éo “comunitario” eo que est
do outro kala do muro & 0
~ Sujeito a riseo ~ esvaziando os sentidos de
sociedade, A violencia, individualizacla, passa a ser um confronto corpo-a-corpo. Nao
fem mediagao pelo social
Rua, Campinas, Ndmero Especial 7-19, 1999
Ei P, Orland ”
A urbanizagio, em sua ambigiidade, ao mesmo tempo reconhece ¢ passa sobre a im
permeabilidade que passa existir fortemente na cidade. Integra, sem significur politicanne
te, ou ej, silencia adiferenga. A questi da quanta, como ja mencionei, mio sofre um
processo de transferéncia significativa (ndio se metaforiza convenientemente) ¢ se resolve
‘mal natinjungio aos sentidos do urbana, Converte-se em questio administrativa
Nesse modo de significar, a urbanizagao reduz-se a um discurso téenico —o discurso
(do) urbano — nao chegando a ser uma resposta real do politico. Restringe-se wo dominio
dos efeitos do imaginério. Nao os alravessa, fica neles.
Um fato, em que se pode observar isso, & 0 das pontes (viadutos, ete). Procuram.se
imaneiras cada vez mais sfisticadas (comoa de colocar paralelepipedos em pé) para impect
‘que pessoas sem casa (mendigos?) se alajem no ao sob as ponte. Sabe-se que as pontes ji
tiverum vérias formas e fungbes, inclusive (como a de Florenga, sobre © Ammo), abrigando
residéncias, comércio etc, As nossas pontes hoje (excluindo até o espago para pedestres)
significam exclusivamente “passagem”, “uinsito”. Nao abrigam. Nao sio urs lugar habit
vel. Nesse pracesso de significagao urbana, considera-se pois que © que esti sob a ponte
(pontilhdo, viaduto, ete.) nio é um espago, ainda que, do ponto de vista da cidade, em st
vida social, este seja um espago procurado como moradia. Mas 0 discurso (do) urbano ja
satturou esse sentido, pune simplesmente. Quer dizer, nao hi possibilidade de deslocarem-se
‘os sentidos urbanos da ponte, mesmo face & realidade social concreta de cidackios (2) habita-
10s, Do ponto de vistt (do) urbano os espagos da cidade no sto “vazios"
projetos, io jd destinados,
Enquanto discurso que se restringe ~ e que restringe aos efeitos do imaginério, o
turbano nio eede a auoria em relaao & questo da civitidade, da soviabilidade e da
cidadania, Nao se fazer os sentidos necessirios. Diluem-se os gestos de interpretagao
dacidade. Na demanda de sentidos, no ha, blogueado pelo discurso do urbano, possibi-
lidade de se constituirem novos sentidos, de se historicizatem (outros) sentidos da eida-
de. A cidade niio se autoriza a um dizer proprio, Ao instituir sua amtoria, © diseurso do
Urbano pratica sentidos nio historicizadas, ni re-significudos, cristalizando-se sob o
‘modo de uma repetigae formal (do que € urbanizar). Pratica-se a diseursividade do
turbano, sem que se transforme a reatidade da cidade, Para haver tal ressignificagdo, &
preciso se recolocar a materialidade social contradit6ria como mediadora, Elidi-ka é um
modo da urbanizago subtrair a sociedade da histéria,
Rua, Campinas, Nimero Especial: 7-19, 1999
AO linia de ie
Is
7. Uma proposta de reflextio
Silo esses el
vitos que procuramos compreender nessa Jomnada Cientifiea que retine
nnossos pesquisadores tendo a participagio ativa de dois membros do nosso Laborut6rio
de Estudos Urbanos (Suzy M. Lagazzi Rodrigues ¢ Eduardo Guimarites) como debatedores;
dos textos de nossos convidados: Luis Anténio Francisco de Souza (Niicleo de Estudos
da Violéncia da USP), Ana Maria Femandes (Departamento de Arquiteturae Urbanismo
da Universidade Federal da Bahia), Ménica Zoppi-Fontana (professora do HEL ¢ tam-
én memibro pesquisaddor de nosso Laborat6rio), Carmen Lavras (Niteleo de Estudos
Sociais da Satide da. Pontificia Universidade Catélica de Campinas). Otilia Arantes
(Departamento de Filosofia da FFLCH da USP), Nelson Brissuc Peixoto (Departamento
de Urbanismo da Pontificia Universidade de Cat6tica de Sto Paulo), Lticia Teixeira
(Departamento de Lingtifstica da Universidade Federal Fluminense) ¢ Nika Teves (La
boratcrio de Estudos do Imaginicio da Universidade Gama Filho e Secretiria da Cigneia
de Janeiro). Pudemos assim campor umia reunio com a participa
flo de pessoas ligadas a vida académica mas também, muitas delas, compromctidas com
projetos que intervém na vida da cidade.
Os textos apresentados ¢ debatidos so os que compoem este ntimero especial de
nossa revista Ria e que publicamos como uma forma de fuzer cincularenn as id
restiliados de pesquisa eas discusses que organizamos e aos quais temios tido e quete~
‘mos dar acesso, na realizacio de nosso proprio projeta temstico de pesquisa (apoiacdo
peli Fapesp) “O Sentide Piblico no Espago Urbano”
Résumé
LLerapport de sur-terminationd
do la ville dans sa ralité sociale eoner
scours, tout en cherchant compen les mayens par kesqusilyaeffacement des Suva
a se soussilence des contains yu stuetutent la viesocialede la ile. enesserant Is espaces
Je imaginaire uri sa villoet Te sola protit une pertede sens
‘Nous nous propasons de penser ee fait eomme un fait ck
sytbotiges et, en conséquence, en ealissant les cantons de I montge de a violence. Dae pat
‘nous observons comment feel dela vile uraaille ees contradictions en pros 'itzupion d aus
sens possibles,
Rua, Campinas, Namero Especial: 7-19, 1999
Eni P Orland 19
BIBLIOGRAFIA
Henry, P. (1997) “A hhistéria i
Campinas, Ed. da Unicamp.
Le Goff, J. (1997) Por amor as cidades. Unesp, Siio Paulo,
Orlandi, B. (1996) Interpretagdo. Autoria, leitura ¢ efeitos do trabatho simbélico.
Peirdpolis, Vozes.
Pécheux, M. (1997) “Ler o Arquivo Hoje”. In Gestos de leitura, Eni Orlandi (org.).
Campinas, Ed, da Unieamp.
existe?” In Gestos de leinra, Eni Orlandi (org).
Rua, Campinas, Nimero Especial: 7-19, 1999
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 05.01. Bobbio - Teoria Do Ordenamento Jurídico. Cap. IIIDocument25 pages05.01. Bobbio - Teoria Do Ordenamento Jurídico. Cap. IIIDayane Souza SantosNo ratings yet
- 04.02. Bobbio - História Do PositivismoDocument19 pages04.02. Bobbio - História Do PositivismoDayane Souza SantosNo ratings yet
- 04.01. Bobbio - Teoria Da Norma Jurídica - Cap. VDocument18 pages04.01. Bobbio - Teoria Da Norma Jurídica - Cap. VDayane Souza SantosNo ratings yet
- Livro. Manoel Jorge. TGEDocument49 pagesLivro. Manoel Jorge. TGEDayane Souza SantosNo ratings yet
- O Colapso Das Constituições Do BrasilDocument23 pagesO Colapso Das Constituições Do BrasilDayane Souza SantosNo ratings yet
- Artur Costa,+4+-+os+usos+da+ideia+de+lutaDocument25 pagesArtur Costa,+4+-+os+usos+da+ideia+de+lutaDayane Souza SantosNo ratings yet
- Imunidades ParlamentaresDocument4 pagesImunidades ParlamentaresDayane Souza SantosNo ratings yet