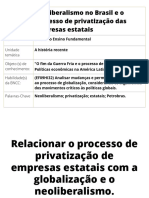Professional Documents
Culture Documents
Identidades Indígenas No Nordeste
Identidades Indígenas No Nordeste
Uploaded by
Rodrigo Lins Barbosa0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views19 pagesOriginal Title
Identidades indígenas no Nordeste
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views19 pagesIdentidades Indígenas No Nordeste
Identidades Indígenas No Nordeste
Uploaded by
Rodrigo Lins BarbosaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 19
CAPITULO 3
IDENTIDADES INDIGENAS
NO NORDESTE
Mariana Albuquerque Dantas
No Nordeste, «3 grupos indigenas contempordineos se constitul-
ram através de longos processos histéricos de transformacao de suas
identidades e culturas,
A regio Nordeste, atualmente, possui grande diversidade de
povos indigenas. Cerca de 232.739 individuos se consideram indios,
‘© que corresponde a 25,9% da populacao indigena do Brasil, segundo
censo do IBGE de 2010. Essa situacdo se explica, principalmente, de-
vido 20 aumento do mimero de individuos que se reconhecem como
indigenas ¢ que assim sao identificados pelo grupo no qual esto in-
seridos. Esse crescimento demografico em pleno século XXI contrasta
com 0 discurso sobre o desaparecimento éa populacio indigena no
Nordeste, consirufdo em finais do século XIX. Politicos, autoridades
e intelectuais reafirmavam a ideia de que os indigenas desapareceriam
Cilufdos na soctedade no indigene, pasando a atuar como trabalha-
cores rurais e deixando para sempre de viver nas terras das aldeias.
Com esse discurso, as aldeias foram sendo extintas ao longo do século
XIX, | que 0s indics “puros” nao existiriam mais, restando apenas
Seuls remanescentes 9u os “caboclos”,
No entanto, as agdes indigenas durante e apés o processo de
extingdo das aldeias no século XIX nos mostram que os grupos
contiauaram iaterferindo ra administracdo de suas terras e rei-
vindicando seus direitos. Com essas aces, chegaram ao inicio do
81
a2
Ensine (d}e Astoria Indigens
século XX e conseguiram ser reconhecidos pelo érgéo indigenista
oficial, o SET, antecessor da Fuaai. Durante muitos anos esses grupos
Jevaram ac SPI reclamagées sobre as invases realizadas em suas
tetras por ndo indios e teivindicaram a necessidade de delimitar
seus territérios de acordo com as aldeias constituidas ainda no
perfodo colonial.
Neste capitulo iremcs entender como ocorreu esse processo de
desaparecimento e ressurgimeato de grupos indigenas na regiéo Nor-
deste. Vamos analisar como se deu a extingéo das aldeias no final do
século XIXe como foi elaborado, por intelectuaise politicos, o discurso
sobre o desaparecimento dos indios. Por outro lado, também vamos
compreender as aces dos préprios indigenas para manter 0 uso cole-
tivo de suas terras ¢ comoeles zonseguiram o reconkecimento de sua
identidade diferenciada frente ao estado brasileiro no inicio do século
XX. Para elucidar algumas questdes mais pontuais, iremos abordar
uum caso em particular, ode Pernambuco, e também: vamos retornar
rapidamente a meados do século XVIII, quando os habitantes das
aldeias sofreram profundas transformacées, que foram intensificadas
nos séculos posteriores. i
Continuidades e descontinuidades
na formacdo das aldelas
Conflitos por terras dos aldeamentos ne século XIX remontavam
4s relagdes entre indios ¢ nao indios incentivadas por leis de finais
doséculo XVII
Os indigenas sofreram um sério golpe ao final do século XIX,
com a extingao de seus aldeamentos, justificada através de leis
discursos do periodo, Um importante indicador desse proceso
sao as relajdes entre indios e nao indios estabelecidas nas aldeias,
nies povoados e nas vila durante a formagio desses espacos. Por
isso, 6 importante compreender come as aldeias se estabeleceram e
como se dew a formacao de aliancas e rivalidades entre os diferentes
Capitulas Identidades indignas no Nordeste 83
Figura 1, Populacae indigena no Nordeste
Esse mapa, produzido por Tomas Pzoliello (2012), apresenta t localizagio dz
Populasao inclgena no Nordeste. Fol feito a partir dos dados do Censo 20t0
do IBGE e das classificagoes construldas pelo antropdlogo Joio Pacheco de
Oliveira De acordo com as legendas, verios que o= ndmeros sobre os,
Indigenas ste considerados através de tres clasificagdes: os “que habitam
‘municipios com Terra Indigena’; os "que residem em cidades com + de 100,000
habitantes’, ou seja, aqueles indigenas que yivem em grances cidades;
‘€05 que estio “a margem de politicas piblicas especificas",considerando
uma populagio dispersa, Esses sto dados rnuito importantes, pois
presenter a ampla presercz indigena ra regito na stualidads
34
Ersino (@)e Histéria Indigena
‘Ao longo do periode colonial, as relagdes dos indigenas entre
sie destes com o territério de suas aldeias foram profundamente
‘modificadas com as eis de finais do século XVIUL, que estabeleceram
novos pardmetros para a vida nas aldeias, Essas leis estenderam seus
refexos durante todo o século XIX, ao incentivarem a instalagdo ¢
a germanéncia de nao indigenas no intericr das aldeias através de
afcramentos de terras e cesamentos.
‘A administragao das aldeiasa-partirde 1757 foi beseada no“D-
cetbrio que se deve observar nas povoacées de incios do Paré, €
Maranhio, enquanto Sua Majestade ndo mandar o contrério”. Uin
ano depois o Diretorio foi estendido a outras regides da colénis.
lei determinava a implantagio de uma série de medidas relatives
20s indios e a seus costumes, com 0 objetivo de transformé-los
em vasselos do rei, nepando sua diversidade cultural através de
processos que tentavam assimil-los completamente & socieda-
de colonial, Uma das mudencas implantada pelo Diretério fot
| ainsergio da figura do diretor de fndios, servidor do Estaco
que deveria substituir os misstondrios na administragio das.
aldeias. Jé ne século XIX, 0 Governo Imperial manteve muitas
ages ainda pautadas pelo Diretério dos ‘fndios, embora ele
ji estivesse extinto. Apencs a partir de 1845 implementou-se
uma legislagio mais empla, elaborada no periodo imperial: 0 |
Regulamento das Missoes.
‘Na provincia de Pernarsbuco, em 1861, existiam otto aldeias
indigenas: Escada, Barrsiros, Cimbres, Aguas Belas, Baixa Verde,
Brejo dos Padres, Assungio e Santa Maia, Todas passavam por sérios
‘problemas elativos As teas, eja devido & ocupegio de posseiros, seja
em fungdo de disputas com as cémaras municipais,
a eae Be ros Ipojuica e Una, as aldeias da Zona da Mata
Sul, Escada e Barreiros, estavam em grande parte ocupadas por enge-
‘nhos de agiicar dos foreiros de suas terras. Os donos dos engenhos, por
sua ver, nio pagavam os aforamentos com regularidade, criginando
graves problemas aos indigenasaldeados, Os aforamentos constituiam
Caprulo 5 [dentidades indigenas no Nordests 85
um tipo de contrato para o uso de partes de terras da aldeia por néo
indios. O uso da terra era concedido por meio do pagamento de um
valor estipulado pelo diretor de aldeia, que deveria administrar tais
rendas em beaeficio da aldeia e ce seus habitantes indigenas. Contudo,
za maioria des casos, 0s aforamentos nao eram pagos com frequéncia,
«0s indigenas via diminuir seu acesso 2s terras coletivas sem, tam-
pouco, teremas rendas devidas. Existem varias peti¢des dos proprios
indios reclamando da forma como os aforamentos eram feitos, uma
‘vez que as condigdes para o uso da terra e de seu pagamento eram e3-
tabelecidas pelo dizetor da aldeia em comum acordo com os posseires.
Asaldeias de Cimbres ¢ Assungao pessavam por sérios conflites
com as cémaras municipais, que recorriam a todos os meios para
usurpar as terras das aldeias. Os indios de Aguas Belas e do Brejo dos
Padres tinham suas terras tomadas por posseiros que, em muitos casos,
se negavam a pagar as rendas. Jf os indios de Santa Maria, devido &
invasdo de suas terras e a perseguicao sofrida, passeram a se refugiar
na Serra Negra, local préximo e de dificil acesso, onde encontravam
terras férteis. x
Assim, grosso modo, aolongo do século XIX cabiam: aos indigenes
poredes muito restritas dos territérios de seus aldeamentos, tendo em
vista o fato de que nio indigenas possuiam grandes partes de suas terres
‘sem pagar as rendas provenientes dos aforamentos. Sendo perseguidos,
muitas vezes os indigenas prefe-iam fugir das aldeias e se esconder
em locais férteis ¢ de dificil acesso. Nesse contexto de disputas per
terras, eles utilizavam outras estratégias além das fugas, como 0 envio
de petigdes asautoridades ea participagdo na vida politica local. Tais
estratégias serdo vistas mais & frente,
No momento, cabe ressaltar que as mudancas nos usos dados aos
territérios dasaldeias, que permitiam a presenga de nao indigenas em
seu interior, bem como as transformagies nas culturas e identidades
indigenas, foram baseadas no Diret6rio dos Indios, criado em 1757,
‘Com 0 Diretério tornaram-se obrigatérias uma série de intervengdes
nas aldeias, ta's como o uso obrigatério da lingua portuguesa, a ado-
‘40 pelos {ndios de nome e sobresome portugueses ¢ a construgio de
casas no estilo portugués. Além dessas medidas, também se tornow
6
Ensino (de Histra Indigena
obrigatéria a criagio de vilas e povoados préximos ou inseridos no
territério das aldeias, once deveriam ser pramovidos a comunicagao€
‘ocomeércio entre indios endo indios. Com oincentivo as relagdes com
nio indiose a imposisao 4e costumes europeus, os indigenas aldeados
passaram por grandes mudangas em suas culturas ¢ identidades.
0 Diret6rio fazia parse de uma politica mais ample do gover:
no lusitano encabecaco pelo rei D. José I (1750-1777) e por seu
primeito-ministro Sebastio José de Carvalho e Melo, Conde
de Oeiras (1759) e depois Marqués de Pombal (1770). Durante
administracio do gabinete pombalino, Portugal esuas possessoes
| coloniais passaram por reformas profundas, com o intuito de
fortalecer o poder absoluto do rei, institvindo um dominio mais |
rigoroso sobre a colénia. Os indigenas tinham um papel funda-
‘mental no processo de demarcagio das fronteiras da possessdo
portuguesa na América com as coldnias espanholas. Disso resulta
0 interesse em tornar os indigenas vassalos, sem distingoes em
relacio aos demais, pira que povoassem 0 territério sob domt-
nio portugues através dos novos lugares e vilas. Por sia vez, 03
ind{genas conseguiam obter alguns beneficios ao se envolverem
| nos conflites e através da prépria legislacao, que Ihes garartia
__ alguns direitos,
ee)
Em Pernambuco ¢ Diretério foi adeptado, sendo criada uma
Iegislagao propria para a capitania, em 1758. Através da aplicagio
dessas leis, foram criacos lugares e vilas com nomes portugueses,
agrupando aldeias diferentes e reun:ndo indigenas que nao viviam
ldeados. No sertio do rio Sio Francisco foram criadas as vilas da Ilha
de Santa Maria e da Tha de Assungao. No sertéo do Ararobé foram
erigidos o lugar de Aguas Belas e a vila de Cimbres. Finalmente, na
Beira Mar (ou Zona da Mata) foi criado o lugar Barreiros.
‘Ao comparar as v:las ¢ 0s lugares criados na década de 1760
com as aldeias descritas nos relatérios de 1861 e de 1873, € possivel
perceber tanto a continuidade de algumas aldeias quanto 0 desa-
parecimento de outras Isso indica a dinimica de reconstrusao de
Captule 3 Identidadesindigenas ne Nordeste
‘espacos e territdrios, na qual indigenas e nfo indigenas criaram e
‘mantiveram estreitas relacdes,
Tabela 1, Aldeias, vilase lugares
Vilas e lugeres em 1760 | Aldelasem 1861 | Aldetas em 1873
Vila da tiha de Santa
eee Santa Maria Santa Maria
Via da llhade Assuncao| Assungao Assungao
Vila de Cimbres Cimbres Cimbres
Lugar de Aguas Belas | Aguas Belas Aguas Belas
Escada Riacho do Mato
a aia Verde
Brejo dos Padres | Brejo dos Padres
Fonte: Medeiros (2007, p39), Relat6rio (18), Relatero (873)
As aldeias transformadas em vilas passaram a conter todo 0
aparato de administracio portuguesa, como casa de cimara,cadeiae
pelourinko, 0 espaco fot remodelado: foram abertas ruas planejadas
eer linha retae construfdas casas no estilo portugués, com fachadas
uniformes e regulares “
Dentro cesses novos elementos territoriais, continuaram a existir.
«espagos recorhecidos como alicamentos,e seus habitantes continua-
rama ser idertificedos como indigenas. Esses grupos mantiveram, de
alguma form, suas terras coletivas ¢ suas identidades. & importante
fazer a ressalva de que esses aldeementos e vilas passaram por comple-
+08 processos de transformagao espacial e que os indios protagonize-
ram um longo caminho de adaptagio aos novos parametros, Mesmo
87
38
Ensina (@)e HistéraIndigena
sendo dificil perceber tais raudangas tdo subjetivas na documentagio,
podemos deduzi-las a partir de outras questdes, Um exemplo é arrelacéo
dos indios com o territSrio das aldeias, que se transformou devido as
modificacées nashabitagoes e ne estrutura do espago durante a ctiagéo
das vilas e também por meio da existéncia de trechos apossados por
nio indios. Outras mudancas se deram em decorréncia das adapta-
ges protagonizadas pelos indigenas através das relagdes estabelecidas
com nio {ndios e das trocas conflituosas ou amistosas entre indigenas
provenientes de grupos diversos que passaram a conviver reunidos no
espaco comum de uma nova vila.
‘Assim, podemos afirmar que as aldeias que foram extintas 20
final do século XIX, sob a justificativa de que ali nao haveria indios
“puros', cram o resultado de processos de transformagio do territério
¢ das préprias identidades indigenas vivenciados no século XVII e
nos perfodos anteriores. Como demonstrou Maria Regina Celestino
de Almeida (2003, p. 102), no perfodo colonial os diferentes grupos
indigenas procuraram se adaptar as novas situagées em busca da
manutengic das aldeias, pois elas significavam 0 acesso & terrae @
protecio que esta oferecia. Os indigenas se modificaram ¢ tomaram
para si costumes diferentes dos seus, se casaram com nao {ndios,
fizeram aliangase se envolveram em conflitos.
© discurso sobre a extingio
Aextingdo das aldeias no Nordeste foi articulada a partir de leis
e do discurso sobre a mestigagem indigena.
O longo proceso de extingio das aldeias indigenas, intensificado
emfinais de século XIX, ji havia se iniciado no século XVIII, com a
criegao de lugares e vilas, como vimos na se;o anterior. Ainda que
0s indigenas tenham utilizado varias estratégias para permanecer em.
seus territérios, é importante entender como os politicos das vilas e
das provincias viam esses grupos e como conseguiram extinguir as
aldeias por meios legais.
Ciptulo 3 Identidades indigeras no Nordeste
‘Aldaamontoe
© mes cum tthe feces
oe ofa eh cocoa
© senscrrnion © Aarecotizo © tanr'mcniininey ZA Wrcinossras
Figura. Aldeamentos indigenas de Pernambuco em 1873
Fonte: Relat6rio sobre os aldeamentos de indios
1a provincia de Pernambuco. In; Mello (1973).
Varios aspectes da politica imperial e das dindmicas viven-
ciadas nas previncias e nas viles contribuiram para a supressio
dos aldeamentos no Nordeste. As justificativas usadas para isso
estavam baseadas nas legislacdes indigenista e fundidria da época
~ 0 Regulamento das Missées (-845) ea Lei de Terras (1850), Ao
mesmo tempo, as atoridades locais forjaram uma imagem nega-
tiva sobre a pepulacao indigena, considerando-a indesejavel nas
vilas e nos povoades, o que ficou registredo nas fontes da época.
As relagdes estabelecidas entre indios e no indios, bem como
questées sobre o cotidiano das aldeias, tais como envolvimento em
disputas de partides politicos e crimes supostamente cometidos
pelos indios (roubos de gado, et:.), também contribuiram para a
extingao das aldeias.
89
90
Ersino (d}e Histérla Indigena
‘Ao lado da imagem de populagdo indesejada, também se articu-
lowo discurso de que os grupos indigenas scriam remanescentes ou
mesticos dos indios “puros’, seus antepassados. Segundo esse discurso,
chegaram ao século XIX como uma gente “degenerada” e misturada &
pofulacio nio indigena e, For isio, nao poderiam tera posse ou utilizar
aterra de maneira coletiva, O territério das a.deias deveria ser, entio,
dividido em lotes concedidos &s farnilias dos “remanescentes”. As au-
torkiades da época também consideravam que grande parte das terras
das aldeias eram improdutivas por no serem bem cultivadas pelos
“indigenas misturados”, As terras improdutivas, portanto, deveriam
ser revertides ao Estado nacioral ou 20s posseiros que jé estivessem
ali instalados. Esse argumentc sobre a imp:odutividade das terras
indigenas ainda é utilizado com muita frequéncia nos dias de hoje, 0
gue indica a permanéncia de imagens congeladas eesteredtipos sobre
0s grupos indigesas e sobre os usos que dao as terras de suas aldeias
importante lembrar que as aldeias indigenas estavam localizadas
em reas fér‘eis as margens de riose serras que despertavam interesse
e cobiga nos grandes proprictérios da regiac, Em meados do século
XIX tornou-se muito comum ainvasio das aldeias por plantagdes de
cam-de-agiicar, fazendas de gado e de algodao e também por rogados.
Muitas vezes, essas invasées eram realizadas de maneira violenta,
‘Assim, a ideia de que as 4reas ocupadas pelosindigenas eram impro-
dutivas cortesponde & visio dos proprietérins locais e dos politicos
da época que produziramas fontes documentais. Como autoridades
locais (juizes, prefeitos, diretores de aldeie), esses politicos estavam
ligados a posseiros, senhores de engenho e donos de fazendas, sendo
muitas vezes eles mesmos vizinhos dos zldeamentos, interessados em
englobar terras das aldeias as suas prop-iedades.
Das disputas entre indios e nao indios percebemos que havia ex-
pectativas diferentes em relacdo aos usos dados as terras das aldeias. Os
indigenas tiravam daqueleterri:ério sua subsisténcia, nele realizavam_
seus préprios rituais, viveado de acordo com seus costumes. Eles 0
percebiam como um lugar de preservacao de seu modo de vida e de
protecdo em relacio aos demmanios dos rroprietarios e das autoridades
da regio, Entendiam que aterra deveria ser usada de maneira coletiva,
Cptule 3 Identidades indigerss no Nordeste
deacordo coma area que lhes fora concedida no periodo colonial. Foi
‘a partir dessa compreensio que fizeram suas reivindicagbes.
também importante ressaltar que a relagio dos grupos indgenas
com seu territério coletivo jé fora muito modificada em fungio das
leis que estimulavam a presenga de nao indigenas nos aldeamentos
desde meados do século XVIIL © fato de os indigenas defenderem
0 aldeamento nao significava que eles desejavam interromper suas
interagées corm os nao indigenas, mas apenas que queriam interferir
diretamente na administrasdo das terras. Afinal, as terras coletivas
ainda lhes davam alguma proteséo e subsisténcia, sendo, portanto,
essencial decidir as formas de sua utilizacio.
JA os senhores de engenhos ¢ donos de fazendas viam nas terras
das aldetas a possibilidade de aumentar seus ganhos, ampliando a3
reas para a ctiacdo de animais co cultivo de cana e algodio. Assim,
percebemos que a questdo do uso das terras dos aldeamentos era com-
plexa, na media em que havia diferentes manelras de compreendé-la,
‘Vamos definir melhor algumas questées a partir de um exemplo.
Uma comissio organizada em 1873 na provincia de Pernambuco,
com o objetivo de car um parecer sobre a situagio dos aldeamentos,
produziu um relatério no qual descreveu as sete aldeias existentes €
sugeriut agdes a serem tomadas pelo governo.
As aldeias foram descritas como decadentes ¢ usurpadas de grande
parte de suas terras, principalmente pela invasio de nao indios, que se
apropriavam de porgdes do terreno, e pelo abandono dos prdprios indios,
que fugiam das aldeias. Apesar de estarem localizadas ema areas férteis
com potencial agricola, segundo o relatério as aldeias nio produzian.
0 suficiente para sustentar seus habitantes. De acordo com 0 mesmo
documento, essa situagdo era resultado, em parte, da desorganizagioe
da mé administragio realizada pelos diretores das aldeias, Ble ressalta
também a situeeio de “degredasio” dos indios e sua mesticagem com
no ind{genas. Diante disso, « comissdo nao via nenhum beneficio para
a provincia em manter as aldeias nesse estado e propunhasua extingao,
Era retomada, assim, uma argamentagio j& desenvolvida em outros
momentos. Em1851, por exemplo, o presidente da provincia de Pernam-
buco empregou ume expressio muito utilizada em virios documentos
a
92.
Ensino ce Histéra Indigena
da epoca para indicar a mis:ura dos indios dosaldeamentos, afitmando
queestavam “dispersos e confundidos na massa da populagio civilizada”
(RetaTORI0, 1851). Ele nao seria o tinico a utilizar essa expresso. Em
1863, outro presidente da provincia informou que uma aldeia fora extinta,
pois “os poucos indios que ali habitavam achavam-se jé confundidos
nna massa geral da popula¢io” (REL atoRr0, 1869).
Para construir seus argumentos, esses presidentes se apropriaram
dasja citadas leis sobre terras ¢ da legislacdo indigenista: 0 Regulamen-
to cas MissCes, de 1845, ez Leide Terras, de 1850. O Regulamento de
1845 mantinha ¢ adminis:rac4o das aldeias por um funcionério do
Estado e a divisto de suas terras de modo que algumes partes fossem
arrendadas para nao {ndics.
© Regulamento de 1845 criou o cargo de diretor-geral de indios
da provinciz e manteve 0 cargo de diretor de aldeia, sendo um admi-
nistrador em nivel provinc.al e outco emnivel local. Ambos detinham
largos poderes sobre a disposicdo das terras das aldeias, pois entre suas
atribuigdes estava a decisio de quais partes do aldeamento poderiam
ser utilizades para plantacées coletivas dos préprios indios ¢ quais
seriam arrendadas para néo indios.
A Lei de Terras, por sua vez, foi a primeira a regulamentar os
pracessos de compra e venda de terras no Império, bem como as
possibilidades de reconhecimento da posse sobre terras. A lei, po-
rém, ndo fazia referéncia aos modos de utilizagao e regularizagao do
territério das aldeias que jé estavam estabelecidas e, em sua maioria,
‘ocupadas por posseiros nao incios. Ela, por outro lado, legitimava as
posses “marsas e pacificas” das terras jé cultivadas ou com prinefpio
de cultura e morada habitual do respectivo posseiro. Dessa forme, 0
governo permitia a contimaidade do uso de terras dos aldeamentos
pornao indios através de rrendamentos ou simples ocupacio.
Um miés apés a promulgacao da Lei de Terras foi editada a De-
cisio n. 92, definindo a incorporagao ao tesouro do governo imperial
das terras dos indios que “jd néo vivem aldeados, mas sim dispersos
e confundidos na massa da populagio civilizada” (Cunwa, 1992b, p.
213), Dai veio a jé mencionada expressao utilizada com frequéncia nas
fonces da época e que impés o destino a ser dado ao territério coletivo
dosindios considerados mestigas.
Jo Identidades indigeras no Nordeste
Alei de 1850 foi concebida como uma fentativa de regularizar a
Posse e a propriedade sobre terras, em vista da confusao criada
com a extingéo das doagies de sesmarias pela Coroa portuguesa
com a Indepencéncia, em 1822. Os debates para a implantacao
dessa lei estavam centrados nanecessidade de rever oconceito de
“terra”, Antes elaera concebida como uma doagio do rei e indicava
ostatus social doindividuo quearecebia, A partir da Lei de 1850,
“terra” passou a ser percebida como uma mercadoria, que poderia
ser comprada e vendida, no sendo determinante a posigao social
do individuo, Pela Lei de Terras, as sesmarias concedidas até 1822
seriam martidas, contamo que tivessem: cultura efetiva ¢ fossem
morada hatitual de seu sesmeiro, Este teria de registrar sua posse
e teria preferéncia na aquisicao de terrenos devolutos vizinhos,
Dessa manecira, ¢ lei permitia a continuidade da grande lavoura,
E necessdrio lembrar que a legislacao sobre terras foi elaborada
era um momento de rees:ruturagao do governo imperial apés 0
perfodo regencial (1831-1840) e marcado por varias revoltas em
todo o Brasil. Nesse contexto de mudances, as leis de emancipacdo
gradual do -rabalhador escravizado (leis de aboliao do tratico,
do Ventre Livre e dos Sexagendrios) apontavam para o grave
problema do provimento de mao de obra para os proprietérios
deterras. E interessante perceber que essas modificagdes sobre 0
‘acesso & mio de obra e as terras ocorreram no mesmo periodo em
«que se ealizou a extingao dos aldeamentos indigenas no Nordeste
Nessa regio, onde também houve uma perda de cativos para as
reas produtoras de café, a emancipagao do trabalhador esctavo
nao leyou a completa desarticulagdo da economia. Os grandes
proprietarios puderam centar com a méo de obra livre de seus
ag:egados, cos mroradores de suas propriedades e de indigenas
da regido. Q trabalho de indigenas na época da safra de cana
nos engenhes nos leva a perceber que a politica de extingao das
aldeias estava relacionada & necessidade de obter mais bragos para
alevoura na ¢poca em quea escravidao era gradualmente abolida.
Eee
93
4
Ersira (@)e Histeria Indigena
As legislagées indigeniste e fundidria da segunda metade do
século XIX embasavam a argumentagio a favor da extingio das al-
deias, Nessas leis foram tratadas em conjunto a situagao dos indios
~ considerados como “degenerados”, “remanescentes”, “mesticos” ~
¢ a questo da invasdo de suas terras coletivas. Ao desconsiderar a
identidade ciferenciada dessas populagées, airmando que ndo eram
mais “indios puros”, as attoridades imperiais passaram a perceber
suas terras como abandonadas ou devolutas. Desse forma, apés a
extingZo dos aldeamentos, as terras das alde:as ficariam dispontveis
para 0 préprio Estado ou para a ocupagdo por nfo indios. Nesse
sentido, por terem sido percebidos como “confundidos na massa
da populacio civilizada”, os indigenas tiverim seu acesso as terras
coletivas restringido.
Pensar em como as leis que tratavam das populacées indigenas e
de suas terras foram elaboradas ¢ aplicadas permite o desenvolvimento
de um senso critico acerca do que era “ser {ndio” no século XIX.
possivel, a partir de leis e documentos da época, entender como os
politicos eos intelectuais percetiam os grupos indigenas no Nordeste,
Para que os considerassem “Indios verdadeiros’, exigiam deles uma
“pureza” de identidade que os remetesse a seus antepassados. Tal
posicionamento ado levava em consideragao os processos histéricos
nos quais os diversos poves indigenas se envolveram, adaptaram-se
ou combateram, Diante disso, nossa intzrpretagdo deve se orientar a
pariir do entendimento das transformazoes nas culturas e identida-
des indigenes intensificadas no século XVIII, quando os indios eram
incentivados pelas politicas portuguesasa estzbelecerem relages com
no indios. Podemos afirmar, entio, que as mestigagens fazem parte
dashist6riasindigenas e devem ser entendidas como tm componente
importante de suas culturcs e identidades étnicas,
Fontes para a escrita da participacao
indigena na historia
Classificagies e discursos sobre os indigenus devem ser entendidos
a partir dos contextos de producito clas fontes histéricas.
Cactoloa Identidaces indigense no Nordeste
© trabalho com fontes do século XIX sobre a perticipacdo in-
digena na historia exige um posicionamento critico do leitor. Como
vvimos na segéo anterior, a 7isdo estereotipada sobre os indigenas era
produzida pelas autoridades que ocupavam cargos administrativos
das aldeias e provincias. A maior parte dessa documentagao era pro-
Guzida por no indigenas que tinham interesses os mais variados
sobre a terra ¢a mio de obra indigenas, Ao mesmo tempo, sabemos
que séo pouguissimas as fontes produzides pelos préprios indios. As
poucas escritas no século XIX das quais temos conhecimento sio
abaixo-assinados e petigéies muttas vezes elaboradas com a ajuda de
no indios. Per isso, temos ditvidas sobre sua autoria, ou seja, se foram
escritas pelos indios ou por seus aliados nao indios com sua aprovacio.
Assim, amaioria das fontes com que trabalhamos foram escrites
por diretores de aldeias, diretores gerais, presidentes de provincia, jui-
es de érfa0s, ouvidores de comarcas, prefeitos, membros de cAmaras,
etc. Esses textos foram constituidos a partir da visio de seus autores
acerca das populacées indigenas, forjada a partir do conkecimento
‘que se tinha, dos interesses dos agentes hist6ricos e dos jogos politicos
vivenciados pot indios e nao indios nas localidades. Por isso, é impor-
tante compreender os contestos social, politico e econémico nos quais
05 discursos sobre os indigenas se legitimavam e ganhavam fora.
‘Tais contextos no devem ser entendidos como simples enume-
racdo dos fates histéricos ocorridos no periodo estudado. E preciso
conectar ques:des histéricas, sociais, econémicas e politicas desenvol-
vidas nos niveis local, regicnal e nacional para explicar as agées dos
diferentes sujeitos histérices. Com isso, podemos analisar as fontes
historicas e en:ender seu contexto de produséo. Por exemplo, ao lermos
um relatério sobre um detsrminado grupo indigena, é importante
ppesquiisarmos quem foi seu autor e que interesses possufa ao escrever
aquele documento. Ao fazernos isso, podemos verificar se era proprie-
trio de engenhos de acticar, fazenda de gedo ou de algodao, se tinha
interesse nas terras da aldeia e quais eram os seus aliados, o que nos
ajuda a comp:eender as questées locais que o envolviam. Também
podemos tentar conhecer seu posicionamento politico, saber se tinha
relagbes na Corte, se assumira outros cargos ou, ainda, se era membro
95
96
Ensina (dhe Fistora Indigens
de um determinado partido, conectando, assim, seus interesses com
quest6es mais amplas. Essetipo de conexio pede ajuder a explicar por
que os indios se colocaram cortra ou apoiaram o autor da fonte, se
mantinham comele relagées amigiveis cu conflituosas. Os relaciona-
:mentos com membros das dites locais poderiam motivar os indigenas
wadirem engenhos e fazendas, a participarem de alguma revolta,
a seenvolverem em conflitos armados, a fazerem peticdes e abaixo-
-assinados. Dessa forma, as questdes locais e nacionais se conectam,
as relagées entre indios e ndo indios ganham sentido, contribuindo
pare a construcdo de um significado para as aces indigenas.
‘Torna-se importante, entdo, entender como as relagGes entre {n-
dios, diretores de aldeia, dcnos de engenho e de fazendas vizinhas As
aldeias (que ocupavam as fungdes da administeacao local) e posseiros
que viviam dentro dos tersitérios indigenas foram estabelecidas 20
longo dos anos nos espacosde vilas, cidades e municipios. Coma ané-
lise dessas relacSes, podemos perceber também como as classificacées
atribuidas is populagSes indigenss eram criadas em didlogo com as leis
€comas politicas mais gerais do Impéric, leis muitas vezes utilizadas
em detrimento dos interestes dos indigenas, caso da ja mencionada
Lel de Terras de 1850.
Quando realizamos uma andlise critica das fontes e das classifi-
cages nelas presentes, os irdigenas passam a ser vistos como agentes
ativos nas disputas em defesa de seus interesses, movidos por suas
proprias motivagées. Esse tipo de anilise permite entender como as
populagbes indigenas conseguiram manter seus territ6rios coletivos
através de vérias estratégiase vivencias. Ademais, tal abordagem Lhes
confere importancia e participacio no desenvolvimento da historia
de suas localidades e regides. Essa perspectiva ¢ a base da andlise dos
processos que veremos nas sees a seguir.
| Vemnos analisarum trecho de um documenta escrito pelo diretor
| de aldeamento do Ipaneraa, em Pernambuco, em 1864:
“[.] nao hd nesta missdo ind'os genuinos, porque esta raca tem-
-se de tal modo cruzado com outras, que quase todos os indios
Cipttte 3 Identidades indigenas no
existentes sio mesticos e por conseguinte a sua disperséo seré
conveniente que a sua concentracao, porque no tiltimo caso néo
abandonario a madracatia [sic] em que vivem, ¢ nem perderao
os seus maus hébitos que se irdo transmitindo de geracao em
geragio” (Osicic, 1864).
‘Ao cruzar fontes variadas sobre a historia de formacio da aldeia
€ da cidade vizinha, Aguas Belas, percebemos que o autor do,
documento suprécitado, Lourenco Bezerra de Albuquerque Ma-
ranbio, fazia parte de uma das familias mais poderoses da regiao
« que tinha propriedades vizinhas ao aldeamento do Ipenema.
Através dessa investiga¢ao, foi possivel compreender que seu pai
teve cargos politicos e militares importantes e que jd desejara se
apossar de terrenos da aldeia, tentando interferir em sua admi-
nistragio. Nio é de se estranhar, portant, que o dizeto: Lourengo
tentasse descaracterizar os fndios do Ipanema, chamendo-os de
mestigos, jd que, de acordo com as leis da época, ao nao serem
| considerados “indios genuinos’, eles nao teriam direito a posse
coletiva das zerras do aldeamento. Por isso, na perspectiva desse
diretor, era mais interessante dispersé-los do que manté-los con-
centrados na aldeia,
Por sua vez, 9s indios do Ipanema passaram a solicitar a demis-
sio de Lourengo do cargo de diretor, através de uma peticéo do
‘mesmo ano:
“Nés, abaixo assinados, indios da Aldeia de Ipanema, vimos
submissa e confiadamente perante Vossa Exceléncia representar
contra o atual Diretor parcial; e6 de Vossa Exceléncia, como n03-
so Diretor Geral eprotetornato dos infelizes curatelados, que ora
se echam em presenga de Vossa Exceléncia, podemos encontrar
remédio do mal que nos aflige,e atencao a siplica que fazemos,
€ as razdes que nos mover a pedir merecidamente a demisséo
do atual Diretor parcial deita aldeia” (ABA1x0-assiNADo, 1864).
Poresse trecho peroebemos cue osindios do Ipanema tinham conhe-
‘cimento dos trimit legais para reivindicar seus direitos:enviaram
iy
98
Ensino (d)e Hist6ea Indigena
um abaixo-assinado 20 diretor-geral da provincia e se mostraram
submissos lei, obedientes e necessitacos de protegio.
‘Ao fazer 0 cruramento ce dados, contextualizando a fonte, passa-
mos a compreender por que os indfgenas pediram a demissio de
Lourenco Maranhao do cargo de diretor doaldeamento. Também
percebemos que os indigenas nao constitufam uma populagéo
isolada, sem conhecimento da politica e da administracao do
Império, Na verdade, eles se apropriavam dos instrumentos legais
¢ administrativos, utilizanco-os da sua propria maneira para
alcangar seus interesses € objetivos,
ae Seek sane)
Estratégias indigenas diante
da supressao de seus tertitérios
Aliangas com nao indios, abaixo-assinados e peticdes foram es-
tratégias utilizadas pelos indigenas para interferir na administragio
de suas aldeias e defender seus interesses.
A imagem da mestigagem dos indios muitas vezes descrita na
documentagio da época representava as sociedades e suas tradigbes
como iméveis, rigidas e .ncapazes de softer transformagoes. sso
pode ser percebido através das classificacoes conferidas 4s pessoas
que poderiam ou ndo ter ¢ acesso as terras dos aldeamentos, pois ser
identificado como “indio” garantia 20 individuo ow ao grupo 0 uso co-
letivo desse espaco. Jd ser visto pelas autoridades e pela sociedade local
como caboclo ou “indio misturado” significava nao possuir tal direito,
No eatanto, como j vimos nas segdes anteriores, é essencial per-
ceter as transformagies das identidades e culturas indigenas através
dos processos historicos pelos quais passarara. Essas mudangas ocor-
reram devido aos contatos entre indios e no indios e entre indigenas
de grupos diferentes que passaram a viver juntos nas aldeias e vilas, 0
que resultou em mestigageas culturais e identitarias.
-Esses contatos entre indios eno indios promoveram transformagbes
nna relagéo com o ferritério, nas culturas e nas tradigdesindigenas. Diante
Ciptulo3 Identidadesindigenas no Nordeste
disso, é preciso entender a mestigagem como aspecto constitutive da
‘dentidade indigene e como resultante de processos histéricos. Pode-
“nos, entdo, questionar a ideia de “pureza” usada como modelo pelas
autoridades e pelos intelectuais do século XIX. Mesmo intensamente
transformados, esses grupos ndo deixaram de se perceder como in-
ddigenas nem de buscar 0 reconhecimento de seus direitos coletivos
sobre terras concedidas no perfodo coloniel.
A constante reelabora¢io de suas identidades e 0 dominio que
pretendiam manter sobre o territério do aldeamento dependiam da
utilizaglo de estratégias incorporadas pelos indigenas em cerca de
200 anos de contatos e relagdes. Fodemos citar como exemplo dessas
estratégias as reivindicagdesem petigdes e abaixo-assinedos que fize-
1am defendenco a manutengio de suas terras coletivas, solicitando a
demissio de dicetores ea melhoria na administracio de seu territério,
‘Também fizeram, refizeram 2 desiizeram aliangas com nfo indigenas
conforme os contextos locais de disputas politicas em busca da con-
cretizacdo de suas expectativas.
Nesse sensido, podemos afirmar que a defesa dos direitos que
possuiam sobre as terras das aldeias em situagdes de conflito con-
tribuia para reafirmar 0 sentimento de pectenca a um grupo. Com
isso quetemos dizer que a defesa de um objetivo politico comum ~ a
manttengio da aldela ~ frente as invasdes de nao indios fazia com
que os indios se sentissem como parte de uma coletividade e, assim,
construfssem e recoastrufssem sua identidade diferenciada ao longo
co tempo.
Ao compreendermos a etnicidade eas culturas indigenas de ma-
reira mais dindmica histérica, percebemos que, embora na maioria
dos casos a extingdo dos aldeamentos tenha sido inevitével, durante
‘anos elguns grupos conseguiram adiar esse processo, Hles continuaram
aviver nos espacos dos “antigos aldeamentos de indios” até o inicio
do século XX, mantendo, assim, viva sua relagio com o territ6rio,
transformando-se e adaptando-se aos novos contextos de disputes.
Para melhor compreender as estratégias utilizadas pelos indigenas
para manter seu tertitério, fez-se necessério 0 acompanhamento de
um exemplo elucidativo, como o dos indios Carnijé do aldeamento
99
100
Ensino (dje Histria Indigena
do Ipanema, noagreste pernambucano. Blestiveram seu aldeamento
extinto, mas foram o primeiro grupo aser reconhecido como indlge-
na pelo Estado brasileiro, no infcio do século XX, Assim, a parti: de
suas vivéncias, podemos ter uma perspective mais detalhada sobre as
aliangas e reivindicagdes ‘ndigenas.
‘© aldeamento do Ipanema fot extinto em 1875, como havia sido
proposto pelo relatério de 1873, Suas terras foram demarcadas em
lotes, eos posseitos receberam suas porgdes conforme a ocupacio que
reelizaram. Aos indios restaram outros lotes em menor quantidade,
tendo sido o restante das zerras considerado devoluto.
No entanto, a extingéo desse aldeamento jé havia sido solicitada
formalmente em 1861, emdecerréncia de seu suposto abandono pelos
indios. Também foi apontida como motivo para a supressio da aldeia
a farticipacao dos Carnijé em uma disputa eleitoral em Aguas Belas,
cicade que cresceu no interior da aldeia. Em dezembro de 1860, os
Carnijé tinham se aliade a membros do partido liberal em Aguas
Belas, fazendo cposigao aos conservadores nas eleigdes daquele eno.
A dispute deitoral, a alianga dos indios coms liberais ea quebra da
urna com 0s votos que dariam a vitéria aos conservadores resultou
em varios feridos, alguns mortos, alguns {ndios presos e a anulago
dacleigao.
Essa alianga interétnica entre indios ¢ liberais servi para con-
fetir visibilidade aos primeiros, Isso ocorreu devido & denominagao
de “indigena” conferida 10 grupo nos textos produzidos na época
sobre 0 acontec:mento, apontando a existéncia de elementos que os
diferenciavam da populagdo nao indigena. Embora nio saibamos 0
que exatamente motivou os Carnijé a participarem dessa disputa,
podemos perceber que eles construiram estratégies politicas para
melhor lidar com a sociedade na qual estavam inseridos e com a
realidade ra qual vivian. cotidianamente. Esse epis6dio langa luz
sobre a complexidade das relacdes entre indios e no {ndios, pois
a dlianga realizada nesse contexto de disputa politica, ao mesmo
tempo que servit para conferit visibilidade aos indigenas, também
recultou em: problemas que repercutiriam, dali em diente, diretamente
no destino da aldeia,
Cipkulo 3 Wentidades indigenas no Nordeste
Entrea solicitaggo de 1861 eaefetiva extingéo, em 1875, 0s Carnijé
interferiram na administragio das terras do aldeamento do Ipanema,
como demonstram as petigdes ¢ os abaixo-assinados entregues as
autoridades, que refletem os conflitos ocorridos com dois diretores do
aldeamento. Em 1864, 0s Carnijé encaminharam um abaixo-assinado
para o presidente da provincia solicitando a demisséo de Lourenco
Bezesra de Albaquerque Matanhio do cargo de diretor do aldeamento,
come vimos na segio anterior. No abaixo-assinado foram descritas,
algumas situacées de embate entre os indios e o referido diretor ot.
pessoas de sua familia, como acusagdes de que 0 diretor teria quei
mado “ranchos” de indios, de que nfo teria cumprido o antigo acordc
de reservar tertas para as at.vidades dos indios e de que ses tio teria
solicitado medidas para dissolver 0 aldeamento para que pudesse se
apossar livremente dos terrencs. Devido a esse quadro de perseguigae
descrito no absixo-assinado, grande parte dos {ndios teria deixado a
aldeia por causa da administragao de Lourengo Maranhio,
Esse abaixo-assinado téo significativo sobre a relagdo entre os in-
dios ¢ 0 diretorlange luz sobre algumas questoes. Em primeiro lugar, 0
documento demonstra a atuagao dos indios em relagio & administracio
de suas terras, como jé afirmemos anteriormente. Além disso, também
indica a construgio de aliangas com nao indios como estratégia dos
indigenas para alcancar seus interesses, como demonstra 0 fato de 0
documento também ser assinado por 26 ndo indios.
Outro exempla importante sobre a articulacio dos indigenas
nesse periodo é 0 oicio de 1871 enviado pelo Lider dos indios, José
Roméo de Vasconcelos, a outro ciretor do aldeamento, Adrio Ro-
érigues de Araijo, O lider informou ao diretor que a revista no
aldeamento nao poderia ser realizada. Esse tipo'de revista consistia
em uma chamada dos indios pelo nome para certificar que eles se
encontravam na aldeia. An‘es, afirmava o Ider indigena, era ne-
cessirio reunir todcs os ind’os pertencentes aquela aldeia para que
Adritio de Aratjo fosse reconhecido por eles como seu diretor. Esse
posicionamento demonstra necessidade de aprovacio pelos indios
do individuo cue fosse incumbido do cargo de diretor do aldea-
‘mento. Assim como ocorreu com Lourenco Maranhéo, a desavenca
101
12
dos indios com: o diretor Adrido Araiijo se estendia a familia deste
108 interesses sobre as terras do aldeamento, pois ele possuia um
engenho de rapadura no interior deste tersit6rio.
Esses exernplos de aliangas entre indios e nao indios e as petig6es
9s abaixo-assinados deronstram os caminhos que os indigenas ut:
Iizaram para reclamar de abusos de autoridades locais e para garantir
seus direitos sobre um territdrio que jé fora extremamente modificado,
Por meio da apropriagao de significados, simbolos ¢ também de bu-
recracia imperial, fica evidente a utilizagéo de estratégias pelos indios
para contestar agdes de diretores da aldeia ndo reconhecidos por eles
devido ao histérico de perseguigies e conflitos.
‘No momento de intensificago do processo de extingao dos alde-
amentos, varios grupos indigenas articularam maneiras de interferir
na administragio de suas terras, mesmo vivenciando fortes pressbes €
‘0 desmantelamento desses territ6rios. Nas primeiras décadas do século
XX, grupos indigenas considerados extintos conseguiram relevantes
gunhos quando o quadro politico nacional se modificou, coma criagéo
do SPI. No Nordeste, esses grupos voltaram a ser identificados como
irdigenas devido a um longo e tortuoso caminho em direcio a seu
reconhecimento pelo Estado,
Caminhos para 0 reconhecimento oficial
Oreconhecimento como “indigenas” frente ao Estado brasileiro
significou o inicio de umcaminho de reconquista de direitos sobre as
terras coletivas.
A supressto oficial das aldeias néo significou o desaparecimento
de seus habitantes, Pelo contririo, através de articulagdes entre virios
‘grupos indigenas e destes com diferentes instancias do governo, houve
um movimento pelo reconhecimento dos indigenas no Nordeste nas
primeiras décadas do século XX. Esse movimento ocorreu através
da apresentacéo das demandas indigenas sobre terras aos governos
estadual e federal. Tais demandas foram feias através de aliangas dos
indigenas com nao indios, o que, come vimosanteriormente, erauma
estratégia jé conhecida e utilizada desde o século XIX.
Captus Identidadesindigenas ro Nordeste
‘Com o recon ecimento das demandas indfgenas, pouco a pouco
foi iniciado o processo de regularizagao de suas terras. Teve inicio,
assim, uma relagao de caréter tutelar com o érgio indigenista oficial,
© SPI. O primeiro passo foi a implantacio de postos indigenas nos
espagos das antigas aldeias, que passaram a ser identificadas pela
nomenclatura de Terras Indigenas,
‘Aideia detutelaé baseada ne percepyao de que os indigenas teria
‘um conhecimento parcial ou deturpado dos padroes de conduta
“dominantes”, Segundo essa perspectiva, eles ndo seriam capazes,
de condiuzir por iniciativa propria 0 processo de assimilagio a
‘uma nova cultura, jé que possuiriam cédigos sociaise de conduta
diferentes. Além do mais, sua cultura era vista como “primitive™
A relacio ce tutela seriajustificada pele suposta necessidade dos
indigenas de serem instrsidos acerca dos cédigos de condita da
sociedade brasileira pelo drgio indigenista do Estado, Esse érgao
tutor estabeleceria uma relacio de cardter paternalists, pautade
|
ra protesio e na educagio dos indfgenas. O conceito de tutela é
alualmente muito criticedo pelos estudiosos da temtica ind{gena,
‘mas ainda € reccrrente no senso comum e em algumas praticas de
instituigdes governamentais e nfo governamentais, As idefas de
“cultura primitiva’, “cultura dominante” e de “assimilacdo”, nas
quais se baseia o conceito de sutela, devem ser problematizadas.
A propria experiéncia hist6rica indigena nas situagdes de conflito
‘em torno do uso das terres éas aldeias, como vimos até agora,
demonstra que os indigenas agiram por motivagées préprias,
em busca da realizacdo de seus interesses, embore estivessem
em uma posicao social e econémica desfavorsvel e suscetivel a
diversas press0es.
E imporiante termos em vista que o movimento pelo reconhe-
cimento de grupos indigenas ne Nordeste frente ao Es:ado brasileiro
foi um processo lento que teve lugar a partir da movimentagio dos
préprios indios, Para tanto, eles se valeram da construcio de uma rede
complexa de ajuda entre sexs diferentes grupos, que implicowa troca
103
104
Ensino (d)e HistriaIncigens
deconhecimento entre as varias populagSes indigenas dos estados do
Nordeste. Ao mesmo tempo, esses grupos apresentavam elementos
internos que mantiveram sua coesdo como coletividade.
Esse processo no ocorren sem conflitos. As disputas se deram
com maior intensidade entre os indios e os posseiros havia muitos
anos instalados nas aldeias, assim como entre eles e alguns governos
municipais ¢ estaduais, que relutayam em perceber aqueles grupos
como indigenas e, portanto, em restituir seus direitos sobre as terras. As
disputas em torno das classificacdes relativas is populagées indigenas
marcaram todo o final de século XIX e o inicio do XX.
Diante desse contexto de aliangas e de entrelacadas redes de
trocas de conhecimento, analisaremos agora 0 caso do primeiro gru-
po indigena no Nordeste a ser reconhecido pelo SPI, os Carnijé, ou
Fulni-6, como passaram aser cenominados ap6s a instalagéo do posto
indigena em suas terras.
Podemos apontar trés elementos que ajudam a compreender como
esse grupo manteve a coesdo interna, mesmo depois da desestrutura-
gaa de seu territbrio, Em primeiro lugar, 03 indigenas se organizaram
peliticamente como grugo em torno de um objetivo comum, nesse
caso, 0 acesso 4 terra coletive. Segundo, continuaram vivendo nas
terras do “antigo aldeamnento de {ndios’, mesmo apés sua extingao.
esse sentido, ndo foi qualquer pedago de terra que reivindicaram,
‘mas sim aquele onde fora estabelecida a aldeia no periodo colonial e
nc qual viveram no século XIX. Em terceiro lugar, realizavam um
ritual especifice do grupe, proibido para nao indios,
‘Apés a extincZo do aldeamento do Ipanema, habitado pelos Car-
nif, suas terrascontinuaram aser objeto de dispute entre o munic{pio
de Aguas Belas, o govern do estado de Pernambuco, posseiros in-
digenas, No inicio do sécalo XX, o prefeito de Aguas Belas concedew
o arrendamento de todo o terreno da antigaaldeia a um politico local
pdo periodo de sete anos, de 1908 a 1914. Ao final desse perfodo, 0
governador de Pernambuco decidiu pela devolugao das terras aos in~
digenas que ainda a habitavam, Esse posicionamento do governo do
es:ado contrariou o pleitc do prefeito de Aguas Belas de que esses ter-
reaos fossem arrendados 2ovamente e suas tendas fossem concedidas
Ceptule 3 Identidades indigenas no Nordeste
20 municipio, Além dessa disputa, houve uma tentativa de destruir
08 “casebres” dos indios ¢ de retiré-los do local sob a justificativa
de manutencéo da higiene piblica, j4 que, segunde depoimentos
da época, 0 ‘antigo aldeamento de indies” era um “local infecto” €
ropenso a epidemias (AUTO, 1914),
Além ds falte de higiene, das perseguigées ¢ da destruicéo dos
casebres, varias avtoridades passaram a realizar ataques também 2o
principal ritval dos Carnij, o Ouricuri, ritual de reclusio religiosa
proibido paranao ‘ndios. Devido 20 mistério que envolve essa pritica,
varias autoridades policiais da cidade passaram a acusar 0s {ndios de
enyolvimente em crimes durante 0 perfodo do ritual, chegando varias
vezes a proibir sus tealizagdo, A descri¢éo sobre esse ritual feita na
documentagio produzida por policiais demonstra que, mesmo dian:e
de proibigées expressas, os Carnijé continuaram a desenvolver seus
rituais longe do olhar curioso éos nao indios. O fato de a proibicao
ter sido feita repetidas vezes demonstra que os indios nao deixaram
de se reunir 2 de reafirmer alguns dos elementos internos que 0s
fariam manter o sentimento de coletividede.
Aqueles indios permaneceram ocupando 0 mesmo territ6rio,
Nao por coincidéncia esse espaco correspondia ao do aldeamento do
final do século XTX. Como vimos, os indgenas possufam uma relagéo
muito estreitae forte com aquelas terras. Assim, embora inseridos em
graves conflitos, os Carnijé permaneceram ocupando e habitando
‘um mesmo espago, que continuava a ser identificado como o lugar do
“antigo aldeamento de indios’, Esse territ6rio continuow a ser iden-
tificado com 0 aldeamento do Ipanema, e, por conseguinte, quem a
hhabitasse em casebres de palha, praticando o ritual misterioso, seria
identificado como indio Carnjé,
A docun:entaséo do inicio do século XX aponta para a conti-
nuidade desse grupo indigena, « despeito do discurso sobre seu de-
saparecimento, Esses indios leveram suas demandas sobre as terras
a nova instincia governamental responsével pela administragao de
seus bens, 0 SPI.
‘Os mesmas Carnijé estabeleceram uma alianga com um padre da
localidade, Alfredo Damaso. Entre 1921 e 1923, esse padre viajou a0
105
105
Ensino (de Histéa Indigena
Rio de Janeiro, onde estava a sede do SPI, para entregar solicitagdes,
reafirmando asnecessidades Cos Carn:}é relativas 4s terras do antigo
aldeamento. Solicitou também o estabelecimento em Aguas Belas do
sezvico de protecio e tutela dos indios. O padre Alfredo Damaso, a
fira de conseguir um maior apoio institucional, também entrou em
contato com 0 governador de Pernambuco, fazendo deniincias sobre
a ocupagao irregular das terres dos Cernijé. No entanto, nao obteve
resposta do governador.
‘Mesmo com o pouco, ou nenhum, interesse do governo do estado
nese momento, o primeito posto indigena aser instalado no Nordeste
fo. 0 de Aguas Belas, em 1924, para assisténcia aos Carnijé. Todavia,
a instalagio do posto e o deslocamento de funcionérios do SPI para
a cidade nfo implicaram na imediata identiicagdo ¢ demarcagio das
terras reivindicadas pelos indios. Os conflitos continuariam, a partir
deentéo, com aintermediagio do SPI e, posteriormente, da Funai no
processo de regularizagio dos arrendamentos dos posseiros,
‘Apés a instalagao do posto indigena em Aguas Belas, outros
foram estabelecidos devido & troca de conhecimentos entre os gru-
pes indigenas e & reufirraagdo de suas aliangas ou da constituigéo
de novas: em 1937 foi instalado nas terras dos Pankararu (Brejo dos
Padres, PE) e nas dos Pataxé (IIhéus, BA); em 1944, nas dos Kariri-
-Xocé (Porto Real do Colsgio, AL); na década de 1940, nas dos Truké
(Cabrobé, BA); em 1949 nas dos Atixum (Floresta, PE); em 1952,
nas dos Xukuru-Kariri (Palmeira dos Indios, AL); em 1954, nas dos
Kambiwa ([najé, PE); e em 1957, nas dos Xukuru (Pesqueira, PE).
Apesar do reconhectnento conquistado e da instalagéo de postos
indigenas em virios territ6rios, os problemas e conilitos pelas terras
dcs antigos aldeamentos nao se encerraram. Na verdade, as disputas
com posseitos emunicipics continuam até os dias de hoje. Os conflitos,
aitas vezes armados, entre indios e nao indios pelo uso das terras
so recorrentemente veiculados em diversos tipos de midie, demons-
trando a lentidio do processo de regularizagio de terras indigenas
encabegado pela Funai.
‘Tentamos demonstrar até aqui que os estudos mais recentes
sobre o periodo compreeadido entre o final do século XIX e o inicio
Captlo 3 Identidades incigeras no Nordeste 107
Figura 3. Mapa do extrto aldeamento co Ipanema, em Aguas Belss, Pernambuco, 1877
Fente: Esbogo (1877).
Essa €a plantada extintaaldela ce Ipanema, em Aguas Gelas, Pernambuco, er
1877. Nela possivel perceber a divisdo em lotes realizada apds 0 fin
do aldeamento, Atualmente essa localidade estd inserida na Terra Indigena
Fulni-d, ¢ 05 uses dedos por Indios e nfo Indios a esse teritério corresponde,
fem grande parte, a loteamento demonstrado nessa planta. Fazer a relagio
enive 0s teritérios identificados como uma aldeis no século XIX e como uma
Terra Indigera nos séculas XX « XX! é importante para compreender como
esses espacos foram transformados e aproprlados pelos préprios indigenas
« pelos posseiros ndo Indios, tornando possivel estabelecer conexdes
lene 0s processos histéricas de passado e do presente.
do XX apontam que os indigenas no Nordeste, apesar de terem sido
identificados como “misturados” e de terem seus aldeamentos extin-
tos, continuaram atuando para interferir na politica local e na forma
como as terras das aldeias sram administradas. Compreenderam as
108
Ensine (d}e HistéiaIndigena
situacdes & sua maneira, tomaram para si osaparatos da administra-
40 piiblicae construfram estratégias com o objetivo de garantir seus
direitos. Tendo em vista que esses indics nac desapareceram, mas, 20
coatririo, permaneceram ativos, é necessario ter uma visio critica
sobre as clasificages - como “nisturados’, caboclos, “indio genuino”,
“{ndio puro” - que constroem estereétipos sobre os indigenas e que
so usadas inclusive atualmente. Através de uma perspectiva histbrica,
toxna-se possivel compreender que os grupos indigenas passaram por
muitas transformagbes, aprenderam a flexibilizar suas ages e culturas
deacordo com as situagdes e relagdes que construfram e que tudo isso
faz parte de suas identidades. Com essas questdes em vista, os indios
assumem um papel ative na historia, levando-nos « reafirmar sua
importncia para a formagao da sociedade brasileire.
Sugestio de atividade 1
Professor(a), vocé pode trabalhar o video Os primetros brasileiros,
disponivel no exdereso , de acordo com suas
possibilidades e a realidade escolar, com especial atengao ao trecho
iniciado em 09min12. Ao passar o video, voce pode chamar a atengao.
dos alunos para o trecho sugerido, quando ¢ tratada a “morte do in-
dio” no século XIX e sua relagéo com a extingao dos aldeamentos no
Nerdeste. F interessante estimular o debate entre os alunos demons-
trando ques elaboracao da identidade do Bresil ocorreu nesse mesmo
periodo, como explicado no video. O debate sobre o documentirio
pode ajudé-lo(a), professor(a), a desconstrui: junto com os alunos os
esterestipos relativos aos grupos indigenas que passaram por longos
processos de misturas e a reafirmar a importancia da presenga indigena
na formacao da sociedade brasileira.
Texto de apoio para o(2) professor(a)
© documentério Os orimeiros brasileirs fol elaborado a partir
de uma visita guiada a exosigio de mesmo titulo em cartaz no Mu-
‘seu Nacional (Rio de Janeiro) entre setembro e novembro de 2009, ©
objetivo da exposicao era produzir uma narrativa sobre a importancia
Captule 3 Identidades Indigenas no Nordeste
da presenga indigena na formacio do Brasil do periodo colonial até
a atualidade, bem como desconstruir esterestipos e contribuir pera
‘uma visZo trais plural sobre o pais. Por isso, so trebalhadas algumas
‘questdes mais especificas, tais como o primeiro momento de encontro
entre indios ¢ europeus e oencantamento destes com o “Novo Mundo”,
© uso da forza de trabalho indigena, a formacio dos aldeamentos ¢
a catequese, a traasformagao das aldeias em vilas nos moldes portu-
gueses no século XVIIL
Jd sobre o século XI, & ilustrativa e didética a forma como a
“morte do indio”, ou seja, a construgao do discurso sobre seu desa-
parecimento gracual na sociedade brasileira, é construfda no video,
sendo representada por meio de pinturas, discursos politicos, obras
académicasclitersrias. Assim, torna-se possivel perceber as conextes
entre essas representages, a a¢io do governo em extinguir as aldeias
Indigenas e « formagio da imegem sobre a nacao brasileira através
das representagées do indio como her6i nacional. O indio que era
contemporaneo aesse discurso, 0 que ocupava as aldeias que conse-
guiram se mantereram vistes como degradados, mesticos, e, por isso,
serviriam ap:nas como mio de obra barata em fazendas e engenhos.
O individuo nnestigo nao serie considerado “indio puro” e, assim, nio
teria o direito as terras coletivas das aldeias,
Enquanto isso, 0 indio aliedo, que ajudara no processo de colo-
nizagdo nos séculos XVI ¢ XVII, seria eleito como representante da
nacionalidad: em construgéo no pais. F interessante perceber que, nas
charges, 0 individuo que representa o Brasil esta sempre caracterizado
com tragos que seriam “tiicamente ind/genas”, tais como 0 uso de
ppenas e outrcs materiais naturais em suas vestimentas, Conveniente-
mente, esse seria « indio do passado,
Em umanarrativa critica & imagem de inevitével desaparecimento
dos indios no Brasil edo seu opesto comoherdi nacional, o documen-
tario vai aos pouces afirmando as grandes mudances pelas quais essas
populagdes passaram devido aos intensos contatos entre indigenas
de grupos diferentes, e destes com nao indigenas. Essas mudangas
so compreendidas enquanto reelaboracdes de identidades coletivas
fazendo parte, assim, do que é ser indfgena no século KIX e também
103
no
Ensho (¢)e Histéra Indigena
1a contemporaneidade. O individao miscigenado pode ser considerado
nndfgena se assim de se identificare for identificado pelo seu grupo, por
sua coletividade, independentemente de suas caracteristicas fisicas ou
culturais, Dessa forma, vérios grupos indigenasno Nordeste passaram
a reivindicar 0 direito As suas terras coletivas no inicio do século XX,
um movimento que tem continuidade até 0s dias atuais. Esses grupos
mantiveram, de alguma forma, alguns rituais imprescindiveis para a
reafirmagio do sertimento ce coletividade, bem como z continuidade
«lo uso de espagos situados nes éreas dos antigosaldeamentos coloniais,
‘Sos poucos, os indlividuos fozam perdendo a vergonha (ou medo} de se
‘mostrarem como indios e reclamarem seus diteitos, chegando 4 arti-
culagio politica percebida nos dias de hoje na regido.
Ficha técnica
Os primeiros brasileiros
Ano: 2011
Diresdo: Bruno Pacheco de Oliveira
ecuradoria da exposigdo: Joio Pacheco de Oliveira
Laboratério de Pesqtisa em Btnicidade, Cultura e Desen-
volvimento (LACED); Museu Nacional; UFRJ.
Duragdo: 17min20
Sugestio de atividade 2
Existem duas imagens xnuito comuns em relacio aos indigenas
xno Brasil, e no Nordeste em particular: 0 indio do passado, idealizado
com caracteristicas fisicas e culturais especificas; e 0 indio do presente,
mestigado, indolente e sem terre. Os textos abaixo descrevem berm
essas duas rep:esentacdes. Por um lado, temos c indio Peri, com as ca-
racteristicas iCealizadas do povo Guarani, guer-eiro, porém submisso
20 partugués e a seu projeto colonizador. Por outro lado, temos Joao
Mundu, caboclo pernambucano, remanescente mestigo dos fndios
do pesado. Ao comparar os dois personagens, voce, professor(a),
pode orientar um debate entre osaltunos, conforme as possibilidades
de que dispoha para seu trabalho escolar, apontando as diferengas
Capitulo 5 Idersidades indigenas no Nordeste
e semelhangas entre Peri e Jodo Mundu. £ interessante essaltar que
um dos personagens, o indio Peri, era visto como uma representaco
da nagao brasileira segundo os ideais das elites intelectuais de finais
do século XIX, enquanto o outro rersonagem, 0 caboclo Joéo Mundu,
era a imagem do indio misturado, destituido de seus direitos sobre as.
terras das aldeizs. © debate sobre as duas imagens pode contribuir para
seu trabalho em sala de aula no intuito de dirimir preconceitos em
relagio as culturas e identidades indigenas transformadas ao longo de
séculos. Com isto, vocé itd ajudar aconstruir um olhar meis agucado ¢
critico entre os alunas sobre os precessos histéricos de transformagao
ereconstrugdo de identidades e culturas indigenas.
O guarani —José de Alencar
“Em pé, no meio do espago que formava a grande abébada de
rvores, encostado a um yelho tronco decepado pelo raio, via-se
‘um indi na ‘Jor da idade, Uma simples tiinica de algodéo, a que
s indigenas chamavam aimaré,apertada & cintura por uma faixa
de penas escarlates, cafa-lhe dos ombros até ao meio da perna, ¢
desenhava otalhe delgado eesbelio como um junco selvagem, Sobre
aalvura diéfana de algodio, a sua pele, cor do cobee, brilhava com
reflexos dourados; os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, 0s
| olhos grandes com os cantos exteriores exguidos pata a fronte; a
pupila negra, mébil, cintilaate; a boca forte mas bem modelada e
guamecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco aval a beleza
inculta da graga, da forca eda inteligéncia, Tinha a cabeca cingida
poruma fita de couro, a qual se prendiam do lado esquerdo duas
plamas matizadas, que descrevendo uma longa espiral, vinham
rogar com as pontas negras} pes:ogo flexivel. Era delta estaturas
tinha as méos elicadas: a perna dgil e nervosa, ornada com uma
axorca de frutos ariarelos, apoiava-se sobre um pé pequeno, mas
firme no anda-e veloz na corrida. Seguravao arco eas fechas coma
| mic direita calda, ecom a esquerda mantinha verticalmeate diante
| de si um longo forcado de pau enegrecido pelo fogo.”
(ALaNcar, [1857] 1996, p. 14)
mm
m
Ensino (d)e HistiaIndigena
“O caboclo” — Estévao Pinto
“Joao Mundu, em se acordando, cuspia, bocejava e estiracava-se,
| Quem era Joio Mundu? O caboclo pernambucano, o cruzado
| de elementos dispares c formadores, a soldagem que se diluia na
fluidez multiplice dos termos ~ cariboca, mamaluco, ‘tapanhu-
ma’, carijé... [..] Vivia entre os picumas... Seus avés, cariris ou
| sucurus, ocupavam.se em fazer 0s ar
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (347)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- As Cartas de Amarna - Apaixonados Por HistóriaDocument9 pagesAs Cartas de Amarna - Apaixonados Por HistóriaRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Uma Etnologia Dos Índios Misturados. Situação Colonial, Territorialização e Fluxos CulturaisDocument30 pagesUma Etnologia Dos Índios Misturados. Situação Colonial, Territorialização e Fluxos CulturaisRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- HygormesquitafariaDocument91 pagesHygormesquitafariaRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Davi Kopenawa Bruce Albert Queda Do Ceu Yanomamis Compressed 1Document384 pagesDavi Kopenawa Bruce Albert Queda Do Ceu Yanomamis Compressed 1Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Box 02 (Paginas 760-770)Document11 pagesBox 02 (Paginas 760-770)Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- A Queda Do Céu Compactado - Davi-Kopenawa-Bruce-AlbertDocument384 pagesA Queda Do Céu Compactado - Davi-Kopenawa-Bruce-AlbertRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- RmsilvaDocument250 pagesRmsilvaRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Livro em Busca de Um Rosto A Republica eDocument1 pageLivro em Busca de Um Rosto A Republica eRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Admin,+27740 86353 3 PBDocument16 pagesAdmin,+27740 86353 3 PBRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Box 22 (Paginas 2-7)Document6 pagesBox 22 (Paginas 2-7)Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- 608 2585 1 PBDocument30 pages608 2585 1 PBRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Texto Identidades Indígenas No NordesteDocument19 pagesTexto Identidades Indígenas No NordesteRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Nº 01 - Julho 1984 (Paginas 1-16)Document16 pagesNº 01 - Julho 1984 (Paginas 1-16)Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Fo CX 71 4506 2013Document20 pagesFo CX 71 4506 2013Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Indigenas Na Pintura de Frans PostDocument78 pagesIndigenas Na Pintura de Frans PostRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Protagonismo Indígena Mário Juruna Alini FariasDocument9 pagesProtagonismo Indígena Mário Juruna Alini FariasRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Anexo IIIDocument1 pageAnexo IIIRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- GND00027Document72 pagesGND00027Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- AVÁDocument11 pagesAVÁRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- PataxóDocument17 pagesPataxóRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Neoliberalismo No Brasil e o Processo de Privatizacao Das Empresas Estatais6112Document6 pagesNeoliberalismo No Brasil e o Processo de Privatizacao Das Empresas Estatais6112Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Fo CX 01 14 1989Document17 pagesFo CX 01 14 1989Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Historia Do Novo Mundo Da Descoberta A CDocument146 pagesHistoria Do Novo Mundo Da Descoberta A CRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Vítimas Do Milagre O Desenvolvimento e Os Índios Do Brasil (Davis 1978) (Paginas 3-106)Document104 pagesVítimas Do Milagre O Desenvolvimento e Os Índios Do Brasil (Davis 1978) (Paginas 3-106)Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Tese Fazer Mundos Destruir Mundos e RefDocument387 pagesTese Fazer Mundos Destruir Mundos e RefRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Povo Sateré-Mawé, Os Excluídos Da Discussão Sobre As Usinas Do Tapajós - Acervo - ISADocument11 pagesPovo Sateré-Mawé, Os Excluídos Da Discussão Sobre As Usinas Do Tapajós - Acervo - ISARodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- Base Nacional Comum Curricular e o Ensino de Historia Nos Anos Iniciais Do Ensino FundamentalDocument27 pagesBase Nacional Comum Curricular e o Ensino de Historia Nos Anos Iniciais Do Ensino FundamentalRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- 13228-Texto Do Artigo-54833-2-10-20230823Document28 pages13228-Texto Do Artigo-54833-2-10-20230823Rodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- A Atualidade Do Orientalismo Como Categoria de AnáliseDocument6 pagesA Atualidade Do Orientalismo Como Categoria de AnáliseRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet
- BaremaDocument8 pagesBaremaRodrigo Lins BarbosaNo ratings yet