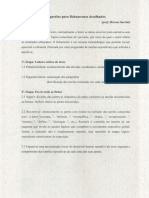Professional Documents
Culture Documents
803 2981 1 PB PDF
803 2981 1 PB PDF
Uploaded by
Dya Arn0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views17 pagesOriginal Title
803-2981-1-PB.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views17 pages803 2981 1 PB PDF
803 2981 1 PB PDF
Uploaded by
Dya ArnCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 17
RELACAO COM O SABER
E COM A ESCOLA ENTRE
ESTUDANTES DE
PERIFERIA*
Bernard Charlot
Education, Socialisation et Collectivités Locales (ESCOL)
Université Paris Vill
Tradugao: Neide Luzia de Rezende
RESUMO
Neste artigo comparo uma pesquisa feita numa escola secun
dria de porforia com outa reaizada com bons alunos de uma
escola de cientela “mais favorecida™. Como pensar, a0 mesmo
tempo, a singuiardade das hisiérias escolares © @ correlacio
estatisica entre fracasso escolar e origem social? A pesquisa
59 concentra no significado que a escola tem para os alunos ©
no préptio fato de aprender. Tenta identificar os processos que
estruturam a histéria escolar dos jovens: mobiizagao na escola
© em relacéo A escola, processos ~ epistémicos". Mostra que
uma histéria escolar nunca 6 vivida por antecipacio, quo os |o
vens dos meios populares pensam a escola em termes de futuro
mais do que de Saber © que aprender nfo apresenta um sentido
univoce.
RELAGAO COM O SABER — RELAGAO COM A ESCOLA —
ESTUDANTES CARENTES
ABSTRACT
THE RELATIONSHIP TO KNOWLEDGE AND SCHOOLING
AMONG STUDENTS IN THE PERIPHERY. This artide
‘compares @ study done in a secondary school in the urban
periphery with another realized among good students in a school
{or “more favored” clients. How to simultaneously conceptualize
the singularity of schooling histories and the statistical correlation
between schoo failure and social origin? The study concentrates
fon the meaning of school for students and the fact of teaming
itso It ties to identity the processes which structure the
schooling history of the youngsters: mobilization in the school in
lation to school, and leaming processes. it shows that
schooling history Is naver lived in advance, that youngsters from
poorer environments think of school more in terms of the future
than in relatioship to knowledge, and that learning represents no
single meaning
* Este texto fol publeado pola primeira vez pelo Institut de Recherche sur les Sociétés Contemporaines, n.11-2, L'Harmattan, 1982,
com 0 titulo “Rapport au savoir el rapport 2 Técole dans deux collages de banlieue"
Cad. Pesq., Sao Paulo, 1.97, p.47-63, maio 1996
47
Que significado os adolescentes dos meios populares:
atribuem ao fato de ir a escola e aprender coisas?
Qual é sua relago com 0 saber e com a escola? Esta
6 uma questo central na pesquisa realizada durante
tr@s anos em duas escolas secundérias’ da regiao pa-
risiense (Charlot, Bautier, Khon, Rochex, 1992), cujos
resultados apresentamos aqui?.
A sociologia da educagao na Franca dedica um
grande espaco a questéo do fracasso escolar de jo-
vens de origem popular, mas tem se interessado pou-
co pela relagdo desses jovens com a escola e com
© saber. J. Beillerot, fazendo um levantamento dos
trabalhos a partir da’ nogdo de relagéo com 0 saber,
retira tal nogao dos escritos de psicanalistas da escola
lacaniana, de psicossocislogos e de “sociofomadore
B. Charlot e M. Lesne — de inspiragdo marxista (Bell-
lerot et al., 1989). Esses socioformadores pertencem
‘20 campo’ das ciéncias da educago mais do que
quele da sociologia no sentido estrito do termo, uti-
lizam a nogao de relagao (social) com o saber numa
perspectiva mais heuristica que demonstrativa. Quer
dizer, uma pesquisa sobre a relacéo com o saber
deve hoje decifrar um terreno pouco explorado e, por-
tanto, construir seus instrumentos conceituais em vez
do recolher dados. A pesquisa aqui relatada no po-
dia, portanto, confrontar um corpus sociolégico coe~
rente com dados de campo. Assim, procede-se, na-
quilo que 6 essencial, a construgao’ ou, pelo menos,
‘a0 esbogo de uma teoria “enraizada” nos dados, no
sentido de Glaser e Strauss (grounded theory) (Glaser
@ Strauss, 1967). Uma teoria enraizada 6 “uma teoria
que 6 descoberta e construida progressivamente, em
relagdo estreita com uma analise intensiva dos dados’
(Gtrauss, 1987). Ela constr6i categorias de inteligibili-
dade que permitem integrar os primeiros dados © que
parecem ter um poder explicativo; recolhe novos da-
dos para validar as categorias assim construidas; es-
tabiliza-se quando parece ter atingido um ponto de sa-
turagdo: novos dados nao trazem mais nenhuma con-
tribuigdo & teoria.
Nossa pesquisa se insere nesse processo @, por
tanto, deve ser entendida em relagdo as questdes co
locadas e aos dados recolhidos mais do que em re-
lag&o as teorias ja existentes sobre 0 fracasso esco-
lar. Esse processo, por sua vez, ndo se insere numa
categoria empirica. Por um lado, essa pesquisa pre-
tende conceituar ¢ teorizar, por outro, tenta repensar
© préprio modo como se trata a questo do fracasso
escolar. E preciso, portanto, situar as questées © 0
proceso utiizado' com relagao as grandes orienta-
ges da sociologia do fracasso escolar, mesmo se —
epetimos — nossa pesquisa nao vise aplicar concei-
tos sociolégicos existentes a um terreno de pesquisa,
QUESTAO E PROBLEMATICA
Os socidlogos mostram claramente que existiu, nos
anos 60 e 70, uma correlagao estatistica entre a ori-
gem social dos alunos e seu sucesso ou fracasso es-
colar. Parece que nada mudou apés a abertura do en-
48
sino secundétio © que a “reprodugao" perdura: a di-
ferenciagdo social simplesmente se deslocou do aces-
's0 a0 ensino secundario para a entrada em determi-
nada area, seo, oppo desse ensino (Althusser,
1970; Bourdieu Passeron, 1970; Baudelot © Est
blet, 1971; Bowles Gintis, 1976).
Essas teorias da reprodugo tomaram formas di-
versas, muito conhecidas, e nao é 0 caso de resumi-
fas aqui. Quaisquer que sejam essas formas, elas so
problematicas em varios pontos. Elas no permitem
conhecer bem os casos marginais: criangas de fami-
lias “desfavorecidas” que, apesar de tudo, ainda ob-
tém sucesso na escola (e, reciprocamente, criangas
de familias “favorecidas” que fracassaram, mas tem
possibilidades de recuperacao ou vias de salvagao se-
‘cundarias). Se, afinal, 6 facil mostrar porque nao é to
surpreendente que as criangas de meios populares
fracassem, ficamos sem explicagao diante daquelas
que obtém sucesso.
De uma maneira mais geral, essas teorias deixam
fora de sou campo a histéria singular dos alunos no
sistema escolar (encontros, acontecimentos etc.). Ora,
parece-nos essential levar em consideragao essa sit
gularidade, ndo apenas para compreender as possi-
bilidades de casos marginais mas também para dar
fa conhecer formas moderas de desigualdade social
no terreno escolar.
‘A questo da singularidade néo é tratada por
L. Althusser, C. Baudelot e R. Establet, S. Bowles ©
H. Gintis. Entretanto, P. Bourdieu considera-a funda-
‘mental quando escreve sua teoria do habitus (Bour-
dieu, 1972). Como praticas aparentemente individuais,
livres, néo-sistematizadas, nao-coordenadas, podem
produzir esses efeitos de estrutura que os trabalhos
estatisticos registram? P. Bourdieu responde a essa
questo propondo o conceito de habitus: as préticas
individuais trazem a marca da origem social & medida
{que so organizadas por um habitus que & ele préprio
estruturado pelas condigdes sociais da existéncia,
Mas falta compreender como esse habitus se constr6i,
qual a sua génese. O habitus & “explicativ” mas sob
1. No sistoma de ensing francés, 0 curso primavio tem 5 anos
f abrange 0 timo ano do que equivale & nossa pré-oscola
© as 4 séries seguintes do 1® grau. O curso secundério tem
8 anos e 6 divdido em 2 etapas: 0 “coldgio", com 4 série,
{que correspondem as nossas 5 — 6" séries, © 0 “icau’
‘com 3 sérles, equivalentes as respectvas séries do 2° rau
ro Brasil. Para facitar a compreensio, nos reportaremos &
rnomenclatura brasisia. (Nota da ediggo.)
2 Este artigo se fundamenta numa pesquisa levada a cabo
pela equipe Education, Socialisation et Colectivtés Locales
{ESCOL), Departamenio de Ciencias da Educacto, Univer
sidade Paris Vill, sob a degdo de B. Chariot. A pesquisa
foi financiada polo Fundo de Agdo Social para os trabalha-
{ores migrantas e pela Direction de la Population et des Mi-
‘ations. Sera apresentado aqui apenas 0 aspecio da pes-
{quisa relacionado as escolas secundarias: a pesquisa tem
ainda uma oulra vertente, volada para a escola priméria ©
para es préticas de ensino, além de um estudo exploratsrio
Sobre a moblizagao escolar das familias,
Rolagéo com o saber.
condigao de que ele préprio seja “explicado” (Barthez,
1980).
Por outro lado, as teorias da reprodugao nao dao
muita importancia &s praticas de ensino nas salas de
aula e as polticas especiticas dos estabelecimentos
escolares. Ora, nao importa qual soja a correlagéo en-
tre origem escolar e aprendizagem, 6 dificil pensar
que as poliicas © as préticas pedagdgicas nao pro-
duzam nenhum efeito sobre 0 sucesso ou 0 fracasso
dos jovens. Pesquisas recentes, as quais nos reme-
teremos, como a avaliagéo padronizada na 2° @ na
5? série, realizada pelo Ministério da Educagao nacio-
nal, mostram, ao contrério, o efeito diferenciador des-
sas politicas 'e dessas praticas.
Enfim, essas teorias reduzem a insttuigéo escolar
‘a.um espago de diferenciacao social, esquecendo que
cela 6 também um espago onde os jovens se formam,
onde 0 saber se transmite. A escola néo € pura
simplesmente uma maquina de selecionar, que se
pode analisar sem dar importancia as atividades que
ali se desenvolvem. Ela 6 uma instituicdo que preen-
che fungées especiticas de formagao ¢ que seleciona
jovens através dessas atividades especiicas. Dessa
forma, a andlise socioldgica da escola deve integrar
2 questo do saber e de sua transmissdo — 0 que
6 raramente 0 caso na tradigao sociolégica francesa.
Nossa problematica 6 muito diferente daquela das
teorias da reproducao, embora, 6 claro, compartihe-
mos a idéia de que a relagdo entre origem social ¢
sucesso ou fracasso escolar continue sendo um fato
essoncial de que toda a teoria do tracasso escolar
deva ser levada em consideragao. Mas inclusive esse
fato deve ser explicado: de onde vem tal correlagao,
J que as historias escolares aparecem como singu:
lares? 0 fracasso escolar, portanto, se constréi numa
hist6ria singular e 6 mais frequente entre as criangas
de familias populares: 0 que 6 preciso compreender
6, portanto, 0 fracasso individual de individuos que
pertencem macigamente as mesmas categorias so-
Ciais.
Tal compreensao nao 6 possivel se ndo se levar
em conta a singularidade das histérias © se se pro-
jetar no individuo caracteristicas estabelecides através
de andiise de uma categoria socioprofissional, de uma
classe social, de um grupo ou através de referéncia
20 “ambiente” ou “meio”. Embora o individuo se cons-
trua no social, ele se constréi como sujeito, através
de uma histéria, no sendo, assim, a simples encar-
rnago do grupo’ social ao qual pertence. Assim como
ele no & 0 simples resultado das “influéncias” do
“ambiente”: um elemento da situagéo que a crianca
Vive (uma pessoa, um simbolo, um acontecimento...)
6 ird influencié-la se fizer sentido para ela, de modo
que “a influéncia” © 0 “ambiente” sao relagdes @ ndo
causas (Rochex, 1992).
Consideramos também que 6 preciso colocar a
questo do significado antes da questéo da compe-
tncia. Quanto primeira, nao se trata de: “que ca-
Pacidades especifica, social e culturalmente constr
das caracterizam as criangas das familias favorecidas
€ aquelas das familias destavorecidas?”, € menos ain-
Cad. Pesq., 0.97, maio 1996
da de “o que falta as criangas das familias populares
para que obtenham sucesso na escola, quais séo
seus handicaps socioculturais?”. A questéo 6: que
sentido tem para a crianga 0 fato de ir & escola © de
aprender coisas, 0 que a mobiliza no campo escolar,
© que a incita a estudar? Nao que a questo das
Ccompeténcias nao seja importante: a escola, como
dissemos, tem por fungao especitica formar a crianga,
permiti-ine se apropriar dos saberes. Mas a crianga
86 pode se formar, adquitir esses saberes, obter su-
cess0, se estudar. E ela s6 estudard se a escola ©
© fato de aprender fizerem sentido para ela. A ques:
to do sentido deve portanto preceder a da compe-
tancia (que sentido 0 fato de ir @ escola tem para a
crianga?) © permanecer presente durante a aquisicao
de competéncias (para uma ctianga, 0 que significa
aprender’, ‘estudar"?)
Enfim, acreditamos que uma andlise do sucesso
@ do fracasso escolar ndo pode considerar como in-
significantes nem o fato de que a instituigéio escolar
tem como fungao especitica transmitir saber aos jo-
vens, que ela se pensa como tal e se organiza para
esse efeito, nem 0 fato.de que a historia escolar dos
jovens se desenvolve em estabelecimentos escolares
@ através de praticas pedagégicas cujas politicas e Ié-
gicas devem ser interrogadas. A relacao com a escola
do 6 apenas relacdo com uma instituigao abstrata
mas também relagao com um estabelecimento, uma
classe, professores... que objetivam transmitir saber
‘aos alunos.
© conjunto de nossas questées é sintetizado na
nogao de relagao com o saber. Em 1982, definiamos
‘a relagéio com 0 saber como “o conjunto de imagens,
‘expectativas e julgamentos que se referem ao mesmo
tempo ao sentido e & funcalo social do saber e da
escola, a disciplina ensinada, a situagdo de aprendi-
zagem e a relagéo em si mesma’ (Charlot, 1982).
Hoje, definimos a relagao com 0 saber como “uma re-
lagdo de sentido, e portanto de valor, entre um indi-
viduo (ou um grupo) e os processos ou produtos do
saber” (Charlot et al. 1992). Pensamos que seja tt
istinguir @ articular as relagdes de identidade e epis-
témicas com 0 saber. A relacao com o saber se en-
raiza na prépria identidade do individuo: questiona
seus modelos, suas expectativas em face da vida, do
futuro, do oficio futuro, da imagem de si mesmo e das
suas relagdes com as figuras parentais... Falamos en-
to de relagao de identidade com o saber. Mas 0 que
esta em jogo na relacdo com o saber é também a
propria natureza do ato de aprender: aprender é se
apropriar do saber, construir um sentido, saber como
se conduzir em qualquer circunstancia, cumprir suas
obrigagdes profissionais de escolar...? Ai, entéo, fala-
mos de relacao epistémica com o saber.
‘A questo da singularidade das histérias escola-
res, a questao do significado, dos processos que pro-
duzem efeitos diferenciados no espago da sala de
aula ou do estabelecimento, e — mais raramente na
Franga — a questo dos saberes foram objeto de
pesquisas anteriores, mas raramente elas foram tra-
tadas em conjunto.
49
Muitas pesquisas se debrugaram sobre 0 proble-
ma da mobilizagdo dos jovens de familias populares
em relagaio & escola. Nos Estados Unidos, John Ogbu
mostra que, contrariamente as teses dominantes, os
jovens negros e suas familias dao uma grande impor-
tancia & escola, pois ela permite o acesso a uma boa
profissdo e a uma boa situagao social (Ogbu, 1974,
1978). Se eles ndo estudam @, em conseqiiéncia, néo
obtém sucesso, ¢ porque tém consciéncia do job cel
Ting (a barreira que impede alcangar um emprego de
um certo nivel}; por que, entéo, estudar jé que numa
"sociedade de castas” 0 sucesso escolar do permite
aos negros ter acesso aos empregos que, em princi-
pio, ela admite? Na Gra-Bretanha, Learning to labour,
© célebre livro de Paul Willis (1977), analisa a relacdo
dos lads com a escola, quer dizer, dos “repre-
sentantes" da tradicional classe trabalhadora inglesa.
Na Franca, mais recentemente, Zaihia Zoroulou mos-
trou na sua tese a importancia do estudo das traje-
t6rias @ dos projetos de familias argalinas (que retor-
naram &, ou se instalaram na Franga) para compreen-
der os casos atipicos de sucesso escolar dos jovens
provenientes da imigragéio argelina (Zeroulou, 1985,
1988). Essas pesquisas sao interessantes para nosso
objetivo & medida que tentam compreender o alcance
da mobilizagao om relagao a escola. Mas elas nao se
voltam para 0 que se passa na classe (para a mobi-
lizagao na escola) e nao se interrogam sobre a rela-
40 dos jovens com o proprio saber.
Outros trabalhos, ao contrério, se concentraram
no estabelecimento escolar e na sala de aula, Na
Gra-Bretanha, as pesquisas etnograficas colocam a
questo do significado e do ator, e permitem com-
preender melhor © que acontece nas salas de aulas
(Woods, 1979; Delamont, 1983; Charlot, 1989). Entre-
tanto, elas tampouco colocam a questéo do saber, €
negligenciam o fato de que o aluno é também um in-
dividuo preso a relagdes sociais mais amplas que as
interagdes em dada situagao, Na Franca, varios so-
clélogos mostraram que 0 estabelecimento escolar
participa da construgao do sucesso ou do fracasso
que existe um “efeito estabelecimento” (Léger @ Tri-
pier, 1986; Duru-Bellat, 1988; Duru-Bellat e Mingat,
1988; Derouet, 1988 © 1991). A classe é menos fre-
giientemente estudada do que o estabelecimento. En-
tretanto, Régine Sirota, em L’Ecole primaire au quoti-
dien (1988), mostrou que se a escola beneficia em
primeiro lugar os filhos de profissionais de nivel su-
perior, ela funciona essencialmente segundo as nor-
mas € os valores das classes médias. Esses traba-
hos contribuem para tomar inteligivel aquilo que se
Passa na escola e na classe, mas nao se interessam
ela questdo da singularidade das histérias escolares
nem pela do saber.
Por muito tempo o individuo sé existiu na socio-
logia francesa contemporanea como individuo racio-
ral, calculando custos, riscos e beneficios, como figu-
ra importada da economia liberal clssica que é a pré-
pria negago do individuo singular portador de histéria
50
€ de subjetividade (Boudon, 1973). A questdo da si
Gularidade 6 hoje muito mais considerada. Assim, J.-
P. Terrail (1984, 1990) estuda a relagao das familias
operdrias com a escola, mostra que esta 6 uma “me
diagao essencial das fileiras operdrias’ @ analisa a
historia dos “transfugas", esses jovens de origem po-
pular que, gragas escola, ultrapassam a barreira de
classe © Se instalam em territério estrangeiro,
A questo do saber 6 sé um pouco menos es-
tranha a sociologia francesa do que a da singularida-
de. Enquanto os britanicos desenvolveram uma socio-
logia do curriculum (Forquin, 1989), os franceses pro-
duziram pouco nesse campo. Citemos, entretanto, al-
guns trabalhos de Viviane Isambert-Jamati (1990) ©
de Lucy Tanguy (1983, 1983a), assim como um te
conte relatério de pesquisa de Régine Sirota, em co
laboragéo com Michéle Grosbois, bidloga, ¢ Graciela
Ricco, psicopedagoga (Grosbois, Ricco, Sirota, 1988)
E a articulagao de histérias singulares @ de rela-
Bes sociais, de situagdes escolares © de mobilize
62s familiares e socials, da questo do saber e das
felagées sociais, que a nogéo de relagao com 0 saber
tenta pensar. Foram os psicdiogos © nao os sociélo-
gos que colocaram essa exigncia seus primeiros
fundamentos: L. S. Vygotsky @ A. Leontiev, pela dis-
tingao-articulagio que fizeram entre signficagao (so-
cial) © sentido (pessoal) @ pela teoria da atividade,
que € definida como aquela que & sustentada por um
mobil e visa a realizacdo de um objetivo através de
operagées eficazes (Vygotsky, 1985; Leontiev, 1984;
Fochex, 1992). A relagao com’a escola e com 0 saber
6 uma relagao de sentido engendrada e alimentada
pelos mébiles que se enraizam na vida individual ©
Social, mas 6 também relagdo com um saber que a
crianga, para se formar, deve se apropriar de maneira
eficaz. Se a tooria esquece que a relagdo com 0 sa-
ber langa suas raizes no social, ela sucumbe a inge-
ruidade “meritocratica’. Mas quando a sociologia des-
conheco a fungao specifica da escola de transmissao,
do saber, ela analisa uma instituigao que previamente
se esvaziou de sua substancia e corre o risco de cair
‘num relativismo impotente.
METODO E METODOLOGIA
As sociologias da reprodugao criam inteligibilidade
mostrando @ homologia entre estruturas, a correspon-
éncia entre as diferentes partes. Mas sao a desigual-
dade estrutural da sociedade e as formas de articu-
lagaio entre 0 social e 0 escolar que acabam, dessa
forma, se tornando mais inteligiveis, mais do que 0
que acontece nas situagdes escolares @ nas histérias
dos jovens.
Ora, é precisamente “o que acontece” nessas his-
torias e nessas situagdes que procuramos compreen-
der. Para isso, 6 preciso renunciar a pensar o fracas-
so escolar em termos de handicaps e praticar uma
Sieitura positive” da realidade. Nao procuramos esta-
belecer aquilo que falta numa situagao ou numa his-
Relagdo com o saber...
toria, mas compreender sua légica, génese, forma de
racionalidade®.
Praticar uma “leitura positiva” da realidade social
e escolar 6, em termos mais tedricos, tentar identiicar
0s processos que estruturam essa realidade. Um pro-
cesso & “o que acontece” quando, numa determinada
situagao, um individuo, uma instituigéo, um sistema,
se transforma, sem que essa transformagao resulte
de uma determinacdo causal linear, cujo efeito pode-
tia ser previsto a priori. Um processo produz, no tem-
po, um estado que pode ocorrer, sem que, entretanto,,
soja necessério, um processo que 6 possivel mas nao
inelutavel: a qualquer momento, 0 processo pode pa-
rar, bifurcar, se inverter. Compreender um proceso,
6 compreender que uma transformagao néo é 0 efeito
de um determinismo nem de um imprevisto.
Isso implica que pensemos em termos de plura-
lidade construtiva @ nao de linearidade dedutiva. O es-
tado inicial de uma situagao 6 caracterizado por uma
pluralidade de elementos heterogéneos: sexo, paren-
tes, origem étnica, amigos, histéria anterior, imagem
de ‘si mesmo, identidade pessoal e social, competén-
clas sociais, cognitivas, de linguagem, expectativas
projecdes no futuro, modelos de referéncia etc. Cada,
um desses elementos faz mais ou menos sentido para
0 individuo, ¢ mais ou menos ligado aos outros. Os
elementos ligados podem ser reunidos pelo pesquisa-
dor numa “constelagao", sendo que o peso de cada
elemento e a configuragao da constelagao podem mu-
dar no préprio curso do processo: 0 processo é essa
propria dinamica, 6 a dindmica de uma constelagao
de elementos.
Para identificar os processos que estruturam as
histérias escolares, néo podemos partir de variéveis,
consideradas_ em principio como pertinentes: 0 que
esta em questi é precisamente saber quais varidveis
so pertinentes para dar conta do que se passa numa
situagao ou numa histéria escolar. Trabalhamos, por-
tanto, a partir de classes ‘reais’ (quer dizer, objetos
construidos pela instituigao escolar @ no pelo pesa|
sador) @ histérias escolares singulares. Somente a
posteriori poderemos eventualmente construir “tipos
ideais" no sentido de Max Weber, a partir de conste-
lagdes que identificamos. Da mesma forma, percebe-
remos que 0 estatuto cientifico da singularidade ndo
6 0 mesmo quando se trata de identiicar processos
ou trabalhar com categotias representativas: um pro-
cesso pode ser identificado, de maneira valida, a par-
tir de um caso singular. Somente quando queremos
atribuir uma constelagdo “tipica-ideal" a uma popula-
40 definida de maneira classica (por exemplo, aos
meninos escolatizados nos colégios da periferia nor-
te), serd preciso levar em conta a frequéncia dessa
constelagao.
Quais so nossos instrumentos de pesquisa?
Na pesquisa nas escolas, utllzamos “inventarios de
saber’ e entrevistas semidirigidas aprofundadas.
© inventario de saber 6 um instrumento que in-
ventamos e fomos melhorando pouco a pouco. A idéia
Cad. Pesq., n.97, maio 1996
basica 6 fazer um inventério de saber, assim como
se faz um checkup de sade ou uma reviséo de um
automével. Usamos esse instrumento na escola se-
cundaria, mas também na escola elementar (com al-
guns resultados desde o fim da pré-escola e resulta-
dos bastante interessantes a partir da 3* série do cur-
so primario). O instrumento 6 particularmente adequa-
do & 8° série, que se presta bem a um inventério des-
se tipo.
Na escola secundaria, 0 modelo de pergunta que
‘empregamos mais frequentemente foi o seguinte: “Te-
fnho ..... anos, Aprendi coisas em casa, na cidade,
na escola e em outros lugares. O que para mim é
importante em tudo isso? E agora, 0 que espero”.
Esse modelo obriga 0 aluno a fazer escolhas, ¢ 0
convida a explicité-las. O inventario néo nos diz, por-
tanto, 0 que 0 jovem aprendeu, mas o que faz mais
sentido para ele naquilo que aprendeu. E isso é, pre-
cisamente, 0 que nos interessa, j4 que trabalhamos
com a relagao do aluno com a escola e com o saber.
Os alunos produzem esse inventério em classe a pe-
dido de um de seus professores: 0 que certamente
no deixa de ter um efeito naquilo que escrevem. Mas
se existe um caminho metodolégico, ele beneficia a
pesquisa em vez de prejudicé-la: é precisamente a re-
lag&o com o saber, da qual o aluno 6 portador quando
est na escola, o que nos interessa em primeiro lugar.
Como se apresentam os inventérios de saber?
Eles podem assumir diversas formas. Alguns sao in-
ventatios, cujo tamanho varia de apenas algumas li-
nhas a mais ou menos uma pagina: em casa aprendi
a comer, a falar, a correr, a lavar louga, a conhecer
pessoas, a mentir, a fazer asneiras... Outros se apre-
sentam como relatos mais ou menos longos (uma ou
duas paginas): os primelros aprendizados na famil
0s aprendizados escolares, série por sétie — mas, as
vezes, também, o relato de suas mais belas fétias ou
de um aborto. Outros ainda assumem a forma de uma
argumentagao geral sobre o saber, acompanhada de
uma posigao do aluno no campo do saber — podendo
atingir um total de trés ou quatro paginas. A diversi-
dade de construgéio desses textos torna possivel uma
analise das praticas de linguagem, notadamente dis
cursivas, que traz informagdes preciosas sobre a re-
lagdo desses jovens com o saber.
Trabalhamos numa escola secundaria da Zona de
Educagao Prioritaria (ZEP) de Saint-Denis, na periferia
norte de Paris. As ZEPs retnem escolas que recebem
populagao de baixa renda para a qual sao dirigidos
procedimentos especiais, voltados para 0 desenvolvi-
mento social de bairros. Essa ZEP & um bols’o de
doze mil habitantes; 6 circundada por um canal, uma
auto-estrada e uma ferrovia. Compreende: um baitro
antigo, em que velhos conjuntos habitacionais foram
constantemente restaurados por portugueses, que ai
3 No nagamas que existem lacunas no saber @ nas compo:
‘encias dos alunos que fracassaram, mas Insistimos que para
‘compreander essas lacunas é preciso antes se interrogar so:
bre aquilo que faz sentido no fato de ir & escola e aprender
5st
vivem em grande niimero @ ha muito tempo; uma vila
construida nos anos 1960-70 no lugar de uma das
maiores favelas da regiao parisiense, onde se encon-
‘ram muitos imigrantes do Norte da Africa (sobretudo
argelinos) e, ha alguns anos, negros afticanos; uma
outra pequena vila e um condominio. A escola onde
‘rabalhamos apresenta caracteristicas habituais dos
estabelecimentos ZEPs: no fim da 6" série, 58% ape-
nas dos alunos passam para a 7%; no fim da 8, s0-
mente 44% conseguem entrar no segundo grau aca-
démico e 44,5% na escola profissionalizante, Mais ou
menos a metade dos alunos sao de origem estran:
geira. Em 1989, os alunos que terminaram a 4° série
primaria pertenciam a 140 famflias; levando em conta
‘as familias monoparentais, os pais sao em nimero de
422: um executivo de nivel superior, 22 funcionarios,
78 operdrios, vinte desempregados ou invalidos. Es-
‘ses pais séo operérios no setor industrial ou artesa-
nal: pedreiros, bombeitos, serralheiros, marceneiros,
motoristas de entrega, agentes dos transportes publi
cos, da companhia ferrovidria, dos correios, de hos-
pitais... A metade das maes ndo tem profissao, outras
maes cuidam de criangas, trabalham como emprega-
das domésticas ou faxineiras, algumas séo operdrias
ou funciondrias. Recolhemos nessa escola 162 inven-
tarios de saber, om sete classes da 5* & 8*, centrando
nossa pesquisa na 8 série,
Comparamos esses dados aos redigidos numa
escola secundiria da periferia sul de Paris, Massy-Pa-
laiseau (170 inventarios, igualmente da 5* & 8 séries)
Ese estabelecimento recebe alunos que residem em
bairros muito diferentes: conjuntos habitacionais, pe-
quenos edificios de trés ov quatro andares, grandes
prédios de quatorze andares uma vila que, embora
bastante pequena, apresenta as mesmas caractoristi-
cas daquela da ZEP de Saint-Denis. As profissdes
dos pais refletem bastante heterogeneidade; so en-
genheiros, professores, executivos, técnicos, mas
também funcionérios, operdrios qualificados, especia-
lizados, desempregados. A escola atende, ao mesmo
tempo, bons alunos, em geral provenientes de familias
bem favorecidas (principaimente na 8* série, opcdo
alemao) e alunos em dificuldade vindos da vila e per-
tencentes a familias populares (principalmente na
classe fraca, em que somente sete alunos em 22 —
sete garofas — passardo para o 2° grau); comparan-
do-se as duas escolas, verifica-se, dessa forma, que
pode ser feita uma outra comparacéo interna no co-
légio de Massy.
‘Ademais, realizamos entrevistas aprofundadas
com certos alunos. Em Saint-Denis, fizemos nove en-
trevistas: com dois rapazes @ sete mogas, sendo cin-
co francesas (das quais uma antifhana) ¢ quatro es-
trangeiros (da Africa do Norte © portugueses). Cinco
‘so bons alunos, sendo um com graves problemas de
disciplina, um outro muito bom @ dois fracos (esco-
themos sobretudo bons alunos, pois nos interessamos
pelos casos atipicos de sucesso).
Em Massy, realizamos 22 entrevistas: sete em 8*
série, opgdo alemao (sels franceses, um tunisiano;
seis bons alunos e um “fraco’) e quinze na 8 mais
2
fraca (sete franceses, sendo dois de origem estran-
geira © uma da lle de la Réunion, e oito estrangeiros;
seis bons alunos @ nove fracos)*
Com excego da jovem tunisiana da 8* série A
de Massy, cujo pai 6 operdrio, a origem social desses
alunos entrevistados corresponde a “norma” da clas-
‘se: popular em Saint-Denis @ na classe fraca de Mas-
sy, favorecida na 8 série, opeao alemao de Massy.
Os inventérios foram objeto de uma anélise qua-
litativa por temas, de uma exploragao quantitativa ©
de uma andlise qualitativa em termos de praticas de
linguagem.
‘A anélise qualitativa dos inventatios @ das entre-
vistas permitiu extrair os temas mais evocados pelos
alunos. Nao era somente a frequéncia desses temas
‘que nos interessava mas também suas co-ocorréncias
nos mesmos textos (inventérios ou entrevistas). De
fato, o objetivo da anélise, ndo esquegamos, néo é
caracterizar esta ou aquela populagao de alunos em
rolagdo a frequéncia dos temas lembrados, mas iden-
tificar processos a partir de constelagdes de elemen-
tos que aparecem regularmente associados. Uma pri-
meira andlise permitiu construir hipsteses de interpre-
tagio, que em seguida foram trabalhadas de maneira
sisteméltica por releituras de inventérios @ entrevistas
A andlise © elaboracao das hipdteses se concentra
ram inicialmente nos dados recolhidos na escola de
Saint-Denis, e s6 depois trabalhamos sobre os dados
de Massy, cuja comparagéo nos permitiu validar e,
muitas vezes, tornar mais precisas nossas hipéteses.
Acrescentomos que, paralelamente, faziamos uma ex-
ploracao quantitativa do corpus constituldo pelos in-
ventarios e uma andlise em termos de préticas de lin-
guagens. As hipéteses formuladas a partir de cada
um dos tr€s tipos de andlise eram retomadas nos dois
outros tipos. © objetivo era construir conceitos e pro-
postas tedricas validadas por varias abordagens me-
todolégicas.
Os inventétios foram também objeto de uma ex-
ploragao quantitativa. Esta se concentrou em apenas
258 inventarios, isto 6, aqueles escritos em resposta
‘a modelos de pergunta comparaveis. As aprendiza-
gens lembradas foram tratadas de maneira classica:
construgéo progressiva de uma grade (estabilizada
depois da exploracdo dos inventarios de Massy, para
poder trabalhar sobre uma grade tinica), codificacao,
interpretagSes a partir de porcentagens. A grade é
composta de categorias que séo, as vezes, divididas
‘em subcategorias, eventualmente reagrupadas. Raci
cinamos essencialmente a partir de trés grandes rea~
grupamentos: aprencizados ligados a vide cotidiana
(tarefas familiares, conhecimentos especificos, lazer e
atividades lidicas); atividades intelectuais e escolares,
aprendizados de relagdes pessoais e afetivos e liga~
dos ao desenvolvimento pessoal. Quanto ao nivel es-
colar (bom aluno ou aluno fraco, em qualquer tipo de
4 As enivevistas foram realizadas por JY. Rochex em Saint
Denis, por R. Escarras @ ML. Lacaze, em Massy, no con-
toxto de seus estudos para obtengzo do Diploma de Estudos
‘Aprofundados.
Relago com o saber.
classe) e a origem étnica, trabalhamos “as cegas" as
hipéteses foram construidas © os primeiros resultados
foram formulados sem conhecimento desses dados
(dos quais dispunhamos para a 8° série), que foram
consultados s6 no fim da pesquisa, o que nos permitiu
validar nossos resultados e por vezes nuangé-los.
Nao esquegamos que nosso objetivo é identiicar pro-
cessos @ nao caracterizar grupos por varidveis isola-
das, incluidas na andlise quantitativa. Isso nos levou
a enfrentar problemas metodolégicos as vezes delica-
dos. Por exemplo, se um aprendizado 86 é citado por
{garotas, © somente por uma minoria de garotas, pode-
se dizer que se trata de uma “caracteristica’ das ga-
rotas? Tal situagao, dificil de administrar quando se
trabalha em termos de categorias de populagao,
contrario, muito interessante quando se procure cons-
ttuir constelagdes de elementos e identficar proces-
08 “tipico-ideais’.
Finalmente, os inventérios de saber foram objeto
de uma andlise qualitativa em termos de praticas de
linguagem. Analisamos principalmente os géneros de
discurso (inventdrio, descrigao de si, retlexéo geral so-
bre o saber, enumeragao de disciplinas, argumenta-
‘¢40 sobre o interesse dos aprendizatios...), 0s proces-
508 de "modalizacao” (necessidade, possibilidade, cer-
teza, julgamentos de ordem apreciatva...), presenga
‘ou auséncia do sujeito em seu texto etc. Analisar 0
‘que © sujeito faz com a linguagem (do ponto de vista
‘cognitive e social) é uma via de acesso em diregao
a0 saber @ a situagdo escolar (Bautier, 1990).
‘A MOBILIZAGAO NA ESCOLA: A
ESCOLARIDADE COMO HISTORIA
E essencialmente por melo das entrevistas, ancorados
or certas passagens dos inventarios de saber, que
podemos analisar as historias escolares dos jovens.
Sao hist6rias no sentido pleno do termo: elas se cons-
troem através de acontecimentos, encontros, rupturas
@ no se pode saber o final de maneira certa, pois
no se pode conhecé-las de antemao. Entretanto, por
mais imprevisiveis que sojam, tais historias nao const-
‘uem uma permanente improvisagao da singularidade —
‘© que condenaria 0 pesquisador a simplesmente nar-
ré-las, sem jamais poder pensé-las. Elas séo estrutu-
radas através de processos que as tomam inteligiveis,
pensaveis, compardveis. Vamos nos ater, num primei-
To momento, aos processos da mobilizagao na escola.
Se todos os alunos tém uma histéria, nao significa
que ela seja sempre repleta de rumor, de furor, ou,
0 contratio, de triunfos. Alguns, de fato, consideram
a escolaridade como uma espécie de evidéncia, po-
sitva ou negativa. “Nunca tive muitos problemas”,
conta-nos Julien (3A)*. A escola “ndo 6 0 meu negé-
cio, sabe, ndo gosto muito, nunca realmente goste'’,
explica Caroline (3SD). Assim, Julien teve problemas
fem francés mas conseguiu superd-los com a ajuda
dos pais e de seu professor. Caroline talvez tivesse
se saido melhor, acredita ela, se nao tivesse caido
Cad. Pesq,, 1.97, maio 1996
numa classe de “pirados’. A evidéncia foi, de fato,
construida, pré-construida, na familia e confirmada
pela histéria escolar.
Para a grande maioria dos secundaristas essa
histéria € consciente, explicita. Para muitos, ela co-
‘mega na 5* ou na 6 série e nao na escola primaria.
“Na primaria, eu ia bem, tudo se passou muito bem’
essa afirmacao retoma sem cessar, seja nas entre-
vistas ou nos inventarios de saber — quando, na rea-
lidade, a julgar por sua idade ou por aquilo que eles
préprios dizem, um certo numero desses alunos para
quem “tudo ia bem” repetiram no primério.
Algumas histérias
Edith, francesa de origem antilhana, esté na 8* série
na escola de Saint-Denis. Ela nunca repetiu na escola
primaria mas repetiu na 6° série,
De todo modo, tudo comegou na 5* ... No prima-
rio foi tudo bem, néo tive problemas, mas quando
cheguei na 5* série, bom... (..) Fiz muitas boba-
gens quando entrei na 5%... 62... (..) Bom, foi uma
estupidez na 5° — cada idéia que eu tinhal — ir
nas lojas e depois, junto com varios amigos, rou-
bar... qualquer coisa, bobagens... Entéo a gente
repetiv... 0, depois, na 6° parei de fazer bestei-
ras... O8 cursos ndo eram como antes. As minhas
notas subiam e desciam... Sei Id. Eu ndo era tao
interessada quanto antes. Antes, bom, a escola
me dizia qualquer coisa, mas quando cheguei na
5# nao me dizia mais nada (...) Me desencantei
Fatiha, argelina, 6 aluna na 8 série “fraca” de
Massy: "No inicio funcionava. Quando eu estava no
primario ia bem. Minhas médias eram... (..) bastante
boas (...) Mas quando entrei no colégio, ah, sei l4,
foi mais dificil. Além do mais, pirei, sei ld, nao ligava
mais para os cursos.”
Djemila, argelina, filha de um operdrio metalirgico
e de uma dona de casa, 6, de maneira completamen-
te atipica, aluna da 8 série, opgao alemao de Massy.
Ela entrou no 1? ano do segundo grau, depois no 2:
Bom, tudo foi bem até agora. Bom... eu entrei na
escola priméria... fui sempre a primeira da clas-
se... fui bem até a 5#. Na 5° cal numa classe um
pouco bagunceira, entéo mudou um pouco....dei-
xei 05 estudos de lado... (risos). Depois, bom,
como eu tinha um pouco de base, consegui pas-
sar sem problemas. Depois caf numa classe de
6° muito intelectual, se pode dizer assim, na 7°
relaxei 0 ano todo. Comecei a sai... os amigos,
as amigas, uma farra.. Mas esse ano, tento re-
tomar e passar para 0 2° grau.
5 "3A" signica 8% série, opgao alamo de Massy; "SP" remete
43" fraca de Massy © "SSD" as classes do 8 série de Saint
Denis.
Podemos multiplicar os exemplos que mostram
que a escolaridade 6 uma aventura singular. O de
Malika (3SD) que teve a sorte de repetir a 6* numa
classe do filho do diretor. O exemplo de Yussuf (3P),
que, ameacado por seu pai de ser mandado de volta
para a Guiné, opera uma verdadeira conversao esco-
Jar: negocia uma mudanga de colégio, rompe com a
banda de marginais com’a qual andava, joga fora as
Toupas habituais ¢ renova seu guarda-roupa. Qu en-
Go 0 exemplo de Charlotte, hoje na 8* série, opc&o
alemo de Massy, que, na 5%, roubava numa loja com
as amigas. Os processos que estruturam essas his-
t6rias podem ser identificados a partir de trés temas,
que retornam sem cessar no discurso dos jovens.
Estudei/ndo estudei
Pensamos encontrar entre os alunos em dificuldade
uma intetiorizagao do fracasso expressa em termos
de inaptiddes pessoais. Enoontramos as vezes: “infe-
lizmente ndo sou uma luz na escola onde penso gas-
tar a minha vida’, escreveu no seu inventario um alu-
no de Saint-Denis, que entrara no 2 grau. Entretanto,
essa desvalorizacao de si mesmo 6 rara: os alunos
nao se acham nulos, fracos, lentos, mas “preguico-
sos’, “folgados". Quando perguntamos a Hassan (3P),
ue vai repetir de ano, 0 que seu pai pensa dele, res-
onde: “Bom, que eu sou um bom aluno mas que néo
estuder"
‘A relagao com 0 trabalho escolar é um bom di-
ferenciador dos tipos de aluno. Identificamos quatro
grandes tipos. Para os primeiros, estudar & dbvio, e
eles estudam mesmo durante pequenas férias esco-
lares. Para o segundo tipo, o estudo 6 uma conquista,
lum habito que se deve aprender muito cedo e cultivar
dia apés dia. Para o terceiro tipo, 0 mais numeroso,
© estudo 6 uma estratégia: 8 preciso dosar os esfor-
‘gos para “pasar. Hassan explica bem essa estraté-
Gia: “Eu me dizia que 0 conselho de classe de junho
estava longe, © que eu poderia recuperar na 2* ou
na 3! avaliagéo. Quando eu estava no 2° trimestre,
eu me dizia: recupero no 3°. Mas depois eu nao fiz
nada’. Para um titimo tipo de aluno, é tarde demais,
eles esperaram muito, ¢ jé no podem fazer mais,
nada: “Quando nao se entende nada, agora a gente
pensa ‘pronto, acabou’, sei la’.
Os colegas e o ambiente da classe
Um segundo tema retorna frequentemente nos inven-
tétios e nas entrevistas: 0 dos colegas ¢ do ambiente
da classe. Para os alunos, a explicagéo é imediata:
se eles ndo estudam 6 por causa do “ambiente” da
classe e porque eles se deixaram levar pelos colegas.
Como escreve um aluno de 3SD no seu inventario
“As colsas mais importantes para mim sao os estudos
mesmo se nao presto muita atengdo, pois os colegas
de classe tém mais facilidade de nos jogar na merda
do que a gente de sair dela’. Eles ndo procuram jogar
54
a culpa nos outros: 6 também culpa deles, dizem, eles
‘no foram envolvides, eles se deixaram envoiver.
Nao & sempre pelo ambiente da classe que eles
se doixam envolver, as vezes 6 por um(a) ou dois
(duas) colegas. Parece até que eles chegam a repetir
de ano “voluntariamente” para ficar com os colegas
que vao obrigatoriamente repetir. De uma maneira ge-
ral, essas amizades nascidas na escola, em geral
desde 0 primario, se revelam muito fortes e pesam
na histéria escolar.
Mas os amigos que os fazem “afundar’, “pisar na
bola” sao também os de fora da escola. Encontramo-
los sobretudo na histéria de adolescentes em dificul
dades, om geral de procedéncia estrangeira. Esses jo-
vvens distinguem claramente 0 de dentro (a classe) ©
© de fora (a vila) privilegiando 0 de fora, companhei-
ros com os quais eles “andam". Com esses, eles fa-
zem “loucuras” (principalmente pequenos roubos nos
‘supermercados) para ter uma “boa reputagao”
‘A atragdo dos companheiros pesa bastante na di-
ficuldade de estudar, mais do que aquilo que se faz
nna escola, 0 que se aprende, os professores.
Eles falam do medo que tiveram da escola, @ 0
panico que, as vezes, ainda tém. Esse 6 um fenome-
no pouco estudado mas que impregna freqdentemen-
te 0 discurso dos jovens sobre sua escolarizagao. Es-
ses que afirmam ter medo da escola sdo as vezes,
aqueles que, acreditando-se naquilo que contam, agri-
dem, pelo menos verbalmente, os professores. Existe,
sem duvida, nos estabelecimentos escolares de peri-
feria, uma relagao entre 0 medo @ 0 desejo do sair
da norma para mostrar aos outros, aos professores
e... a si mesmos que eles ndo tém medo. Através da
escola, falam também do tédio do cotidiano: “Quero
fugir, cair fora, voar’, diz Fatiha, que explica: “Eles en-
sinam a histéria legal, uma hora, duas horas, trés, té
bom, mas um ano inteiro! Ah... n&o é possivel, no
consigo suportar”.
Gostar do professor, gostar
da matéria
Sobre os professores eles dizem o melhor e o pior.
© mau professor? Ele bate na mesa, explica mal
nunca faz chamada (tanto melhor, mas...), no sabe
aconselhar, ndo é tranqiilo, tem maneiras estranhas,
no se pode falar com ele. Além do mais, ndo tem
autoridade, ou assusta os alunos ou os faz dormir. O
bom professor? "Nao saberia dizer 0 que ¢ um bom
professor, pois ha bons professores que sao de um
Jelto e outros que sfo diferentes" (Ma, 3P). Tentemos,
de todo modo, fazer um perfil: 0 bom professor se es-
forga, explica bem @ repete com paciéncia, provoca
a vontade de estudar, 6 tranqullo, propde passeios.
Ademais, uma frase se repete com frequéncia, sem-
pre da mesma maneira: “ele conversa com a gente’
Acrescentem-se relagdes mais personalizadas de afe-
to reciproco, as vezes, de édio profundo, entre tal pro-
fessor e tal aluno (ou sua familia, pois irmaos e irmas
se sucedem junto aos mesmos professores).
Relagdo com o saber.
Enfim, uma forte correlago aparece entre “gostar
do professor’ e “gostar da matéria’, “Tem ano que eu
adoro matematica, porque eu gosto do professor &
tem ano que nao sei nada porque néo gosto do pro-
fessor." Estudar, compreender, gostar da materia, gos-
tar do professor, ter boas notas, e, para os melhores,
rivalizar com os colegas: essa constelagao mantém a
mobilizago escolar dos alunos, evita que eles se per-
‘cam © dolirem com os amigos. A figura ideal-tipica
que corresponde a essa constelacéo & 0 aluno “sério”
que, por sua vez, se diferencia do “intelectual” (0 ger-
manista de Massy, por exemplo, que nao tem a mes-
ma ‘mentalidade” © as mesmas conversas — néo
fala, por exemplo, de “cursos") e daqueles que saem
muito, que grafitam, ou seja, que frequentam a “mar-
ginalia’. Ser sério significa néo bagungar muito € es-
tudar, dosar seu estudo para “passar’. Se se “pira”
‘com 0s companheiros, corre-se 0 risco de escorregar
pouco a pouco em diregao & marginalia, tendo, no fim,
fa droga, que nao se quer, mas que mesmo assim da
medo, pois aqueles que chegaram Id também no
queriam
Até agora nos interessamos pelos processos ope-
rat6rios do sucesso ou do fracasso — 0 investimento
1no trabalho escolar, 0 afundar junto com os colegas,
‘a mobilizago ou desmobilizagao por causa do pro-
fessor e da “matéria’ —, os quais articulam outros
processos @ também se articulam entre si. Mas a in:
teligibiidade assim produzida é parcial. Por que al
guns alunos estudam e outros nao? Por que alguns
se deixam levar pelos colegas @ outros ndo? E um
problema de origem social? Talvez, possa ser mesmo
isso, ja que existe uma correlagao estatistica entre
essa origem @ 0 sucesso escolar. Mas através de
quais mediagdes a origem social produz seus efeitos?
Por que alguns alunos com a mesma origem © pro-
venientes do mesmo “meio” estudam e outros néo?
MOBILIZAGAO EM RELAGAO A ESCOLA: A
PROFISSAO E O SABER
Os processos de mobilizagaio na escola ndo sdo su:
ficientes para compreender as historias escolares. E
preciso identificar os processos de mobilizagao em re-
lagdo & escola. A mobilizagao na escola 6 investimen-
to no estudo. A mobilizacdo em relagdo a escola é
investimento no préprio fato escolar; implica que se
atribua um sentido ao préptio fato de ir a escola ©
aprender coisas. necessario que o aluno se mobi-
lize em relagdo a escola para que ele se mobilize na
escola? Sim: se um aluno nao vé sentido na escola,
ele nao estudaré e se deixard levar pelos colegas. En-
tretanto, o sentido da escola se constréi também na
propria escola através das atividades que se desen-
volvem. Inversamente, uma crianga que vé sentido na
escola pode ser desmobilizada em fungao daquilo que
vive neta. Que a mobilizagéo na escola depende da
mobilizagao em relagdo & escola (que o investimento
no estudo depende do sentido que 0 aluno da ao fato
de ir & escola) nao significa, portanto, que 0 que
Cad, Pesq., n.97, malo 1996
acontece no exterior da escola determina aquilo que
se passa no interior. Processo de mobilizagéo em re-
lagdo a escola e processo de mobilizagao na escola
funcionam articuladamente,
Certos jovens do colégio de Saint-Denis (cerca de
25%) nao estéio mobilizados em relagao a escola,
mas em relagao a outra coisa. Alguns so absorvidos
por problemas pessoais, principalmente a separagao
dos pais. Outros esperam que o tempo os faga cres-
cor 9, assim, automaticamente, adquirir "sabedoria’
Para esses dois tipos de jovens, a escola néo faz
sentido. Para outros, a escola faz sentido, mas de
maneira tal que esse sentido néo pode propiciar uma
mobilzago em relagdo & escola. Ha 0s que dao sen-
tido apenas pontual a escola: a escola sé thes inte-
ressa para apronder tal coisa, eventuaimente tal dis-
ciplina, Outros, a0 contrério, falam da escola em ter-
mos bastante vagos: aprende-se "um monte de col-
as". Outros ainda reduzem a escola aos companhei-
ros: “Para mim a escola & muito instrutva (
bretudo para se fazer amigos de todas as ragas @ lin-
guas" (38D). Outros ainda desqualificam a escola em
nome da “verdadeira vida’, quer dizer, da vida profis-
sional: "Mas o mais interessante 6 0 que acontece no
exterior da escola. E Id que se aprende a verdadeira
vida porque a escola é legal mas para o que se deve
fazer manualmente ela nao 6 indicada, do meu ponto
de vista” (88D)
Entretanto, para a maioria dos alunos (cerca de
75%), if & escola apresenta muito sentido: ¢ preciso
ir & escola “o maior tempo possivel’, para mais tarde
ter uma “boa profissdo’, portanto, um “bom futuro”,
uma “bela vida" (ou ainda: uma “vida norma’.
Mas todo o problema & saber quais mediagses
eles estabelecem entre escola e esse futuro. Para a
maioria deles (55% do efetivo total), 0 acesso & pro-
fissao esté ligado & simples frequéncia & instituigao
escolar e obediéncia das regras, sem que se evo-
que o conhecimento: para se ter uma boa profisséo,
6 preciso “ir & escola’, “estudar direito” — no sentido
de fazer aquilo que se pede, de estar em dia com a
instituigdo. Para um numero menor doles (20% do efe-
tivo total), 0 acesso A profissdo eslé ligado & aqu
gio de saberes, ou, pelo menos, ao fato de aprender:
6 gragas ao conhecimento adquirido, e nao & simples
observancia das regras e da disciplina da instituicao
escolar, que se pode ter uma boa profissao
‘Assim, para uma grande parte dos estudantes de
Saint-Denis (ou da classe fraca de Massy), a relagao
com a escola néo implica uma relagao com o préprio
saber. Nao se trata para eles de ir a escola para
aprender coisas que Ines permitirdo ter uma boa pro-
fisséo, mas sobreviver 0 mais possivel na instituigao
escolar, 0 que possiblita uma boa profissao. Claro,
uma Sociedade em que predomina 0 assalariado
em que 0 acesso aos empregos depende em grande
medida do nivel escolar alcangado, 6 realista esperar
da escola uma boa profissdo e uma bela vida. Mas
6 preciso que o aluno adquira conhecimento na es-
cola. Ora, ndo apenas muitos alunos nao véem 0 sa-
ber como mediagao entre a escola e a profissao mas
55
acontece de eles oporem a escola como espago de
saber @ a escola como via de acesso a profissa
“Quando fui escola nos primeiros anos, eu néo sa-
bia por que ia, acreditava que estudava para me ins-
truir, para saber ler. Mas, a partir de 9 anos, cor
preendi que eu estudava para ter um bom futuro”
(38D).
Esses jovens que ligam escola @ profissdo sem
referéncia ao saber tém uma relago magica com a
escola e a profissdo. Além disso, sua relagao cotidia-
na com a escola 6 particularmente frdgil na medida
fem que aguilo que se tenta ensinar-ihes na escola
no faz sentido em si mesmo mas somente para um
futuro distante, Essa relagao com a escola, dominante
tem Saint-Denis @ na classe fraca de Massy, est pre-
sente desde 0 primario. Foi justamente num inventério
de um aluno da 3* priméria da Coumeuve (de origem
érabe norte-africana) que encontramos @ expresséo
mais transparente:
Fui para a 1° série, para a 2%, € nao sei como,
por um milagre, cai na 38, com vocé, Remi (nome
do professor). Talvez eu v4 para a 4%, depois para
a 58, 6% 75, depois 8, diploma, universidade @ 0
trabalho, tudo isso, tudo, posso dizer, sem gostar
da escola, mas tudo isso gragas a escola
Nas boas classes fortes de Massy, ao contratio,
particularmente na 8 série, opeao alemao, o saber
esté no centro dos inventarios dos alunos. Claro, eles
também esperam da escola uma boa profissdo, mas
aqui a mediagao pola aquisi¢ao de saber 6 real, to
forte que as vezes ¢ 0 proprio saber que leva a es-
colha da profisséo: “Quando aprendi matematica, foi
to apaixonante que gostaria muito de ser engenheiro
quando crescer’ (5* série, opgao alemao). Para esses
jovens, 0 saber, como tal, realmente faz sentido.
Ele 6 até mesmo 0 principio de organizacao de
seus inventarios. Estes, de fato, s40 com frequéncia
construidos em tomo de uma andlise das disciplinas
escolares. Revendo-as, os alunos desenvolvem um
discurso impessoal, apoiado em principios gerais e
etpassado por comentarios e julzos de valor: as dis-
Giplinas ‘permitem que..”, “ajudam a..”. As disciplinas
J ndo 880, como nos iongos inventarios, frequentes
em Saint-Denis (aprendi matematica, historia, geogra-
fia, ciéncias...), formas institucionais de montage do
tempo escolar mas corpos de saber constituides, que
propiciam beneficios. Alguns chegam a reunir 0 con-
junto das disciplinas em Saber: "Na verdade, ens
nam-nos apenas o bé-a-bé de cada ciéncia ou campo
de conhecimento e cada campo 6 apenas uma pe-
quena parte do ‘saber total” (8A). A relagao com a
escola é entdo uma telagdo com o saber, pois o saber
apresenta um sentido em si mesmo, ele pode ser im-
portante (esta palavra retoma sempre nos seus escri
tos) sem ser ul, e pode mesmo ser importante e int
I "O conhecimento de algumas nordes de matem-
tica, de ciéncias ou de linguas é importante em si,
mas serve pouco no dia-a-dia" (3A).
Para os alunos de Saint-Denis © das classes fra-
cas de Massy, a relagao com a escola é uma relacdo
com a profissao. Para aqueles das classes fortes de
Massy, 6 uma relago com saber, mesmo se con-
56
tinuam olhando para 0 futuro: 0 processo de mobil
zagao dos alunos em relagao a escola nao é 0 mes-
‘mo nos dois casos. Sobre esse importante processo,
bastante diferenciador, se articulam outros processos,
que seria muito longo detalhar aqui. Evocaremos ape-
nas dois, Os alunos de Saint-Denis esperam 0 mo-
mento de terminar a escola para comegarem a “ver-
dadeira vida”. Ao contratio, os alunos das classes for-
tes de Massy “viver’” ja na escola: “Entramos no cur-
so preparatétio, aprendemos a conjugar, que é algo
totalmente novo para nés 6 ai quo comeca a ver-
dadeira ‘vida (7°, opgo alemao). Outro proceso di-
ferenciador: enquanto os alunos de Saint-Denis regu-
lam 0 seu estudo para passar, os de Massy pensam
sua escolaridade em termos de “base” e de progres-
40 no saber (cada dia se aprende um pouco mais).
Entretanto, 6 bom precisar que se trata de pro-
cessos, que sé adquirem pleno sentido articulados em
Conjunto. Um processo isolado raramente faz sentido
em si mesmo e nunca é diferenciador: qualquer que
seja 0 proceso considerado num grupo de alunos,
pode-se sempre encontrar o trago de pelo menos um
aluno pertencente a um outro grupo. E 0 universo de
sentido que diferencia os grupos de alunos @ nao tal
ou tal processo considerado isoladamente. Ademais,
lembremos que a mobilizagéo em relagao a escola
no garante 0 sucesso escolar: 6 prociso que ela se
‘operacionalize, no cotidiano, em mobilizagao na esco-
la, quer dizer, numa histétia escolar em que perma-
nece sempre 0 isco de “se deixar lovar’
A MOBILIZACAO EM RELACAO A ESCOLA: A
DEMANDA FAMILIAR
Por que aprender? Por que estudar na escola? Para
ter uma boa profissao, um bom futuro, uma boa vida:
potencialmente, a grande maioria dos jovens de fami
lias populares estao mobilizados em relacao a escola.
Como eles passam da mobilizacao potencial a mobi-
lizagao efetiva? Com frequéncia pela demanda fami-
liar de sucesso social por intermédio da escola. Por
que aprender? Por que estudar na escola? Para que
meus pais tenham orgulho de mim. A demanda fami
liar funciona entéo como motivo principal da mobiliza-
do © assegura a continuidade no tempo, as vezes,
apesar das vicissitudes da histéria escolar.
© texto abaixo mostra como varios processos se
articulam para engendrar uma forte mobilizagao em
relagao & escola:
Depois eu tive a chance de ir para a escola. Digo
chance porque meus pais no puderam frequen-
tar a escola, 0 que & uma pena, entretanto eu
aprendi muitas coisas com eles, a cozinhar, a ser
educada, a dizer obrigada etc. (..) E agora na ci-
dade tem aqueles que se denomina "margindlia’,
orgulhosos de serem chamados de delinquentos;
eles se drogam na escola. As vezes, é verdade,
6 apenas para se vangloriar, mas hd casos gra-
ves de quem nao consegue se livrar @ so os
Relagao com o saber.
pais que sofrem @ eles néo se do conta. Tive
uma irma que no se deu bem com os estudos,
@ hoje se arrepende, ela fala sempre e isso nos
incita a estudar. Nés vemos os erros que ela co-
meteu, tentamos néo fazé-os, procuramos néo
andar com quem ndo presta (..) Somos quatro a
continuar estudando, minha ima menor faz pri-
Imeiro a tarefa, depois minha irma de 16 anos cor-
rige, depois fazemos eu e minha imma de 16 anos
‘que me ajuda muito pois ola quer que eu va bem
@ quanto a isso estou inteiramente de acordo com
ela, (SD, 6* série, 15 anos, sexo feminino)
Varios processos interagem aqui. Primeiro, a
construgao de um sistema de referéncias: os pais, a
ima maior, “a marginalia’. Notamos que se trata de
referéncias e nao de modelos a seguir. Em segundo
lugar, 0 estimulo dado pelos membros da familia, ex-
plicito ou implicito. Em terceiro lugar, a ajuda técnica
oferecida & jovem, ou seja, a operacionalizacaéo da
demanda, Em quarto, a apropriagao dessa demanda
pela jover: “ela quer que eu v4 bem, e quanto a isso
estou inteiramente de acordo com ela’. A demanda
familiar se torna vontade pessoal de sucesso, mobili-
zagéo em relagao a escola.
Os discursos dos jovens mostram que as familias
populares, inclusive as de imigrantes, dao uma impor-
Yancia real ao sucesso escolar das ctiangas®. Sabe-
mos que essas criangas nao cursam voluntariamente
a escola e que, com frequéncia, suas familias sao
“lecnicamente” despreparadas para ajudar os filhos a
fazer os deveres. Mas 6 a forga de uma demanda ins-
crita na rede das relagdes familiares, mais do que a
ajuda técnica dada pelos pais, que sustenta a mobi-
lizagdo dos jovens em relacdo 4 escola.
E igualmente interessante perceber a diversidade
dos processos de mobilizacdo que as familias uti
zam’. Elas controlam, ajudam, “empurram’ fazendo
explicitamente referéncia ao futuro, ao desemprego,
as dificuldades de vida e de trabalho dos pais. O pro-
cesso, as vezes, se inverte: “os maniacos que pegam
‘as apostilas, que assinam e controlam os deveres’
podem paralisar seus filhos; os pais analfabetos para
‘quem a escola “é o paraiso” impoem uma meta tao
alta que o jovem pode renunciar a alcancé-la. A ati-
tude mais eficaz parece ser a de “ter contianga’, em-
bora vigiando discretamente, @ de ter “orguiho" dos re-
sultados do aluno: essa atitude é evocada pelas crian-
gas de familias populares que obtém sucesso na es-
Cola e polos jovens das classes fortes de Massy. En-
tretanto, podemos inverter 0 raciooinio: 6 mais facil
confiar no jovem e ter orgulho dele quando ele obtém
sucesso do que quando ele fracassa! Mais uma vez,
enhum determinismo pode dar conta dos fatos de
maneira satisfatéria,
Essa diversidade de préticas familiares mostra
que nao é pertinente falar de maneira global das fa-
milias populares ou das familias imigradas, “razéo" do
fracasso escolar. Sem divida, 0 que se passa na fa-
milia nao 6 sem efeito na histéria escolar dos jovens,
mas esses efeitos s6 operam articulados com outros
processos: contribuem para estruturar a historia esco-
Jar dos jovens, mas jamais a determinam. Escutando
Cad, Pesq,, 7.97, maio 1996
08 jovens, vemo-nos também obrigados a tomar dis-
tancia de raciocinios do tipo “categorias socioprofissio-
nais": mals do que com os pais, a mobilizagao escolar
as vezes tem a ver com a itma maior — ela propria
pode ter fracassado nos estudos e por isso pée os
menores em guarda em relago ao que pode acon-
tecer se eles ndo estudarem. E toda a rede de rela-
‘g6es familiares, com as identificagdes que produzem,
as referencias que buscam, que esta em jogo aqui.
Parece que a mobilizacao mais forte se produz
quando © sucesso escolar dos alunos é vivido pelos
pais como a conquista, por outras vias, do projeto de
sucesso que provocou sua propria migragao, e quan-
do as criangas assumem e retomam por sua vez 0
mesmo projeto. Ou seja, a condi¢ao de imigrado pode
ser também fator de sucesso. Mas isso nao acontece,
certamente, sem rupturas culturais, rupturas que re-
querem um sucesso escolar que assegure a continui-
dade do projeto familiar. O sucesso implica entéo que
cada geragdo dé a outra autorizagao para ser dife-
rente, Os processos de mobilizag4o escolar se enrai
zam também no psiquismo, inclusive no inconsciente.
E quanto ao “capital cultural’ transmitido pelos
pais a seus filhos? Essa nogao perde sua pertinéncia
quando se analisam os processos do sucesso e do
fracasso? Os inventérios de saber ¢ as entrevistas
mostram que a impregnagao cultural, a atengao dada
linguagem, 0 projeto explicito de uma transmissao
de conhecimentos @ de valores “cultivados’ nao dei-
xam de ter efeito na relagdo dos jovens com o saber
fe com a escola, Entretanto, esses efeitos so mais
complexos do que geralmente se cré.
Aprendi arte com um grande A indo ver exposi-
‘900s ¢ indo aos cursos de desenho. Eu acho que
tenho cultura e agradego aos meus pais que me
ajudaram bastante. Outras criangas nao tém a
sorte de saber o que eu sei. Penso e acredito que
tenho cultura (claro, néo sei tudo) mas isso nao
quer dizer que eu v4 bem na escola. Para mim
a cultura e aquilo que se aprende na escola nao
6 a mesma coisa.
Sylvie, que escreve essas linhas, parece ter saido
de uma andlise de P. Bourdieu. No entanto, mesmo
estando na 8%, opeao alemao em Massy, ola nao &
uma aluna muito boa, e entrar numa opgdo de 2*
grau menos prestigiada. Djemila, a jovem tunisiana
atipica da 8 série A, também aproveita 0 capital cul-
tural de seu pal: apaixonado por politica, nao perde
nenhum debate na televiséo nem os telejornais e con-
vida Djemila a assist-los com ele. Nao é, sem duvida,
6 Nesse ponto, nosses trabalhos convargom totalmente com os
de J. Oghu (1974, 1978)
7. Lembremos mals uma vez que trabalnamos para identiicar
processes @ no para categorizar grupos, construir uma t=
pologia das formas de mobilzagdo familar. Por um lado,
Ciocinamos em termos de proceso @ no de tpclogia, por
foutto, ndo tratamos aqui da mobilizacao familiar em relagdo
’ escola mas daquio que, na fami, contibul para mobiizar
2 rianga em relagdo escola. Sobre a questio da mobil.
Zzagdo tamiar, ver prinepalmente Zeroulou (1985, 1988) ©
Glasman (1991),
57
por acaso que Djemila aprendeu a ‘refleti” e a “ter
‘sua propria opinido”. Existe ai, com certeza, a trans-
misao de um capital cultural, mas sob uma forma um
pouco diferents daquela que habitualmente se conce-
be a partir desse termo: a mediagdo 6 aqui a paixao
Politica televisiva de um operdrio tunisiano @ nao “a
arte com um grande A”.
Essa transmissao de um capital cultural por im-
pregnagao difusa ¢ um processo que se observa es-
sencialmente nos inventarios © nas entrevistas dos jo-
vens das classes fortes de Massy. Assim, pode-se
Pensar que esse proceso tenha um papel importante
nna exceléncia escolar desse tipo de aluno. Mas nao
se pode esquecer que outros processos de mobiliza-
(940 e de desmobilizacao escolares estdo presentes
has histérias familiares @ escolares das criangas dos
‘meios populares. O erro — cometido com muita fre-
quencia talvez — seria explicar 0 fracasso escolar
dessas criangas pela auséncia daquilo que parece ser
um processo importante de sucesso entre os jovens
de familias favorecidas, E esse erro que leva a pensar
0 fracasso escolar em termos de handicaps.
Nao & em termos de capital cultural que se deve
pensar a histéria cultural dos jovens das familias po-
pulares, mas em termos de capacidade de mobiliza-
g40 em relaggo & escola e na escola. A simetria da
“distingao” td bem descrita por Bourdieu junto aos jo-
vens das familias favorecidas (Bourdieu, 1979) nao é
a auséncia de distinedo, é a forca de vontade que ma-
nifestam muitos jovens de familias populares engaja-
dos numa trajetria de sucesso escolar. “Quero que
meu pai tenha orguiho de mim e farei tudo para que
ele 0 tonha, prometo. Espero tudo da vida! Quero ser
médica ou advogada", escreve uma jovem de origem
&rabe da 6° série de Saint-Denis. Entretanto, mais
uma vez, nenhum processo determina 0 sucesso es-
colar. Assim como a “distingo" de Sylvie, que apre
deu arte com um grande A, no Ihe assegura um bri-
Ihante sucesso escolar, a forga de vontade nao foi su-
ficiente para essa jovem de origem drabe, voltada
ara_a aprendizagem no fim da 8%, que escreveu:
jprendi a querer e a conseguir, quer dizer, quando
‘quero algo faco tudo para ter’. As histérias escolares
‘sd0 historias repletas de encontros e acontecimentos,
fe nenhum processo, nem mesmo a articulagdo de
processos, pode esgotar sua singularidade.
OS PROCESSOS EPISTEMICOS
Para certos jovens, estudar significa se apropriar dos
saberes. Para outros, ao contrdrio, a relagdo com a
escola nao implica relagdo com o saber: estudar sig-
nifica adquirir obrigagdes profissionais de escolar.
Essa diferenga nao nos remete simplesmente a rela-
‘940 com a escola, mas também & relago com 0 pré-
prio saber: aprender nao significa a mesma coisa
para todos. Aos processos que até aqui analisamos
se articulam, entdo, processos epistémicos. Identificd-
38 permitird compreender melhor qual 6, para um jo-
vem, a natureza dessa atividade que se denomina
aprender’. E preciso que essa questdo seja colocada,
58
embora ela seja pouco familiar ao sociélogo. Em pri-
meiro lugar, as andlises anteriores mostraram que 0
termo “estudar’ nao apresenta um senso univoco, ¢
podemos pensar na hipétese de o mesmo acontecer
com o termo “aprender”. Em segundo lugar, seria pa-
radoxal estudar a relagéio com o saber de jovens de
familias populares sem se perguntar 0 que significa
para eles “aprender” — a ndo ser que se suponha
que 0 sentido dessa palavra seja evidente, suposi
que os resultados expostos acima néo permitem fa-
zer, Enfim, a escola, como dissemos, ¢ em primeiro
lugar um local de formagao e de transmissao de sa-
beres: € através da apropriagao mais ou menos vito-
riosa de saberes que se opera uma diferenciacao es-
colar que se revela ser também uma diferenciagao so-
ial; os processos que produzem diferenciagao social
na escola contribuem para construir uma relagao com
© saber, endo somente com a escola.
Propusemo-nos a identificar os processos episté-
micos através de dois tipos de andlise: a dos diferen-
tes tipos de aprendizagem que os alunos evocam nos
‘seus inventérios de saber (andlise quantitativa) e a
das praticas de linguagem que eles mobilizam para
evoca-los (andlise qualitativa).
Partamos dos tipos de aprendizagem evocados
pelos alunos de 8 série nos seus inventérios de sa-
ber.
Os alunos de Saint-Denis citam mais os aprendi-
zados ligados as atividades quotidianas do que os
alunos das classes fortes de Massy: esses aprendi-
zados representam 16% do total em Saint-Denis ¢
4,5% em Massy? (em 5°, respectivamente, 44% @
11%).
Inversamente, os alunos de Massy, mais do que
os de Saint-Denis, evocam os aprendizados intelec-
tuais © escolares: 58% do total para os primeiros,
32% para os segundos. E também interessante o fato
de nao serem citados os mesmos tipos de aprendi-
zados em cada um dos casos.
Tipos do aprondizados intelectuais @ escolares evocados?
‘Saint-Denis Massy
Disciplinas escolares 4% 73%
Aorendizados escolares de base 22% 15%
Aprendizados genéricos © tautoligicos 10% 1%
Aprendizados metodolégicos 10% 2%
Aprendizados normatives 5% 2%
Pensar, relate 19% o%
8 Por ‘Massy’ entondomos aquoles que estio nas classes for-
tes de Massy (uma 8', opgao alemo @ uma boa, opeao in-
ies),
9 Aprendizados escolares da base: ler, escrever, contar. Apren-
‘izados genéricos tautoligicos: na escola, aprendi_ um
‘monte de coisas, tudo 0 que 6 preciso aprender na escola,
(programa... Aprendizados metodolégicos: fazer minhas
(9608, minhas tarefas, me organizar, revisar. Aprendizados
‘hormativos: levantar a mBo, escutar 0 professor...
Relagao com o saber..
Enumerando os nomes das discipinas 45% 20%
Citando 0s conteddos de saber 18% 63%
Evocando eapacidades adqulidas 37% 12%
Para os alunos de Saint-Denis, a escola é um lu-
gar onde se sucedem disciplinas, cujos nomes podem
ser citados mas cujos contetidos nao fazem muito
sentido, pols s’o raramente evocados nos inventarios
de conhecimento. Ai, 0 aluno “aprende” 0 que Ihe di
zemos para aprender, quer dizer, cumpre seu dever,
laprende suas ligdes, “cumpre 0 programa’. A relacao
desses alunos na escola 6 uma relacdo “profissional”
com a situagao escolar mais do que uma relagao cul-
tural e cognitiva com o prdprio saber. Nessa situacao,
© aluno se apropria de seus contetidos, realiza os
aprendizados que Ihe permitem se adaptar a situacéo
@, assim, adquire capacidades, isto 6, capacidades ope-
ratérias como ler—escrever—contat e capacidades
mais espectticas.
Para esses alunos, aprender é se tornar capaz de
0 adaptar as situagdes, de estar em conformidade
com o que tals situagdes exigem, de operacionaliza-
las de modo pertinente, de “se sair o melhor possivel
de qualquer situago", como escreve no seu inventa-
rio um aluno de Saint-Denis. A relagdo desses alunos
‘com 0 saber (que 6, na verdade, uma relagéo com
os aprendizados) é 0 que eles constroem na vida co-
tidiana e levam para a escola, sem ruptura epistemo-
logica. De fato, no espago cotidiano, aprender 6 cons-
ttuir possibiidades de agi, @ a relago com o saber
6 relagdo com as agées possivels nesse espaco. E
com referéncia a agées em situagao que 0 fato de
aprender faz sentido. Dizemos que o Eu permanece
imbricado na situagao. Desde que 0s alunos evocam
sous aprendizados, 0 Eu esta |, no discurso, lavando
a louga, nadando, desenhando, calculando, respeitan-
do. Esse processo de imbricagéo do Eu no aprendi-
zado € tipico-ideal dos alunos de Saint-Denis.
Nas classes fortes de Massy, a0 contrétio, 0 pro-
cosso epistémico tipico-ideal 6 aquele que denomina-
‘mos objetivagéo-denominagdo de um objeto de saber.
Os alunos dessas classes, de fato, so muito centra-
dos nos aprendizados intelectuais ‘¢ escolares; citam
‘com freqléncia as disciplinas escolares quando falam
esses aprendizados e evocam essas disciplinas atra-
vés de contetidos de saber. Aprender é para eles
apropriar-se dos objetos de saber, ter acesso a um
mundo de saber organizado em disciplinas @ no qual
s0 progride a partir de boas bases. Eles exprimem
aprendizados em termos de contetidos de pensamen-
to descontextualizados, de objetos pensdveis em si
mesmos, sem referéncia direta a um Eu em situagdo,
Para eles, aprender 6 saber alguma coisa, construir
um saber enunciavel ou se apropriar dele. Eles man-
tém uma boa relago com 0 Saber e nao simplesmen-
te com os aprendizados. Essa relagdo.com o saber
6 relagdo com um contetdo, com objeto de saber,
Cad, Pesq., 7.97, maio 1996
‘sem nenhuma presenga, nem em potencial, do sujeito
‘que constituiu esse saber. O Eu nao esta implicado
€ imbricado na situagao, ele é espectador e possuidor
de um objeto de saber: por sua vez, 0 ndo-envolvi-
mento do Eu, em face da situagao, torna possivel,
hum mesmo movimento, uma objetivaeao do saber €
uma objetivagdio do sujeito em face do saber.
Um objeto de saber, constituido como tal, pode
ser julgado, comentado, argumentado, toma possivel
que sobre ele se construa um discurso, que se posi-
clone diante dele ou diante desse campo de saber.
Esse discurso sobre 0 objeto de saber nao é somente
posterior constituigéo do saber em objeto, é também
constitutivo do saber em objeto. E, com efeito, a pos-
sibilidade de denominar um saber que Ihe da estatuto
de objeto — assim, falamos de um processo de ob-
Jetivagdo-denominagéo do saber. A linguagem tem
‘aqui um papel fundamental: é ela que da estatuto de
ser ao saber, 6 0 modo de existéncia do saber como
objeto. Ateng4o, nao estamos dizendo que a lingua-
gem constitua 0 saber: 0 saber se constroi através de
uma atividade espeoifica. Estamos dizendo — 0 que
no é absolutamente a mesma coisa — que a lingua-
‘gem constitui o saber em objeto, dé estatuto de objeto
a esse saber que foi construido através de uma ati-
vidade intelectual, permite referir-se ao saber sem se
referir ao mesmo tempo a atividade que 0 construiu.
Seria entdo interessante submeter os resultados
elaborados a partir da andlise quantitativa a uma and-
lise das praticas discursivas e, mais amplamente, pré-
ticas de linguagem, mobilizadas nos inventarios de sa-
ber'
Em Saint-Denis, os inventérios de saber sao com
frequéncia textos curtos, as vezes muito curtos, que
se contentam em dar informagGes, por respostas di-
fetas & questéo colocada. Esses textos descrevem 0
que foi entendido pelo sujeito como agées efetuadas
(aprendi a comer, a andar de bicicleta na cidade...),
‘como tais, sem distanciamento, sem modalizacao,
‘sem posigao metacognitiva ou metalingiistica: encon-
ramos muito poucos adjetivos (a parte a “boa” pro-
fisséio @ a “boa” vida), advérbios, julgamentos, opinides,
‘comentarios, avaliagées... A utiizagao da linguagem 6
inteiramente referencial: as coisas so 0 que sao © a
linguagem as diz como tais. A linguagem é um ins-
‘trumento transparente que permite dizer, ela néo é um
instrumento de apropriagdo e de construgéo simbélica
do mundo, permitindo explicar esse mundo, julgé-lo,
avaliélo, construi-lo, nomed-lo como um objeto colo-
cado a distancia, do qual se pode falar. © Eu perma-
nece imbricado no mundo, ele pode construir agdes
410 Porcentagens calculadas com referéncia 20 conjunto das
‘corréncias quo evacam as discipinas escolares. Sé retoma-
Temos aqui as categorias principals, de maneira que o total
‘ao 6 igual a 100% para Massy. Exemples de capacidades
‘evocadas: me exprimir,redigit, comunicat.
11 Essa andlise de prticas de linguagem foi realizada por El
sabeth Bauter. Para maiores detalhes sobre esse tipo de
andlse, ver Bautior, 1990
59
esse mundo, ele ndo se coloca como sujeito com
uma visao simbélica desse mundo.
Nas classes fortes de Massy, ao contrario, os in-
ventérios de saber sao textos longos, que desenvol-
vem uma argumentagao, com passagens do particular
a0 geral, ¢ inversamente, apresentando comentarios,
opinides, e posicionando 0 aluno no campo de saber.
Os alunos empregam a linguagem nas suas fungdes
metalingijfsticas (comentam o que dizem) e metacog-
nitivas (comentan sua atividade intelectual). “A res-
Posta a frase-modelo parece ser a oportunidade para
Uma reflexo que implica um trabalho de linguagem
cogni¢ao” (Bautier in Charlot et al, 1992). A lingua-
gem 6 utiizada para dizer (dar informagoes), mas
também para fazer algo (tefletit) © para ser (construir
uma identidade). O Eu nao 6 imbricado na situago
de aprendizagem, ele nomeia um objeto de saber, ©,
‘a0 mesmo tempo, ele pode se colocar e nomear a si
mesmo como abjeto de um saber.
A imbricagéo do Eu na situagao @ a objetivagao-
denominagao do saber permitem diterenciar, de modo
ideal-tipico, os alunos de Saint-Denis e os das boas
classes de Massy. Entretanto, 6 preciso igualmente le-
var em conta um terceiro proceso, que aparece so-
bretudo nos inventérios dos bons alunos de familias
Populares, das meninas principalmente: 0 ajuste, 0
distanciamento intelectual © afetivo.
Certos inventérios mostram um verdadeiro traba-
tho de ajuste da vida afetiva e de relagao, que supoe
um distanciamento em relagdo & situagao, aos outros
@ a si mesmo:
Eu dirla que na cidade tive amigos simpaticos. A
gente se ajudava e tomava cuidado uns com os
outros. © que era emocionante para nés, crian-
28, era que tudo o que faziamos, faziamos pela
primeira vez. Agora, vivemos uma outra vida,
crescemos, nos perdemos de vista, nao nos aju-
damos tanto quanto antes, fazemos as coisas so-
Zinhos, ou entao pedimos 4 irma mais velha, pois
sabemos que a relacao 6 sincera, mas com uma
amiga a gente 6 sempre um pouco hipécrita, néo
se pode dizer a verdade, ser franca. (SD, 6%, sexo
feminino)
Na cidade aprendi a me defender, a ver quem eu
era e que eu néo tinha necessidade de ser igual
a outras para aparecer (..) Em casa aprendi a
‘ndo me comporiar como fora pois 6 preciso man-
ter um certo respeito em relago aos pais, em-
ora eu seja nervosa mas acho que isso pode
‘mudar, Fora de casa aprendi a néo contiar nas
aparéncias, pols as vezes puxam o tapete. (SD,
8%, sexo feminino, orientada para 0 2° grau)
Esses textos mostram um trabalho de ajuste da
conauta @ situagao, ajuste que supde que se saiba
perceber a diferenca © representar um papel. Esso
ajuste implica © produz um distanciamento em relacao
a situagao @ uma regulagao da conduta. Em todos os
textos desse tipo, aparece, mais ou menos explicita-
mente, um discurso de generalizacao: sobre 0 tempo,
60
sobre a vida e 0 mundo, sobre si mesmo. O trabalho
de ajuste tende a engendrar uma regra de conduta
ou uma chave de leitura do mundo: aprendi a “co-
nhecer as pessoas”, a “compreender a vide’, a “refle-
tie’ — dizem os jovens.
Esse processo de distanciamento/adequacao pa-
rece se desenvolver no ceme da vida de relapses
essoais © afetivas. O jovem deve interpretar o com-
Portamento dos outros e o seu, encontrar “a distancia
certa", posicionar-se. Odiar ndo é a mesma coisa que
brigar; respeitar nao é simples mente obedecer; ser so-
lidario néo se reduz a ter amigos. Aprender a fran-
queza, a mentira, a confianga, a desconfianca 6 jus-
tamente aprender a encontrar a distancia cerla em ra-
lagdo ao outro — e, portanto, de si mesmo. Para no-
ear esse proceso, pode-se retomar a expresso uti-
lizada por esses mesmos jovens: a escola “me edu-
cou’, dizem. F. Dubet, em La Galére, observa o mes-
mo processo: “a escola nao me serviu para nada, mas
me educou’
© trabalho de adequagao/distanciamento pode
ganhar em reflexividade, se tornar consciente, se in-
telectualizer: o jovem aprende a ‘ter a sua propria opi-
nio”, a “refleti’. Varias garotas de Saint-Denis em si-
tuagao de sucesso (mas também Djemila, a joven tu-
nisiana atipica da 8%, opedo alemao de Massy) nos
disseram, nas entrevistas, que aprender serve para
reflati. Existe nesse caso um processo diferente da
objetivagao-nomeagao do saber: essas jovens nao ci-
tam mais contetidos de saber do que aqueles que es-
tao com dificuldade escolar, elas dizem com frequén-
ia (como Djemila) que “aprenderam 0 que ¢ preciso
aprender na escola’, sem maior especilicagao, mas
ressaltam espontaneamente que aprenderam a refle-
tir. Elas nao constroem um universo especitico de ob-
jetos de saber, como fazem os alunos da 8%, opeao
alemao de Massy, mas colocam o mundo, no qual vi-
vem, como objeto de refiexdo. Talvez seja por isso
que esas alunas, cujos inventarios so bastante pa-
recidos com aqueles escritos por alunos com dificul-
dades, obtém sucesso néo apenas no gindsio mas
também no colégio — permanecendo, entretanto, di-
ferentes daquilo que os jovens chamam de “intelec-
tuais’, alunos que em geral passaréo para o 1° ano
cientitico,
Seja em Saint-Denis ou em Massy, as garotas so
referem mais aos aprendizados afetivos e de relagéo
pessoal do que 0s garotos. Ademais, 6 nos seus in-
ventérios que se percebe mais claramente o trabalho
de ajuste da relagao com os outros e consigo mesmo.
Como interpretar esse “efoito garota"? Pode-se avan-
gar a hipétese de que 0 estatuto dominante das jo-
Vens na nossa sociedade as obriga a desenvolverem
habilidades particulares de relacdes pessoais para se
impor como pessoas auténomas, portadoras de pro-
jetos etc. Na medida em que a competéncia de se
relacionar, adquirida por meio desse trabalho de dis
tanciamento, talvez soja um dos fatores de maior su-
‘cesso escolar das jovens, esse sucesso superior no
Relagao com o saber.
deveria ser atribuido a uma maior dependéncia, como
quer a tese tradicional, tampouco a uma maior auto-
nomia', mas é esse trabalho de distanciamento que
lhes permite se liberarem da dependéncia e de se
construir de modo mais auténomo.
Notemos, além do mais, que nossa pesquisa con
firma uma hipdtese avangada em pesquisas anglo-sa-
xénicas: as diferengas entre classes sociais sao mais
evidentes nos meninos do que nas meninas. Por um.
lado, 08 processos tipico-ideais de Saint-Denis e de
Massy aparecem com mais frequéncia nos rapazes do
que nas mogas, 0 que cria uma maior separacdo en-
tre meninos do que entre meninas; por outro lado, 0
ajuste contribui para aproximar as meninas de Saint-
Denis © as de Massy.
Os processos epistémicos que identiicamos néo
sao, portanto, igualmente distribuidos entre os diferen-
tes grupos de alunos. Esses processos aparecem
como diferenciados entre grupos ou subgrupos de alu-
nos — mesmo que, lembremos mais uma vez, isso
acontega apenas de maneira tipica-ideal. Qual é 0 pa-
pel da escola nessa diferenciagdo? Nossa pesquisa
no nivel das escolas secundarias nao nos permite
dizé-lo. Entretanto, podemos avangar_hipéteses,
apoiados numa outra vertente da pesquisa: aquela
que se refere aos alunos da escola priméria, de La
Coumeuve © de Saint-Denis'®. Repetimos os mesmos
processos na escola priméria: assim, os alunos com
dificuldade “escutam a professora’, enquanto os alu-
nos sem problemas “assistem a aula”. Notamos tam.
bém que a heterogensidade na escola primatia de La
‘Courneuve 6 maior que nas duas escolas secundarias
‘onde realizamos nossa pesquisa: encontramos nas 3
© 4 séries, e mais ainda, na classe de pré-escola,
alunos cujo ‘perfil néo esté muito Ionge daquele dos
alunos das classes fortes de Massy. Tudo se passa,
pois, como se 0 grupo de alunos, heterogéneo no pré-
escolar de La Courneuve, se tornasse em seguida
mais homogéneo, os alunos evoluindo em direcdo ao
idealtipico de Saint-Denis ou ao de Massy. Acrescen-
temos, por fim, que as diferengas epistémicas sao
muito maiores entre os alunos das classes fortes de
Massy @ os alunos de Saint-Denis do que entre os
alunos das classes fortes e fracas de Massy — como
se os secundaristas da classe fraca de Massy, por-
tanto préximos daqueles de Saint-Denis do ponto de
vista de identidade, se beneficiassem, do ponto de vista
epistémico, da “proximidade” das classes fortes. Tais,
constatagdes levam a crer que nas periferias popula-
res a escola aumenta, em vez de reduzir, uma cife-
renciagao inicial que se constréi na familia e no es-
ago social da primeira infancia,
Avangamos a hipétese de que a escola, apoian-
do-se na relagdo com o saber dos alunos das familias
populares, na intengdo de ajudé-los a obter sucesso,
aprisiona-os nessa relagao. Com a sua experiéncia,
08 professores percebem o problema epistémico, mas,
por falta de uma teorizagdo adequada, pensam-no em
termos de ‘abstrato" e “conereto” — quer dizer, numa
problematica ao mesmo tempo sem pertinéncia filos6-
fica e sem eficdcia pedagégica. Eles procuram ensinar
Cad. Pesq,, 1.97, maio 1996
© “conereto” e o “titi”, Por isso, no tem efetivamente
sentido “dar aulas” a alunos para quem “aprender”
no significa adquirir saberes mas se conformar as
‘exigéncias da instituigao escolar. Todavia, a0 contré~
rio, a pedagogia do Uti, e as vezes do projeto, sem
diivida mais eficaz que uma pedagogia magistral com
jovens que esperam que o saber hes “sirva” para al-
uma coisa, leva esses jovens para caminhos errados
@ nao thes permite compreender qual é o sentido do
saber e a especificidade da escola: ndo é 0 ditado
que dé sentido @ gramética, nem as compras no
lagougue que permitem entender a matematica. E a
atividade intelectual que dé sentido a escola, atividade
de construgdo progressiva de um saber que, na sua
fase ultima, objetiva e nomeia esse saber (Bkouche,
Charlot, Fouche, 1991). Assim como (se as boas re-
lagées entre aluno e professor podem ser benéficas)
(© excesso de afetividade instala no jovem a crenga
de que é preciso estudar para agradar 0 professor
‘08 pais, também o desvia, novamente, do acesso a0
saber como significado
‘S80 as praticas insttucionals da escola, as préti-
cas pedagégicas dos professores, as politicas,esco-
lares do Estado que esto aqui em questo. E tam-
bém a democracia: os jovens da periferia tem direito
a esse prazer pelo saber que manifestam os inven-
térios dos alunos germanistas de Massy?
A RELACAO SOCIAL COM 0 SABER
Nés nos propusemos analisar os processos de mobi-
lizagao na escola, os processos de mobilizacao em
relagao a escola © os processos epistémicos. Esses
processos se articulam entre si numa histéria singular
que nunca é vivida por antecipagao. Essas articula-
(Ges manifestam uma coeréncia que permite dar a
elas um sentido, e uma regularidade que nos autoriza
a buscar referéncia nas constelagées tipico-ideais de
grupos ou subgrupos de alunos definidos segundo
suas categorias sociais, sexo ou nivel escolar. Nosso
modelo de andlise nos parece, pois, adequado para
pensar em conjunto a singularidade das histérias es-
colares @ a relacdo entre origem social e sucesso ou
fracasso escolar.
Comegamos nossa pesquisa, e este artigo, a par-
tir de historias singulares. Essa forma de comegar nos
pareceu pertinente no estado atual dos debates so-
‘clolégicos sobre o fracasso escolar. Mas a relagao
‘com 0 saber, em nunca deixar de ser singular, é uma
relagao social com o saber — e é precisamente por-
que € social que pode se manifestar uma correlagéo
entre fracasso escolar e origem social. E, portanto,
por algumas indicagdes sobre o carter social dessa
Felagao com o saber que queremos terminar este ar-
tigo — apoiando-nos sempre nas conclusdes de nos-
‘sa pesquisa
42. Como quor R. Sirota (Sirota, 1988)
13 Esea parte da pesquisa foi realzada por E. Bautior © JY.
Roches.
or
Primeiro, a relagao com 0 saber é uma relagéo
social no sentido que exprime as condigées sociais de
existéncia do individuo, Em Saint-Denis essa relacdo
aparece muito “tensa. As condigdes de vida dificeis
desses jovens, a “dominacéo social”, se exprimem,
concretamente, através de uma espécie de tensao
uotidiana latente, para evitar as armadilhas @ os pas-
sos em falso (da droga aos palavrdes, passando pelo
roubo e pelas mas companhias) e para se diferenciar
dos ‘marginais" ao se respeitar certas normas. A con-
digdo de vida exprime-se também no vinculo estreito
que esses jovens estabelecem entre a escola e a pro-
fissdo. Esse vinoulo exprime para oles a necessidade,
fe também a dificuldade, de ter acesso a uma profis-
‘so que Ihes assegure uma “boa vida’; exprime tam-
bém a esperanga de uma “outra vida’, de uma ‘ver-
dadeira vida’, de uma “vida normal”’com dinheiro,
uma bela casa © um carro, gragas ao sucesso esco-
lar. Essa forte tensdo se manifesta no voluntarismo
dos jovens engajados numa trajetéria de sucesso es-
colar © social.
Nas classes fortes de Massy, ao contrario, a re-
lagéo com 0 saber e com a escola aparece mais “apa-
Ziguada’, mesmo quando os jovens conhecem tam-
bém a angistia escolar. Mesmo quando eles aspiram
igualmente a ter um bom futuro gragas ao sucesso
escolar, esses jovens aproveitam para destrutar do
saber, Sempre insistindo no fato de que é preciso tam-
bém “se divert”. A diferenca das condi¢ses de vida
de Saint-Denis @ de Massy também aparece clara-
mente quando analisamos em detalhe cs aprendiza-
dos de relagées pessoais e afetivas que os alunos re-
ferem: as relagdes de “confito” (aprendi a me defen-
der, a brigar, a raiva, o ciime..) representam 21%
dos aprendizados desse tipo em Saint-Denis e 13%
em Massy; inversamente, as relagdes “de harmonia”
(aprendi a vida em comum, a solidariedade, a amiza-
de, 0 amor, a confianga, a franqueza...) contam res-
pectivamente para 24% @ 35% desses aprendizados.
Em segundo lugar, a relagao com o saber é uma
rolagio social no sentido que no somente as condi-
‘G6es de existéncia desses jovens, mas também suas,
expectativas em face do futuro e da escola, exprimem
as rolag6es sociais que estruturam nossa sociedade.
Ha cingienta anos, os alunos de Saint-Denis néo te-
riam escrito tais textos, pois eles ndo estariam nas es-
colas secundarias naquela época © porque as possi-
bilidades de insergo profissional no dependiam as-
sim 140 estreitamente, para os jovens dos meios po-
pulares, do sucesso escolar — sem esquecer que as
mogas teriam sem duvida falado mais do casamento
do que da profisséo. O vinculo estreito entre sucesso
escolar e insereao profissional, que parece to grande
entre os jovens de Saint-Denis, foi estabelecido pela
sociedade hé trinta anos, por razdes que se referem
a0 conjunto das evolugdes tecnolégicas, econémicas
@ sociais (Charlot, 1987).
Isso no quer dizer que se possa fazer a econo-
mia de uma analise da relagao com 0 saber na sua
singularidade. Se essa relagdo com o saber 36 & in-
teligivel situada outra vez no campo mais amplo das
relagdes sociais, ndo deixa, entretanto, de ser uma re-
lagao singular. Os jovens que se exprimem nos inven
tatios de saber e nas entrevistas conhecem com fre-
qiéncia as mesmas condigdes de existéncia, vivem
nas mesmas relagdes sociais , entretanto, nao tém
todos a mesma relacdo com o saber. As relagdes so-
ciais estruturam a relagéo com 0 saber © com a es-
cola, mas no a determinam.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ALTHUSSER, L. Idéologie et appareils idéologiques tat. La
‘Pensée,n.151, juin 1970. (Resditado em Postions, Pars, Ed
tions Socialas, 1976.)
BARTHEZ, J-C. Do Lihabitus oxpliquant habitus expliqué. So-
iologie du Sud-Est, n.26, oct/dée. 1980.
BAUDELOT, C., ESTABLET, R. L'Ecole capitaste en France.
Paris: Masporo, 1971
BAUTIER, E. Practiques langagiéres, structures sociocognitves
et approntissages diférenciés. Paris, 1990.Those (Dectorat
d Etat), Université Paris V
BEILLEROT, J. et al. Savoir et rapport au savoir. élaborations
théoriques et clniques. Paris: Universitaires, 1989
BERTAUX, D. Histoies do vie ou récits do pratiques: Méthodo-
logie de Fapproche biographique en sociologi. Cordes, n.23,
1974.
BKOUCHE, R., CHARLOT, B., ROUCHE, N. Faire des mathé-
‘matiques: Ie plaisir du sone. Pavis: Armand Colin, 1994
BOUDON, R. L'indgalté des chances: la mobiité sociale dans
les sociétés industrielles. Paris: Arman Colin, 1973,
BOURDIEU, P. La Distinction. Paris: Minuit, 1979.
Esquisse dune théorle do la pratique. Geneve: Droz,
7978.
2
BOUADIEU, P., PASSERON, J-C. La Reproduction. Paris: Mi
‘uit, 1970,
BOWLES, S,, GINTIS, H. Schooling in capitalist America. New
York: Basic Books, 1976.
CHARLOT, B. L'Ecole en mutaton. Pris: Payot, 1987
LVEthnographie de cole dans les travaux britanniques,
Practiques de formation, 0.18, déc. 1989.
Je seral ouvrier comme papa, alors & quoi game sert
apprendre? Echec scolaire, démarche pédagogique et rap
port social au savoir. In; GFEN. Quelles practiques pour une
‘autre école? Paris: Gasterman, 1982.
CHARLOT, B. et al. Rapport au savoir et rapport & Fécole dans
les zones d'éducation priostaires. 1992. (Rapport pour le
Fonds d'Action Sociale et la Direction de la Population et des
Migrations, ESCOL, Département de Sciences de Education
Université Paris 8.)
DELAMONT, 8. Interaction in the classroom. Londres: Methuen,
1983,
DEROUET, J.-L. Désaccords ot arrangements dans les colliges:
‘eléments pour une sociologie des établissements scolaires.
Reve Frangaise de Pédagogie, r.83, avr. juin 1986.
Relagao com o saber..
DEROUET, J-L. Ecole et justice: éléments pour une théore po-
HHigue du monde scolaire, Pars, 1981. Thése (Doctoral
Etat) EHESS
DUBET, F. La Galére: jounas en survie. Paris: Fayard, 1987.
____. Les Lyeéens. Pars: Seul, 1991
DURU-BELLAT, M. Lo Fonctionnament de roriontation. génése
des inégalités sociales A Iécole, Neuchatel: Dolachaux et
ists, 1988.
DURU-BELLAT, M, MINGAT, A. Le dérouloment de Ia scolarté
‘au colldge: je context fait des differences. Revue Francaise
de Sociologia, v.29, 1988.
FORQUIN, J.-C, Eoole et culture: a point de vue das sociolo-
ues britanniques. Bruxelles: De Boeck, 1989.
GLASER, B., STRAUSS, A. The Discovery of grounded theory
Chicago: Aldine, 1967.
GLASMAN, D. Les Familos “défavorisées" face a éco\e. Paris,
1991, mimeo. (Communication au Congr’s Intemational de
acherches en Education Famille.)
GROSBOIS, M., RICCO, G., SIROTA, R. Le Parcours du savoir
dans la chaine de transposiion didactique: a propos de la res
Piration, Paris: CNRS, 1988. (GRECO Didactique et acquisl-
tion des connaissances sciantfiques.)
ISAMBERT-JAMATI, V. Les Savoirs scolaires: enjeux sociaux
‘des contonus d'enseignement et de urs rélormes. Paris: Uni-
versitaires, 1990.
LEGER, A, TRIPIER, M. Fur ou construire I
Pals: Matidiens-Kilncksleck, 1986,
LEONTIEV, A. Actité, conscience, personnalié. Moscou: Edi-
tions du Progrés, 1984,
ale populaire?
(OGBU, J. Minority Education and Caste. Londres: Academic
Press, 1978.
The Next generation, An ethnography of education in
‘an urban neighborhood. Londres: Academic Pross, 1974,
ROCHEX, JY. Entra activité et subjectvité le sens do Véxpé-
rience scolaire. Paris, 1992. Those (Doctorat en Sciences de
Education) Université Paris 8
SIROTA, R. L'Eoole primaire au quotdien. Paris: PUF, 1988.
STRAUSS, A. Quallative analysis for social scientists, Cambric
(ge: Cambridge University Press, 1987.
TANGUY. L. Las Savolrs ensoignés aux futurs ouwiars. Socio-
logie du Travail, n3, 1983.
__.. Savois et rapports sociaux dans Fenseignement secon-
aire en France. Revue Francaise de Sociologie, v.24, 1983a,
TERRAIL, J.-P. Destins ouvriers: la fin d'une classe? Paris: PUF,
1990.
Familes ouvtbres, école, destin social. Revue Fran
0 do Sociologie,n. 3, v. 25, 1984.
VYGOTSKY, L. S. Ponsée ot langage. Pars: Extions Sociales,
Messidor, 1985.
WILLIS, P. Leaming to labour. Londres: Saxon House, 1977.
WOODS, P. The Divided school. Londres: Routledge and Kegan
aul, 1979.
‘ZEROULOU, Z. Mobilsations familiales et conditions de scolar
‘salion des enfants: le cas, de immigration algérienne. Pari,
1885. Thse (Doctorat) 3**° cycle en Sociologie. Université
Lite |
La réussite scolaire des enfants immigrés: Fappor dune
‘approche en termes de mobilisation. Revue Frangalse de So-
clologia, v.23, 1988.
Cad. Pesq., n.97, maio 1996
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- João Ubaldo - Memória de LivrosDocument2 pagesJoão Ubaldo - Memória de LivrosDya ArnNo ratings yet
- Modelo de Fichamento DetalhadoDocument2 pagesModelo de Fichamento DetalhadoDya ArnNo ratings yet
- Semiótica Psicoanalitica e Literatura Analise de Deslumbramento de Marguerite DurasDocument11 pagesSemiótica Psicoanalitica e Literatura Analise de Deslumbramento de Marguerite DurasDya ArnNo ratings yet
- Programa Cultura Armênia IDocument8 pagesPrograma Cultura Armênia IDya ArnNo ratings yet
- Doris Sommer - Pelo Amor e Pela PátriaDocument14 pagesDoris Sommer - Pelo Amor e Pela PátriaDya Arn100% (1)
- I Quaderni Di Antonio Tabucchi e Il Cant PDFDocument52 pagesI Quaderni Di Antonio Tabucchi e Il Cant PDFDya Arn100% (1)
- A Menina Morta PDFDocument232 pagesA Menina Morta PDFDya ArnNo ratings yet
- Complexidade Urbana e Enredo Romanesco - Steven JohnsonDocument22 pagesComplexidade Urbana e Enredo Romanesco - Steven JohnsonDya Arn100% (2)
- Corpo Insurrecto - Luiza Neto JorgeDocument6 pagesCorpo Insurrecto - Luiza Neto JorgeDya ArnNo ratings yet
- A Menina Morta - Cornélio PennaDocument232 pagesA Menina Morta - Cornélio PennaDya Arn0% (1)
- Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi y Sostiene Pereira de Roberto Faenza: Literatura y CineDocument16 pagesSostiene Pereira de Antonio Tabucchi y Sostiene Pereira de Roberto Faenza: Literatura y CineDya ArnNo ratings yet
- Brás Cubas em Três Versões - Alfredo Bosi PDFDocument39 pagesBrás Cubas em Três Versões - Alfredo Bosi PDFDya ArnNo ratings yet